A historiografia sobre as artes e ofícios de curar no Brasil vem mostrando cada vez mais a importância dessa temática para os diferentes contextos históricos por ela estudados. Questões relacionadas à cura e às doenças de um povo, bem como os debates gerados em torno delas, são capazes de moldar o cotidiano de uma determinada sociedade e definir seus rumos. É o caso de episódios históricos marcantes, como o combate à febre amarela no Brasil, em meados do século XIX, a Revolta da Vacina, no início do XX, entre outros momentos em que as doenças determinaram, em alguma medida, os rumos políticos e sociorraciais do Brasil3.
Entender essa temática também implica compreender os agentes envolvidos nela. As diferentes formas de cura envolviam, desde há muito tempo, não apenas a figura do médico reconhecido oficialmente, mas também sangradores, feiticeiros, curandeiros, boticários, barbeiros, pais de santo, entre tantos outros que faziam parte do amálgama das artes de curar desde o Brasil colonial até o pós-abolição4. A figura do doente/“paciente” também é fundamental nessa dinâmica. É a partir dele e de sua autonomia que podemos entender como a medicina oficial nem sempre esteve posta como primeira opção quando o assunto era a quem recorrer em caso de doença. É nesse sentido que Rafael Rosa da Rocha nos apresenta em seu instigante livro a trajetória e atuação muito peculiares do curandeiro Faustino Ribeiro Júnior, também conhecido como Doutor Bota-Mão, com o intuito de refletir sobre a questão da repressão às práticas de cura não oficiais no Brasil republicano.
O autor nos transporta para um mundo em que é possível visualizar a dinâmica entre crença, política e ciência por meio de um curandeiro nada típico para os fins do século XIX e início do XX. Faustino foi um homem branco, nascido no estado de São Paulo e filho de juiz, que ficou conhecido como o curandeiro que fazia suas “curas miraculosas” pela imposição das mãos. Teve uma passagem conturbada pela Bahia no limiar do século XX, tendo, nesse período, se relacionado e conflitado com pessoas influentes do estado, como o governador Severino Vieira e o médico e inspetor geral de Higiene Antônio Pacífico Pereira. Trata-se de uma personagem que ficou muito conhecida nos jornais da época, chegando, inclusive, a ser denunciada por prática ilegal de medicina, atividade que passava a ser crime de acordo com o Código Penal Republicano de 1890.
Buscando compreender em que direção caminhava o pensamento jurídico e médico em relação às práticas de cura não oficiais, Rafael Rocha, por meio da trajetória de Faustino, nos introduz, assim, ao contexto baiano de repressão ao exercício ilegal da medicina. Para alcançar tal objetivo, o historiador recorreu a uma variada documentação, passando pelos jornais que repercutiram uma série de falas sobre a atuação de Faustino, atribuindo-lhe as alcunhas de teósofo, discípulo de Mesmer e Doutor Bota-Mão, chegando, finalmente, ao processo criminal sobre exercício ilegal de medicina, pleiteado pela Inspeção de Higiene contra o curandeiro.
As questões relacionadas à saúde pública estavam cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade das últimas décadas do século XIX, visto que existia a noção, entre as autoridades médicas e jurídicas, de que havia um caminho rumo à civilização e ao “aperfeiçoamento moral” a ser buscado5. A ideologia da higiene surge, nesse sentido, como um conjunto de princípios que, por meio da noção de civilização, solucionaria os problemas urbanos através de uma despolitização das formas de gerir as cidades. Assim, a sociedade passou a ser enxergada pelos “homens de ciência” como um laboratório, cabendo a eles, e à higiene pública, sanar seus problemas e conflitos de forma “neutra” e “científica”.6
Falamos, aqui, de uma sociedade marcada por um intenso processo de racialização, que também foi refletido nas diferentes formas de cura não reconhecidas pelas autoridades da Faculdade de Medicina da Bahia. Rafael Rosa da Rocha nos mostra que, quando Faustino aportou em Salvador, em 1903, os candomblés sofreram uma intensa repressão. As práticas ocorridas nessa religião eram consideradas, por médicos como Nina Rodrigues, feitiçaria, o que legitimava ainda mais as batidas da polícia àqueles terreiros. Foi assim, nesse cenário hostil, que o Doutor Bota-Mão se estabeleceu e buscou se desvincular das práticas de cura africanizadas, vistas, à época, como incivilizadas e bárbaras. No entanto, mesmo sendo branco, filho de juiz paulista e homem, Faustino não conseguiu se livrar dos conflitos com o judiciário e autoridades médicas e políticas. Rafael Rocha aborda toda essa trama a partir do debate público nos jornais sobre as práticas dessa personagem, passando pela sua passagem ao interior da Bahia e os conflitos envolvendo-o e envolvendo a Inspetoria de Higiene.
No primeiro capítulo, por meio dos jornais da época, o autor discute as imagens construídas em torno de Faustino pela sociedade baiana e por ele próprio. Apresentando-nos uma Salvador que vivia assolada pelas memórias das epidemias da segunda metade do século XIX, Rafael Rocha usa a figura de Faustino e suas andanças pelos estados brasileiros para mostrar como tais eventos poderiam desestruturar costumes e hábitos e modificar o entendimento e a forma de lidar daquela sociedade com a morte, doenças e a cura. Assim, a prática curativa desse homem começou a se popularizar como uma alternativa à medicina oficial e como um indicativo da fragilidade dos seus serviços, fazendo com que a discussão feita pela imprensa baiana a esse respeito refletisse a importância dessa personagem para o entendimento dos debates em torno da posse das artes de curar, a repressão feita aos curandeiros pela Inspetoria de Higiene Pública, bem como todo o jogo político baiano. Rocha aponta como os jornais baianos lucraram com a presença do Doutor Bota-Mão e como sua figura foi utilizada como instrumento de ataque contra o governo de Luiz Viana (1846-1920).
No que se refere aos embates entre Faustino e Pacífico Pereira, é possível ver, por meio também de debates públicos nos periódicos, que existia, de fato, uma tensão entre o curandeiro e o poder público. Diante do esforço de Pacífico Pereira pela eliminação das práticas de “magia”, Faustino se colocava frente ao inspetor numa posição de autodefesa, julgando-se consciente de que não infringiu a lei ao praticar suas “curas miraculosas”, chegando, inclusive, a apresentar uma queixa por injúria ao influente médico. Dessa forma, Rafael Rocha aponta como Faustino lançou mão de mais uma arma - a jurídica - para continuar exercendo seu ofício de curador.
Já no segundo capítulo, o autor adentra mais profundamente nas práticas curativas do “Mago Fausto”, vislumbrando como a Inspetoria de Higiene encarava o exercício de Faustino e quais as alternativas utilizadas por ele para fugir de determinados rótulos e estereótipos. Dialogando com autores importantes sobre a temática da cura, como Nikelen Acosta Witter, o autor põe em evidência a autonomia dos doentes, mostrando que a saúde e a doença eram fontes de preocupações cotidianas e não apenas de eventos epidêmicos. Apesar de esses eventos terem feito parte do contexto abordado no livro, Rocha aponta que eles não necessariamente determinavam a recorrência dos doentes a curandeiros como o professor Faustino Ribeiro.
Outro aspecto importante que convivia lado a lado no combate cotidiano às doenças, era a cura pelas crenças religiosas. Faustino torna-se, nesse sentido, um excelente meio pelo qual o autor consegue estabelecer o panorama de um período em que os doentes, diante do medo e da ineficácia de muitos hospitais, procuravam alternativas que dialogassem com suas respectivas realidades, como era o caso, em muitas dessas situações, da recorrência a feiticeiros e curandeiros. A prática da imposição das mãos, processo curativo de Faustino, causou forte alarde na Inspetoria de Higiene, que se dedicou a investigar suas técnicas de cura. Esse processo também chamou atenção da imprensa, como é o caso do jornal Diário de Notícias, que procurou levar seus leitores a refletirem sobre a prática de cura de Faustino a partir de uma perspectiva barbarizante, visão essa que se substantificou na inspeção da higiene feita enquanto o curandeiro realizava suas curas com a imposição das mãos.
Tais observações eram feitas dentro da lógica científica, deslegitimando as tradições e experiências de cura da população soteropolitana a partir da religião, dos seus banhos de folhas, chás e rezas curativas. Neste capítulo, Rafael Rocha também propõe uma outra leitura para os poderes curativos do Mago Fausto a partir da influência do espiritismo. Diante das fontes da época, que enquadravam os poderes curativos de Faustino como advindos do espiritismo, e do diálogo com uma bibliografia especializada sobre o tema, como os trabalhos de Beatriz Teixeira Weber, Eduardo Giumbelli e Célia Arribas, o historiador consegue destrinchar as influências espíritas no processo curativo de Faustino - ainda que este as negassem - a partir de um contexto brasileiro em que múltiplas correntes de pensamento invadiam a “intelectualidade nacional”, como o positivismo, o evolucionismo e o darwinismo social. O espiritismo, nesse sentido, foi, por elas, reelaborado e apropriado de diferentes formas, a fim de atender a interesses e demandas de cada contexto e sociedade7. Com a Bahia não podia ser diferente.
Outro ponto que vale ser destacado nesse capítulo é a aproximação de Faustino com religiosos católicos. Rafael Rocha provoca o leitor com várias hipóteses interessantes a esse respeito, que vão de uma tentativa de afastamento das práticas de cura africanizadas - numa sociedade que via as religiões de matriz africana como incivilizadas e degeneradas - a uma forma de se proteger do aparato policial e da Inspeção de Higiene. A trajetória do Doutor Bota-Mão enquanto curandeiro se torna, dessa forma, bastante conflituosa, tendo ele passado por várias cidades do interior da Bahia a fim de popularizar suas curas e estender suas redes de sociabilidade.
No terceiro e último capítulo, Rafael Rocha discute, entre outros aspectos, a tentativa da expansão da rede de solidariedade e da clientela do curandeiro, mostrando como isso contribuiu para a luta de Faustino com a justiça. O autor nos guia pelos lugares que o curandeiro passou, mostrando como tais viagens não estavam agradando as autoridades médicas de Salvador. Cachoeira, Nazaré das Farinhas e Alagoinhas foram algumas das cidades nas quais ele alcançou prestígio, o que também reverberou nos periódicos da época. A fama do professor Faustino lhe custou a acusação de exercício ilegal da medicina, fazendo com que ele buscasse ampliar e fortalecer sua imagem diante da sociedade de Salvador, pretendendo, assim, mostrar que seu processo curativo não se enquadrava como uma prática ilegal, da qual faziam parte os feiticeiros e curandeiros associados às práticas de cura africanizadas.
Nesse capítulo, Rafael Rocha nos mostra as artimanhas do Doutor Bota-Mão na busca pela liberdade profissional e contra a hostilidade da Inspeção de Higiene, além de evidenciar um ponto importante para compreender a posição da figura de Faustino na arte de curar do pós-abolição: ser um homem branco, filho de juiz paulista e professor formado pela Escola Normal de São Paulo que praticava uma arte curativa europeizada. Esses elementos confundiam a elite médica e jurídica do período que, segundo o autor, viam apenas nas práticas culturais e religiosas africanas os aspectos que deveriam ganhar ares de civilidade. Mesmo com todos esses privilégios, essa personagem foi processada e proibida de curar.
A questão central apontada por Rafael Rocha nesse capítulo é que a perseguição enfrentada por Faustino foi causada muito mais por fazer com que o povo reforçasse suas tradições - que, na maioria das vezes, estavam atreladas às tradições africanas - do que realizar suas curas com a imposição das mãos. Como ele mesmo diz: “O professor foi perseguido por fazer com que as pessoas buscassem alternativas próprias, espaços de autonomia, longe do controle dos médicos”8.
Para concluir, é importante destacar alguns aspectos no livro que, se exploradas através do cruzamento com outras fontes, poderiam esclarecer melhor o entendimento de um leitor leigo sobre o tema. Embora o autor mencione as percepções sobre curandeirismo e a prática ilegal da medicina, focando em Pacífico Pereira, uma análise adicional, como as teses da Faculdade de Medicina da Bahia e casos de charlatanismo envolvendo outros médicos, poderia complementar e aprofundar a compreensão dos debates sobre o exercício ilegal da medicina e as incongruências entre os próprios médicos.
Essas observações não desmerecem em nada o trabalho sólido que deu origem a este livro. Trata-se de uma produção que suscita muitas questões e que se coloca como mais uma janela para se entender os múltiplos acontecimentos, personagens e disputas na Bahia do pós-abolição. Fruto de um rico trabalho de pesquisa e de uma rigorosa análise de fontes e bibliografia especializada no tema, a publicação não perde nenhum detalhe do caso do curandeiro Faustino Ribeiro. O livro se apresenta com uma verdadeira obra de história social, que, escrito de forma dinâmica e instigante, exige do leitor uma leitura atenta diante de tantos detalhes e aventuras de um curandeiro nada típico do limiar do século XX na Bahia.
Bibliografia
- BERTUCCI, Liane Maria. Remédios, charlatanices... e curandeirices: práticas de cura no período da gripe espanhola em São Paulo. In: CHALHOUB, Sidney, et al. (org.). Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, pp. 101-123.
- CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. 2ª edição - São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
-
PORTER, Roy. The Patient’s view: doing Medical History from below. Theory and Society, Vol. 14, No. 2, 1985, pp. 175-198. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/657089 Acesso em: 20 abr. 2023.
» http://www.jstor.org/stable/657089 -
QUEIROZ, Vanessa de Jesus. “Profetas do mau agouro”?: higiene pública na Gazeta Medica da Bahia (1866-1870). 2018. 226 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em:https://repositorio.unb.br/handle/10482/32894
» https://repositorio.unb.br/handle/10482/32894 - ROCHA, Rafael Rosa. Professor Faustino, o Doutor Bota-Mão: um curandeiro na Bahia no limiar do século XX. Salvador: EDUFBA, 2023.
- SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial. Campinas, SP - Editora da Unicamp, Cecult, IFCH, 2001.
- SAMPAIO, Gabriela; ALBUQUERQUE, Wlamyra. De que lado você samba? Raça, política e ciência na Bahia do pós-abolição. Campinas: Editora Unicamp, 2021. (coleção Históri@ Illustrada). e-book, 791p.
- SEVCENKO, Nicolau. A revolta da Vacina: Mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Editora Unesp, 2018.
- WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar: Medicina, Religião, Magia e Positivismo na República Rio-Grandense - 1889-1928. Santa Maria: Ed. da UFSM; Bauru: EDUSC - Editora da Universidade do Sagrado Coração, 1999.
- WITTER, Males e Epidemias: sofredores, governantes e curadores no sul do Brasil (Rio Grande do Sul, século XIX). Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007.
-
3
Chalhoub, 2017; Sevcenko, 1984.
-
4
Ver, entre outros autores: Sampaio, 2001; Weber, 1999; Porter, 1985; Witter 2007; Bertucci, 2003.
-
5
Sampaio, 2001.
-
6
Chalhoub, 2017; Sampaio e Albuquerque, 2021. Sobre a ideologia da higiene, ver também: Queiroz, 2018.
-
7
Rocha, 2023, p. 89.
-
8
Rocha, 2023, p. 124.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
18 Jul 2024 -
Aceito
15 Ago 2024
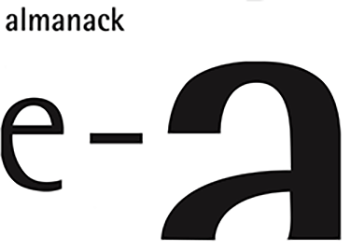
 EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, CURANDEIRISMO E RELIGIÃO: O MAGO FAUSTO NO INÍCIO DO SÉCULO XX NA BAHIA
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, CURANDEIRISMO E RELIGIÃO: O MAGO FAUSTO NO INÍCIO DO SÉCULO XX NA BAHIA