É bastante conhecida a formulação de Oliveira Lima segundo a qual a independência representou sobretudo “desquite amigável”, embora, como ele mesmo reconhece, em toda separação subsistam algumas rusgas. Tal formulação, proposta à época do centenário da emancipação política, baseava-se em método que, então, o historiador pernambucano era um dos poucos, senão o único, a manejar: o comparativo. Assim, pois, confrontada com o fervor anímico das ex-colônias espanholas, a independência do vasto conjunto do que outrora fora a América Portuguesa, encarnando perfeitamente o marasmo e o tédio historiográficos, parecia morna e reduzida à análise de enredos palacianos. Bem antes disso, no entanto, debates em torno do caráter ora pacífico ora turbulento do povo brasileiro haviam sido inaugurados na complexa e tumultuada fase das regências, quando a unidade se viu amiúde ameaçada por rebeliões, revoluções e separatismos de toda sorte e de todos os matizes políticos. Naquele contexto, Cipriano Barata de Almeida defendeu que a índole do brasileiro era turbulenta, marcada pela indignação, sujeita, pois, à insubmissão, à revolta. O termo “docilidade”, conforme Barata, “aplicado hoje aos Brasileiros”, na verdade “quer dizer estólido, ou tolo; homem que se contenta com tudo”. O ponto de vista oposto era defendido por Diogo Antônio Feijó, à época ministro da justiça e, como Barata, periodiqueiro. Para Feijó, ao contrário, o brasileiro era ordeiro e submisso por excelência: “o brasileiro não foi feito para a desordem”, uma vez que “seu natural é o da tranquilidade”. Contudo, Feijó se viu confrontado com sua própria afirmação quando, em inícios da década de 1840, liderou revolução contra o regresso conservador em sua pátria local, isto é, a Província de São Paulo. Alternavam-se, portanto, atiradores de pedras e aqueles a quem cabia pugnar pela inviolabilidade do telhado. Inserindo-se nesse antigo debate, e confrontando a perspectiva conservadora, a da docilidade e da submissão, a coletânea organizada por Machado e Guerra Filho procurou reunir pesquisadores dispostos a mostrar que, no contexto da independência, havia, como diz o título da obra, “guerras por toda parte”.
O ensaio introdutório escrito pelos organizadores acena para aspectos que, bem ou mal, acabam se configurando nos capítulos que compilaram. Em primeiro lugar, o deslocamento da perspectiva das elites para a dos escravos - que são alcunhados, como sói a moda atual, “escravizados”, o que acaba por reduzir ou negar o caráter relacional da escravidão -, libertos, indígenas, “homens brancos pobres” e outros grupos sociais do nível mais baixo. Em segundo lugar, investe-se na diversidade de projetos políticos que confrontavam o modelo unitário baseado na monarquia constitucional, bem como nas diferentes percepções de grupos sociais e indivíduos situados em distintas sociedades da América Portuguesa, do extremo sul ao extremo norte, tornando, assim, meramente marginal a oposição entre metrópole e colônia - tão central e, por vezes, tão imaginária, tão ilusória, no caso das sociedades hispano-americanas. Destaque-se, ademais, a preocupação assinalada na introdução de emparelhar o processo de construção do Estado e da nação no Brasil com processos similares em curso na bacia do Atlântico por aqueles anos. Se em todos esses processos situados alhures e compreendidos sob o selo da “era das revoluções” a guerra e a violência constituíram práticas incontornáveis para a construção de novos Estados e de novas nações, por que o Brasil seria distinto? Afinal, aqui, o “horizonte de expectativas” - ou “de futuro”, categoria que, na obra, é repetida à exaustão - não poderia distar daqueles apreendidos em escala atlântica, vis-à-vis a formas violentas de dar-lhe consecução.
Ao meu ver, porém, em face desse desafio historiográfico, o conjunto de textos ficou mormente na intenção: muitas das premissas, ou das promessas, oferecidas na introdução não se realizam plenamente nos capítulos que se seguem. Não se logrou, enfim, demonstrar o que o título vistoso parece sugerir: as tais guerras por toda parte, embora tenham existido, tenho certeza, não se manifestam com veemência nas análises dadas a ler. Adiante, notadamente ao final, assinalo alguns senões que tolheram a plena execução e demonstração daquilo que a coletânea se propunha a trazer ao público - isto é, as tais “guerras por toda parte”. O capítulo assinado por Adriana B. de Souza nos revela tensões que, no Rio de Janeiro, opuseram constitucionalistas e absolutistas, defensores das cortes portuguesas e do “partido brasileiro”. Seu mérito consiste em mostrar como cada ação levada a efeito por grupos e indivíduos em disputa, incluindo D. João e D. Pedro, teve como pressuposto a arregimentação de militares, de milicianos e, no limite, de pessoas dos níveis mais alto e mais baixo da sociedade carioca de modo a se impor vontades e estratégias políticas. Outro mérito importante foi tentar esboçar um quadro da estrutura militar do Rio de Janeiro ao longo do primeiro reinado - tarefa que, como bem sabe o pesquisador do período, revela-se bastante árdua, considerando as indefinições institucionais do Estado nascente e as fontes disponíveis. Essas, aliás, constituídas sobretudo por jornais, procuram dar conta dos “tensionamentos” que, aqui e ali, empurravam certos partidos para o confronto bélico - que, com exceção do massacre perpetrado a mando de D. João contra defensores do constitucionalismo em abril de 1821, jamais tomou forma efetiva. Por sua vez, o ensaio sobre a Bahia, escrito por Maria A. S. de Souza, propõe exame de conjunto dos enfrentamentos que, mediante sucessivas deambulações pelo recôncavo baiano, opuseram defensores do constitucionalismo português e apoiadores do príncipe, liberais e conservadores, ao longo da guerra de independência mais afamada da época. Conferiu-se ênfase particular à capacidade de cada grupo específico de arregimentar africanos e afrodescendentes livres, libertos e escravos para o combate, bem como aos temores em torno de suas ações e representações mentais como decorrência de sua posição social marginal. A análise de confrontos bélicos entre forças mercenárias enviadas por D. Pedro, tropas portuguesas e fiéis às cortes e hostes liberais radicais da província baiana, todas elas recheadas por diferentes demandas de recrutamento de escravos e libertos, deixou, contudo, a desejar. O capítulo de autoria de Karina M. R. da S. e Melo, cuja temporalidade se reduz à década de 1810, dedica-se mais a tensões envolvendo as Províncias Unidas do Rio da Prata e as regiões da Banda Oriental dominadas por Artigas do que à independência brasileira propriamente dita; seu foco são grupos sociais identificados como indígenas que viviam na fronteira e que, então, foram arregimentados para servir a um e outro lado nos conflitos. No que toca ao Brasil, a análise se restringe ao exame de documentos que traduzem percepções de elites gaúchas em torno de projetos políticos e confrontos reais ou imaginários entre as forças bonaerenses, artiguistas e indígenas e suas possíveis influências na porosidade fronteiriça do Reino Unido. Por sua vez, o capítulo escrito por Carlos A. Bastos faz, e com rigor, jus ao próprio título: “Rumores de guerra nas fronteiras amazônicas”. Há rumores por toda parte: conforme os documentos examinados, a mobilização de contingentes, a formação de expedições que seguiriam mata adentro sob a canícula amazônica, os ataques de insurgentes colombianos, tudo isso constitui, ao fim e ao cabo, apenas projetos vagos, expectativas não confirmadas, apenas rumores. Eventos situados nas fronteiras da América portuguesa, mesmo no distante Estado do Brasil - a exemplo da revolução pernambucana de 1817, da confederação do Equador ou mesmo da guerra da Cisplatina -, bem como temores de investidas colombianas e peruanas decorrentes de guerras entre aquelas nações ou de querelas intestinas, reverberam pelos sertões amazônicos do império do Brasil sem, contudo, ir além da troca de impressões, percepções e decisões frustradas de autoridades locais. Finalmente, o texto de Daniel E. Protásio parece vir de outro lugar, de outro mundo. Com efeito, o historiador português é o único que não incorpora em suas análises ações e representações mentais de indivíduos do nível mais baixo, preferindo ater-se exclusivamente às elites. Seu ensaio, absolutamente destoante dos demais, sequer toca a guerra: seu esforço consiste em perseguir as trajetórias de 14 indivíduos que, por ocasião das cortes constituintes da nação portuguesa, são, por diferentes motivos, impedidos de desembarcar em Lisboa. Alguns desses indivíduos são militares: essa parece ser a única justificativa alegada para que o capítulo em questão se encaixe na compilação organizada por Machado e Guerra Filho.
O que faltou, enfim, a projeto tão bem-intencionado e certeiro em suas premissas, em sua proposição inicial? Primeiro, a análise de sociedades nas quais, nos anos densos da independência, confrontos armados se tornaram efetivos e incontornáveis. Excetuando a imprescindível análise da sociedade baiana, bem representada aqui, os enfrentamentos bélicos pernambucano, maranhense e paraense fizeram muita falta à visão de conjunto das “guerras por toda parte”. O referido exame das “fronteiras amazônicas” realizado por Carlos A. Bastos não enfrentou conflitos armados fundamentais ocorridos no Grão-Pará e, neles, a participação decisiva de mercenários contratados pelo imperador e de militares, políticos e tapuios locais, guerras que garantiram a incorporação da região amazônica à monarquia constitucional. Esse aspecto decisivo, como também o foram as guerras e mobilizações militares pernambucanas de 1817, 1821 e 1824, apenas aparece como pressuposto, breve e quase incógnito, na introdução de Machado e Guerra Filho. Em segundo lugar, faltou à coletânea cronologia mais ampla: afinal, guerras e enfrentamentos armados não faltaram ao longo do processo de formação do Estado e da nação, durante o qual, como bem sintetizou Sérgio Buarque de Holanda, independência e unidade não caminharam de mãos dadas. Imperativo recuar até fins do século XVIII, como procederam alguns autores, e, na outra ponta, estender o recorte temporal até a década de 1840 - anos nos quais guerras, como diz o título, ocorreram de fato e “por toda parte”. Entender o tempo da independência em sentido estrito, reduzindo-o aos anos de 1820 a 1823, como se lê na maior parte dos capítulos, constitui operação há muito superada entre nós. Em terceiro lugar, faltou o manejo mais factual dos eventos: com raríssimas exceções, careceu-se empenho de analisar confrontos abertos. Sobrou, por seu turno, temores de guerras, rumores, busca de anseios populares deslocados de aspirações políticas correntes - no limite, reviveu-se a “liberdade” advogada por I. Jancsó na introdução de Machado e Guerra Filho -, análises de “horizontes de expectativas”, intenções. Houve, ao fim e ao cabo, pouca ou quase nenhuma análise e demonstração efetiva de enfrentamentos bélicos, de balanços de mortos e feridos, de violências perpetradas por seres humanos de carne, osso e sangue, como esperaria o leitor ao ler o sugestivo título da obra coletiva.
Bibliografia
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
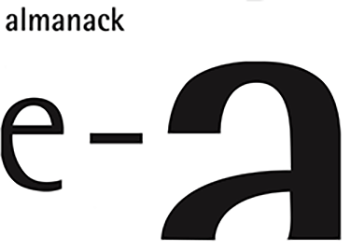
 BATALHAS DE HISTORIOGRAFIA
BATALHAS DE HISTORIOGRAFIA