RESUMO
A profusão de efemérides evidenciadas no curto período de 2017-2024 trouxe, para os historiadores e historiadoras brasileiros, a oportunidade de revisitar importantes acontecimentos históricos do nosso país durante o século XIX - particularmente no período entre o ocaso da América portuguesa e o alvorecer, cheio de penumbras e incertezas, do Brasil independente. Essas Palavras para debate tem o objetivo de discorrer sobre o Bicentenário da Confederação do Equador (1824-2024) a partir da experiência que vivenciamos na preparação e realização do V Seminário Internacional Brasil no século XIX, evento organizado pela Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos. E a forma como pensamos esse evento em termos historiográficos - reforçando o compromisso com um fazer historiográfico centrado igualmente na participação das classes subalternizadas e não apenas na discussão de uma macropolítica levada a cabo pelas elites dominantes.
Palavras-chave:
SEO; Confederação do Equador; Pernambuco; Historiografia
Abstract
The profusion of ephemeris evidenced in the short period of 2017-2024 brought, for Brazilian historians, the opportunity to revisit important historical events in our country during the 19th century - particularly in the period between the sunset of Portuguese America and the dawn, full of gloom and uncertainties, of independent Brazil. These Words for debate are intended to discuss the Bicentenary of the Confederation of Ecuador (1824-2024) from the experience we experienced in preparing and holding the V International Seminar Brazil in the 19th century, event organized by the Brazilian Society of Studies of Eight hundred. And the way we think about this event in historiographical terms - reinforcing the commitment to a historiographic work centered equally on participation of subordinate classes and not just in the discussion of a macropolitics carried out by dominant elites.
Keywords:
SEO; Confederation of Ecuador; Pernambuco; Historiography
As primeiras décadas do século XXI, particularmente o octênio de 2017-2024, foram repletas de efemérides bisseculares. Senão vejamos. No período em tela, tivemos os Bicentenários da Revolução Pernambucana de 1817, da Revolução Constitucionalista do Porto (1820), da Convenção de Beberibe (1821), da proclamação da Independência (1822), da instalação da nossa primeira assembleia constituinte e legislativa, bem como da sua dissolução (1823), da outorga da nossa primeira carta magna (1824) e, até como reflexo dessa última, a eclosão da Confederação do Equador (1824). E pelo menos três desses acontecimentos (1817, 1821 e 1824) tiveram como palco e cenário a província de Pernambuco - especialmente, a vila e depois cidade do Recife.
Todas essas efemérides nos conectam com acontecimentos que refletem a efervescência política existente entre o ocaso do Antigo Regime português e o alvorecer do Brasil independente. Das datas acima citadas, três delas foram, em maior ou menor grau, devidamente comemoradas, rememoradas, festejadas. A Revolução Pernambucana de 1817, por exemplo, foi celebrada com muita pompa e eventos acadêmicos, além da publicação e/ou reedição de livros alusivos ao acontecimento3. Algo compreensível devido à magnitude de um movimento revolucionário que, como acentua Iara Schiavinatto, “negou o domínio da monarquia, declarou-se independente, federalista e republicano. [E, por] um breve período, liquidou a soberania real, projetou uma Constituição, tematizou a liberdade moderna”4.
Outro acontecimento que teve o seu bicentenário celebrado com júbilo e galhardia foi a proclamação da nossa Independência política (1822-2022). Júbilo, galhardia e uma homenagem de indiscutível mau gosto e um tanto tétrica, protagonizada pelo Governo Federal, que trouxe de Portugal uma espécie de relíquia profana para uma exposição relâmpago no Brasil: o coração de D. Pedro I. Além disso, a Associação Nacional de História (ANPUH Brasil), a Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos e a Revista Almanack criaram o Blog das Independências - um espaço com a proposta de publicar textos escritos por especialistas, em linguagem simples, oferecendo a um público amplo uma reflexão sobre os mais diversos temas. E um grande evento, o Congresso Internacional Independências do Brasil, foi realizado em 2022, sob a organização conjunta da ANPUH Brasil, da SEO e do Portal do Bicentenário5. Devido ao simbolismo que carrega de ter sido o marco fundante de um novo corpo político, de um Estado autônomo e do início da construção de uma nova nação, a Independência do Brasil é um daqueles temas em constante debate e renovação, E, por conta do seu bicentenário, houve uma enxurrada de excelentes publicações sobre o assunto - que, indo de uma perspectiva globalizada ao estudo de aspectos mais locais ou regionais, lançaram outros olhares e novas luzes sobre o processo de emancipação política do Brasil.
Não tivemos a pretensão de fazer uma revisão historiográfica sobre nenhum dos temas aqui apontados - o limitado espaço deste texto não nos permite realizar um trabalho dessa amplitude. Diante da impossibilidade de fazermos, no momento, uma apresentação mais abrangente da nova produção bibliográfica sobre a independência, ressaltamos apenas algumas das obras produzidas ou organizadas pelos seguintes autores: Carlos André Silva de Moura, João Paulo Pimenta, Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira, Carlos Lima Jr., Lilia M. Schwarcz e Lúcia K. Stumpf6. Registramos também o esforço da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO) para difundir a produção do conhecimento acerca da Independência do Brasil. Em um projeto conjunto com a Alameda Casa Editorial, foi publicada a Coleção Brasil: Independências7, composta por seis volumes e que contou com a contribuição tanto de renomados historiadores quanto de jovens pesquisadores provenientes de instituições acadêmicas de diferentes partes do país.
E agora, em 2024, chegamos finalmente aos 200 anos da Confederação do Equador. Esse foi outro movimento representativo da rebeldia de Pernambuco no século XIX que muito contribuiu para reforçar as narrativas sobre o espírito guerreiro e destemido do povo da antiga capitania Duartina, um povo heroico e rebelde par excellence - sempre pronto para lutar em defesa de sua terra natal contra inimigos internos ou externos. Um discurso nativista cujo marco fundante, segundo Evaldo Cabral de Mello, seria a Restauração Pernambucana (1645-1654), quando os pernambucanos lutaram sozinhos e, à custa de seu “sangue, vidas e fazendas”, expulsaram os invasores holandeses8. Esse imaginário perpassou todo o século XIX, sempre vindo à tona em momentos de confrontos bélicos - como ocorreu, mais de duzentos anos depois, durante a Guerra com o Paraguai (1865-1870).
A Confederação do Equador: duzentos anos depois
Assim como ocorreu com o Bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, os duzentos anos da Confederação do Equador vêm sendo celebrados em Pernambuco com pompa e circunstância. Ainda no ano de 2022, por meio de decreto, o governador Paulo Câmara autorizou a criação da Comissão do Bicentenário da Confederação do Equador - sendo ela composta por integrantes de secretarias e órgãos do governo estadual, bem como por representantes do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP); da Academia Pernambucana de Letras; da Arquidiocese de Olinda e Recife; e do Grande Oriente do Brasil. Essa comissão ficou responsável pela programação e organização de atividades oficiais de comemoração do referido Bicentenário, que ocorrerão ao longo dos anos de 2024 e 2025.
Recentemente, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) lançou o Edital nº 28/2024 Confederação do Equador: Pernambuco conta uma história de 200 anos, destinado a docentes da rede pública estadual de ensino médio e ensino técnico, bem como a docentes de Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (ICTs-PE). Esse edital tem como propósito apoiar a produção de conteúdo multimídia, de caráter lúdico e didático (como o desenvolvimento de jogos, aplicativos, exposições científicas interativas, produções audiovisuais e outras atividades de cunho tecnológico e inovador), que tenha como temática o histórico movimento emancipatório pernambucano9.
A produção historiográfica pernambucana sobre o assunto ainda não acompanhou o ritmo comemorativo - embora haja publicações no prelo, como uma coletânea organizada pelo Prof. Carlos André Silva de Moura (UPE), a ser publicada pela Editora da Universidade de Pernambuco (Edupe). E outra, organizada pelo Prof. George Félix Cabral de Souza (UFPE), resultante do Seminário Nacional Confederação do Equador e os desafios da cidadania e do republicanismo no Brasil (1824-2024), realizado no período de 14 a 16 de agosto de 2024, na Escola de Magistratura de Pernambuco (ESMAPE). A exceção, por enquanto, foi a publicação da segunda edição, pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) do livro Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, com organização e texto de Evaldo Cabral de Mello10.
No entanto, aqui o que mais nos importa neste texto é discutir como a historiografia recente tem estudado movimentos insurrecionais como a Confederação do Equador de 1824. Fatos históricos dessa magnitude não chamam a atenção dos historiadores apenas em tempos de efemérides; o fato em si desperta um grande interesse aos devotos de Clio. Mas longe se vai o tempo em que o estudo, a pesquisa e a escrita sobre esse acontecimento, sem dúvida de grande importância para a História do Brasil e para a formação do Estado nacional brasileiro, girou em torno do surgimento do nativismo pernambucano ou da exaltação aos grandes heróis - não obstante, alguns sujeitos históricos carregados de simbolismo, como o Frei Caneca, continuem sendo o centro das atenções. E quanto aos circunstantes? As pessoas desimportantes, sem cabedal e prestígio social? Aos que estavam enredados nas teias da escravidão? Eles participaram de alguma maneira da Confederação do Equador?
De forma geral, com raras exceções, por muito tempo a historiografia não se interessou em estudar a participação de populares nos movimentos revolucionários evidenciados em 1817 ou em 1824. Por causa de uma análise parcial, incompleta ou deliberadamente seletiva dos documentos utilizados, os historiadores concluíam que a participação popular nas revoluções, quando existente, era mínima, sem grande importância. E quando essa participação era impossível de ser negada, eles deduziam que ela teria permanecido como caudatária dos potentados rurais ou, em suma, da elite dominante. A participação popular nos movimentos revolucionários se deslocava de um polo a outro, de acordo com a interpretação dos historiadores, que não atentavam para a possibilidade de os populares serem vistos e compreendidos como sujeitos históricos, capazes de pensarem e descortinarem seus caminhos a partir de suas próprias análises dos acontecimentos.
Porém, como salientou Maria Regina Celestino de Almeida, ao problematizar a atuação dos indígenas na História do Brasil, a renovação da nossa historiografia, evidenciada desde a década de 1970, trouxe à tona novas abordagens e temas variados (anteriormente, pouco estudados ou mesmo negligenciados pelos pesquisadores). Novas também foram as perspectivas teórico-conceituais que se incorporaram ao ofício dos historiadores, bem como o uso de diversos tipos de fontes documentais - acompanhadas de uma contínua e crescente interlocução com os especialistas das demais ciências sociais (antropologia, ciência política, sociologia). A conjunção de todos esses fatores proporcionou a irrupção de práticas e leituras inovadoras sobre o nosso passado. E, por extensão, inscreveu nos anais da História diversos grupos e sujeitos históricos (mulheres, crianças, operários, indígenas, escravizados, encarcerados, mendicantes, loucos etc.) com “a preocupação em identificar suas ações, escolhas e interesses na dinâmica de suas trajetórias” e, consequentemente, desconstruindo “visões generalizantes e simplistas, abrindo um leque de novas possibilidades interpretativas sobre os mais variados processos históricos”11.
Nesse sentido, a historiografia brasileira de fins da centúria passada, mobilizada pela comemoração do centenário da abolição da escravatura (1888) e capitaneada por historiadores da envergadura de João José Reis, Eduardo Silva, Robert Slenes, Sidney Chalhoub, Marcus Carvalho, entre outros, trouxe um novo olhar sobre a escravidão e os escravizados na América portuguesa e, principalmente, no Brasil Império. Temas variados passaram a fazer parte de suas agendas de pesquisa: os arranjos de moradia e de família escrava; as formas típicas de trabalho escravo nas cidades; os quilombos e as rebeliões negras urbanas, conectadas ou não com o mundo rural; as formas miúdas e criativas de resistência ao cativeiro e de negação da coisificação imposta pela sociedade escravista; a participação ativa dos cativos nas rebeliões provocadas pelas elites (e não apenas na composição das tropas, ocupando posições de subalternidade, durante os conflitos intrasenhoriais), entre outros. Todos eles, pensados, discutidos e pesquisados sob a perspectiva do protagonismo dos negros (livres, libertos e escravizados)12.
No tocante à participação dos negros, escravizados ou não, na Confederação do Equador13, nosso principal assunto em pauta, a produção ainda é incipiente - se resumindo à publicação de artigos e capítulos de livro ou apenas referenciados, de passagem, dentro de obras que tratam dos aspectos políticos, sociais ou econômicos mais amplos. Porém, a produção existente é elucidativa do modus operandi dos historiadores sociais hodiernos. Em um artigo, publicado em 2002, Marcus Carvalho nos legou um belo exemplo ao estudar o caso do africano Francisco Antonio da Costa - um liberto que, ainda em 1822, se engajou no batalhão de artilharia dos Henriques e, dois anos depois, participou ativamente “da Confederação do Equador, tornando-se um famoso artilheiro ao manejar as baterias da fortaleza do Brum contra as tropas imperiais14”. João José Reis escreveu que “a história dos dominados vem à tona pela pena dos escrivães de polícia15”. E dos funcionários forenses, acrescentamos. Marcus Carvalho se valeu justamente de documentos judiciais para registrar as aventuras e desventuras de Francisco no Recife, nos pródromos da independência. E mostrou que o seu caso serve para investigar, entre outras coisas, como os cativos e libertos construíam “suas próprias ideias de liberdade no começo do século XIX, quando os negros e pardos do Recife estavam sendo empregados nas milícias envolvidas nas lutas pela independência”.
Outro texto que cita, mesmo superficialmente, a atuação da “gente ínfima do povo e outras gentes” na Confederação do Equador é o do Prof. Denis Bernardes. Nele, o autor mostra como as tensões políticas do período 1822-1824 ganharam virulência pública - evidenciando-se, nesse instável contexto, uma ampla participação de diversos segmentos da sociedade, inclusive da gente do povo. Todavia, a “gente ínfima do povo” que dá título ao seu texto aparece em grande parte da narrativa como uma massa amorfa, composta por pessoas anônimas, participantes de manifestações de rua e protestos contra as autoridades. A exceção foi a aparição do capitão do regimento de artilharia Pedro da Silva Pedroso, um homem pardo conforme sua autodeclaração, mas um personagem emblemático, uma figura carimbada no álbum das manifestações políticas de Pernambuco no período pré-independência16.
Outros sujeitos históricos que têm sido revisitados pelos historiadores com outros olhares e novas abordagens são os índios. Sua presença circunstancial nas disputas entre franceses e portugueses pela posse do Novo Mundo, por exemplo, atuando ora ao lado de uns, ora ao lado de outros, remonta aos primórdios da colonização nessas partes da América. Gabriel Soares de Souza, mostrando como se podia “defender a Bahia com mais facilidade” ponderou que, no caso de ser invadida, a cidade poderia ser socorrida por mar e por terra “de muita gente portuguesa até a quantia de dois mil homens”. Mas também se podia contar com pelo menos “dez mil escravos de peleja a saber: quatro mil pretos da Guiné, e seis mil índios da terra, mui bons flecheiros, que juntos com a gente da cidade se [faria] mui arrazoado exército” - uma tropa considerável, capaz de “fazer muito dano a muitos homens de armas”.17
Esse tipo de atuação indígena se estendeu por todo período colonial e alcançou o século XIX. Era comum, nos momentos de conflitos internos, as elites armarem moradores, índios aldeados e até mesmo negros escravizados para combaterem seus adversários. Não obstante saber do emprego de índios armados nas hostes senhoriais, a historiografia tradicional costumava interpretar a participação da “gente da terra” nas disputas intraelites como uma prova de obediência cega aos potentados rurais. Nessa perspectiva, os índios requisitados para fazerem parte de uma força armada a serviço dos senhores, assim como se pensava sobre a participação dos negros (escravizados ou não) nas brigas dos brancos, se comportariam como simples massa de manobra nas mãos da elite senhorial.
Bebendo na fonte da História Social, da “história vista de baixo”, a nova historiografia sobre os indígenas, assim como sobre os escravizados, tem se preocupado em realçar a sua presença nos acontecimentos históricos não mais como seres inertes e simples bonifrates nas mãos da elite dominante, mas como sujeitos históricos que sabiam ler e interpretar o contexto em que estavam inseridos e, a partir de suas vivências nas aldeias e vilas vizinhas, definir suas escolhas políticas em momentos de conflagrações intraelites: fosse a de apoiar um dos lados em contenda ou mesmo não tomar o partido de nenhum deles, quando seus interesses não encontravam ressonância nem de um, nem do outro lado - preferindo deixar a poeira abaixar.
Grosso modo, os sujeitos subalternizados (como os índios, mas também os afrodescendentes livres e libertos e mesmo os escravizados) não tomavam partido em briga de brancos se não houvesse benefícios a proteger ou a ganhar com a sua momentânea adesão a um ou outro lado em conflito. Em vez de se comportarem de forma passiva ou incoerente, totalmente influenciados pelas elites dominantes ou potentados locais, eles empreendiam significados próprios às bandeiras dos revoltosos e delas esperavam tirar algum proveito - conquistando novos direitos costumeiros ou reforçando aqueles já conquistados.
Marcus Carvalho, em um capítulo de livro sobre o assunto, foi um dos primeiros a registrar a ativa presença dos indígenas em movimentos de contestação política não apenas como simples massa de manobra, como se essa presença fosse meramente o resultado do clientelismo que permeava a vida política brasileira. Nesse texto pioneiro18, ele mostra que, na primeira metade do século XIX, os índios marcaram presença nas maiores brigas de brancos ocorridas em Pernambuco, começando na Insurreição de 1817. Contudo, diferente do pressuposto da historiografia tradicional, nessas suas participações eles não agiam de forma impensada - seguindo ordens senhoriais sem questionar ou analisar sua validade ou suas consequências.
Como Marcus Carvalho afirma, “eles não eram meros peões na política local, mas agentes históricos com interesses próprios19”. E se aproveitavam desses momentos conflitivos no mundo dos brancos para tentar preservar (ou até aumentar) direitos putativos ou reais e evitar o esbulho de suas terras. Em suma, as alianças feitas pelos índios eram guiadas por uma ação reflexiva e se estabeleciam ou cambiavam de acordo com os seus interesses. Sendo assim, eles podiam escolher seus aliados entre conservadores, absolutistas e liberais e, se fosse necessário e possível, mudavam até de lado. “Da perspectiva senhorial”, como pondera o supracitado autor, “tratava-se de aliados indisciplinados e mesmo infiéis. Da perspectiva indígena, o que se vê é que havia um limite para o envolvimento nas brigas dos brancos, limite esse ditado pelos interesses da comunidade”20.
Atualmente, há uma nova safra de historiadores e historiadoras cujas instigantes pesquisas apontam nessa direção, ou seja, estudar os indígenas como sujeitos históricos, de fato, como sujeitos capazes de participarem, de maneira ativa e racional, dos processos políticos por eles vivenciados. Mariana Albuquerque Dantas é um excelente exemplo dessa nova safra. No seu livro21, resultante de sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2015, ela examina as diferentes formas de participação de indígenas na Confederação do Equador - e, igualmente, na Revolução Pernambucana de 1817, na Cabanada e na Revolta Praieira. E nos mostra que, mesmo ocupando posições subalternas na hierarquizada sociedade dessas duas províncias, eles tinham interesses e motivações particulares que os impulsionavam a fazer suas próprias escolhas políticas ao se envolverem nos conflitos iniciados pelas elites locais e provinciais - contribuindo, dessa maneira, para a constituição do Estado nacional no século XIX.
João Paulo Peixoto, por sua vez, é outro jovem historiador dos povos indígenas no Brasil Império que trabalha com a perspectiva de estudar o protagonismo indígena na formação do Estado nacional durante o século XIX. Em um artigo, publicado em 2017, só para citar um exemplo, ele analisou justamente o envolvimento político e militar de índios do Ceará na Confederação do Equador. Uma participação cambiante de acordo com seus interesses e visão dos fatos; interesses condicionados tanto pelas ideias liberais por eles apropriadas quanto por seu particular antilusitanismo22. Se havia uma tendência de os índios defenderem a monarquia, como mostra a historiografia sobre o tema, uma parte significativa das lideranças indígenas cearenses aderiu à Confederação do Equador por fazerem uma associação entre os gestos autoritários de Pedro I e os supostos planos recolonizadores de Portugal - o que representaria uma ameaça às suas liberdades (duramente conquistadas) e o esbulho de suas terras.
Com a derrota dos confederados de 1824, os índios cearenses fizeram uma releitura do contexto sociopolítico pós-insurreição e, mais uma vez, se posicionaram politicamente, manifestando seu apoio ao imperador e à Constituição por ele imposta. Como salientou João Paulo Peixoto, essa não era “uma opção agradável para os índios, mas era a melhor possível”, pois, na análise da situação, eles avaliaram que, após a vitória sobre os confederados e a reconstituição do poder monárquico nas regiões conflagradas, Pedro I poderia reinar da maneira esperada pelos súditos de um monarca, pater de uma nação, isto é, que ele podia moderar o poder das autoridades locais e provinciais - impondo, assim, um possível óbice às ações violadoras dessas autoridades contra seus direitos e terras23.
Foi nessa perspectiva que a Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO) pensou e organizou o seu V Seminário Internacional Brasil no século XIX, recentemente realizado na cidade do Recife, tendo como temática a Confederação do Equador no ano do seu bicentenário (1824-2024). Essa temática foi pensada como ponto de partida para se investigar uma série de questões relacionadas à formação do Estado imperial brasileiro e, por extensão, à História de Pernambuco e do Recife. A efeméride dos 200 anos da Confederação do Equador foi por nós compreendida como uma oportunidade para se empreender análises inovadoras sobre fenômenos políticos, econômicos e sociais protagonizados por diferentes sujeitos históricos, ou, dito de outra forma, por sujeitos históricos cuja atuação não foi levada em consideração ou mesmo foi reputada como desimportante para a interpretação dos acontecimentos estudados.
Com a realização do V Seminário Internacional Brasil no século XIX, reforçamos a necessidade de se consolidar cada vez mais um fazer historiográfico como o que vem sendo desenvolvido por historiadores e historiadoras sociais há algum tempo, conforme demonstramos em linhas anteriores, ou seja, não concentrar os estudos sobre a Confederação do Equador de 8124, por exemplo, apenas no topo da pirâmide social, como se ela tivesse sido uma rebelião de brancos, arquitetada e executada por grandes potentados rurais, vetustos comerciantes e padres eruditos. E, por sua vez, que a participação das classes subalternizadas tivesse sido episódica e superficial, devido às suas pífias condições materiais de existência e à sua incapacidade visceral de pensar e se articular em termos políticos.
Decerto, as camadas subalternizadas da população, particularmente os escravizados, não tinham os mesmos filtros culturais utilizados por uma parcela significativa das elites, mas isso não significa que eles atuavam irracionalmente, como meros bonifrates, sendo facilmente manipuláveis pela classe senhorial. Para finalizar essa exposição, que talvez já se mostre um pouco longa, citamos um instigante caso ocorrido no interior de Pernambuco, em 1824, um pouco antes da eclosão da Confederação do Equador. Quem nos conta a história, mais uma vez, é a historiadora Mariana Dantas. Na ocasião, indígenas xucurus da Vila de Cimbres fizeram um levante a favor de D. João VI, àquela altura, um rei sem coroa e sem trono no Brasil. Por isso, foram descritos nos documentos coevos como indivíduos “por natureza fanáticos realistas absolutos”. Uma caracterização essencializante e sem nenhuma tentativa de explicação que foi aceita, sem contestação, por Evaldo Cabral de Mello ao se referir a tais acontecimentos - reafirmando o seu “fanatismo monárquico24”.Porém, como Mariana Dantas demonstrou nesse artigo, o posicionamento dos referidos indígenas não se traduzia por irracionalidade comportamental, tampouco era uma forma de “arcaísmo político”. Segundo a autora: “Parte do posicionamento dos indígenas pode ser explicado pelos conflitos em torno das tentativas de uso compulsório de sua mão de obra e do avanço da Câmara sobre as terras da aldeia25” - cujo direito de acesso coletivo àquele território foi concedido pelo monarca luso ainda no período colonial. Sendo assim, ao se levantarem em defesa de D. João VI, os índios de Cimbres estavam defendendo um direito costumeiro, conquistado por eles anos antes.
Parodiando E. P. Thompson, afirmamos que as lutas e alianças formuladas pelos índios de Cimbres ou de outros lugares, bem como pelos africanos e afrodescendentes (escravizados ou não) podem ser vistas como irracionais ou como a prova de sua pretensa inaptidão para a política. Seus posicionamentos (como no caso dos índios de Cimbres) podem ser encarados como retrógrados, seus ideais comunitários descritos como sinônimos de barbárie e suas participações nas insurreições dos brancos, analisadas de forma limitada e não contextualizada, como resultantes de uma obediência cega à classe senhorial. Mas, independentemente de tudo isso, “eles viveram nesses tempos de aguda perturbação, e nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência; se foram vítimas acidentais da história, [não podem continuar] a ser condenados em vida, vítimas acidentais26”.
Nesse sentido, o V Seminário Internacional Brasil no século XIX definiu como como foco de análise as minorias históricas, mas sem deixar de lado, obviamente, o estudo da participação política das elites locais e provinciais nos processos históricos, pois, umas e outras estão presas a um mesmo tempo histórico; estão, de certa forma, interligadas; uma é condição sine qua non para a existência da outra, malgrado seus interesses só episodicamente serem convergentes - sendo esse, talvez, o principal elemento relacional definidor de suas distintas identidades. Dessa forma, propomos diversas atividades, direcionadas para
a investigação sobre as disputas entre diferentes projetos políticos; as transformações do liberalismo no período; as desigualdades remanescentes do passado colonial e ressignificadas no novo contexto político; as lutas e a multiplicidade de estratégias articuladas por diferentes grupos sociais para a participação na arena pública; a manutenção e a reelaboração de especificidades étnicas fincadas na historicidade das experiências de pessoas negras, indígenas e mestiças; e o reposicionamento dessas questões no ensino de História no século XIX e nas novas abordagens em sala de aula na contemporaneidade27.
Portanto, mais do que revisitar os grandes nomes desse evento histórico, procuramos trazer ao lume, tomando emprestadas as palavras de Ronaldo Vainfas, os “protagonistas anônimos28”, ou seja, os personagens que, até certo tempo, foram vistos como desimportantes para a análise historiográfica, esquecidos pela historiografia dita tradicional - como os povos indígenas e a população africana e afrodescendente (livres, libertos e escravizados). Trazê-los ao lume, na nossa perspectiva, significa não os ver a partir de uma perspectiva essencializante, que reproduz acriticamente as narrativas construídas pelos integrantes dos aparatos jurídico-policial e administrativo do passado, ou seja, como seres possuidores de características irracionais e inexplicáveis. A continuidade desse fazer historiográfico, ao qual nos opomos, significa perpetuar o seu sepultamento nas densas sombras do esquecimento.
Com esse objetivo basilar, programamos, além das conferências de abertura e de encerramento, três mesas redondas, sendo uma delas o Fórum Almanack, sete simpósios temáticos e um painel de pôsteres de iniciação científica. No referido Fórum, as historiadoras Mônica Duarte Dantas (Universidade de São Paulo) e Magda Ricci (Universidade Federal do Pará) discutiram um texto sobre a Confederação do Equador de 1824, apresentado por Marcus Joaquim Maciel de Carvalho (Universidade Federal de Pernambuco) - com Paulo Cruz Terra (Universidade Federal Fluminense) na mediação. Não daremos nenhum spoiler sobre esse instigante Fórum porque os textos apresentados pelos três historiadores serão publicados na Revista Almanack, no formato de dossiê, no ano vindouro (2025) - quando todos poderão, posteriormente, acessá-los e fazerem suas próprias leituras e análises. Esperemos…
Bibliografia
- BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. A gente ínfima do povo e outras gentes na Confederação do Equador. In: DANTAS, Monica Duarte (Org.). Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011. p. 131-166.
-
CABRAL, Flávio José Gomes. “Avante, soldados pernambucanos, o mundo nos observa”: a Junta de Goiana e a Convenção de Beberibe no contexto da Independência do Brasil. Clio: Revista de Pesquisa Histórica, Recife, v. 39, n. 2, p. 441-462, Jul-Dez 2021. Disponível em:Disponível em:https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/249123 Acesso em: 11 out. 2024.
» https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/view/249123 - CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Os índios e o ciclo das insurreições liberais em Pernambuco (1817-1848): ideologias e resistência. In: ALMEIDA, Luiz Sávio de; GALINDO, Marcos(Orgs.). Maceió: EDUFAL, 2002.
- CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. De cativo a famoso artilheiro da Confederação do Equador: O caso do africano Francisco, 1824-1828. Varia Historia, Belo Horizonte. v 18, n. 27, p. 96-116, jul. 2022. Disponível em: https://www.variahistoria.org. Acesso em: 14 out. 2024.
- CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no Recife, 1822-1850. Recife: editora Universitária da UFPE, 2001.
- CANECA, Frei Joaquim do Amor Divino. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca São Paulo: Editora 34, 2001.
- CHALOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
-
COSTA, João Paulo Peixoto. Os índios do Ceará na Confederação do Equador. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 37, n. 75, p. 145-167, 2017. Disponível em:Disponível em:https://www.scielo.br/j/rbh/i/2017.v37n75/ Acesso em: 10 out. 2024.
» https://www.scielo.br/j/rbh/i/2017.v37n75/ - COSTA, João Paulo Peixoto; IRFFI, Ana Sara Cortez(Orgs.). Independências em várias faces: protagonismos e projetos plurais na emancipação do Brasil. São Paulo: Alameda, 2022.
-
DANTAS, Mariana Albuquerque. O reverso da outra independência; participação indígena no contexto político da década de 1820 (Cimbres, Pernambuco). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 82, p. 19-35, ago. 2022. Disponível em: Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/12534 Acesso em: 28 out. 2024.
» https://www.revistas.usp.br/rieb/issue/view/12534 - DANTAS, Mariana Albuquerque. Dimensões da participação política indígena: Estado nacional e revoltas em Pernambuco e Alagoas, 1817-1848. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015.
- DANTAS, Mariana Albuquerque [et. al.]. Projeto apresentado às agências de fomento à pesquisa com o propósito de obter financiamento para a realização do V Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2024.
- GALVES, Marcelo Cheche; MEIRELLES, Juliana Gesuelli(Orgs.). Independências: circulação de ideias e práticas políticas. São Paulo: Alameda, 2022.
- SCHIAVINATTO, Iara Liz. Entre histórias e historiografias: algumas tramas do governo joanino. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial , volume I: 1808-1831. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 55-93.
- MACHADO, André Roberto de A.; GUERRA FILHO, Sérgio(Orgs.). Guerras por toda parte: conflitos armados que impactaram as independências do Brasil. São Paulo: Alameda, 2022.
- MARROQUIM, Dirceu; SOUZA, George Félix Cabral de; ARAÚJO, Betânia Corrêa de (Orgs.). 1817: uma história em objetos: a Revolução Pernambucana de 1817 e o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: FacForm, 2017.
- MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana. 2. ed.rev. e aum. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
- PIMENTA, João Paulo. Independência do Brasil São Paulo: Contexto, 2022.
- PIMENTA, João Paulo; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos(Orgs.). A Independência do Brasil em perspectiva mundial São Paulo: Alameda , 2022. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês. São Paulo: Brasiliense, 1986.
- REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês. São Paulo: Brasiliense , 1986.
- REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- RICCI, Magda; QUEIROZ, Michelle Barros de(Orgs.). A Independência vista de dentro: caminhos e jogos de escala entre o provincial e o local. São Paulo: Alameda, 2022.
- SCHIAVINATTO, Iara Lis(Org.). Independências, memória e fabricação de imagens São Paulo: Alameda , 2022.
- SILVA, Luís Geraldo. Igualdade, liberdade e modernidade política: escravos, afrodescendentes livres e libertos e a Revolução de 1817. In: SIQUEIRA, Antônio Jorge; WEINSTEIN, Flávio Teixeira; REZENDE, Antônio Paulo (Orgs.). 1817 e outros ensaios Recife: Cepe, 2017. p. 189-224.
- SIQUEIRA, Antonio Jorge; WEINSTEIN, Flávio; REZENDE, Antonio Paulo(Orgs.). 1817 e outros ensaios Recife: Cepe, 2017.
- SLENES, Robert. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- SOUZA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587 Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2000.
- TAVARES, Francisco Muniz. História da Revolução de Pernambuco em 1817 5. ed.Recife: Cepe , 2017.
- THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade, v. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
- VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da história: micro-históriaRio de Janeiro: Campus, 2002.
-
3
SIQUEIRA, Antônio Jorge; WEINSTEIN, Flávio Teixeira; REZENDE, Antônio Paulo (Orgs.). 1817 e outros ensaios. Recife: Cepe, 2017. MARROQUIM, Dirceu; SOUZA, George Félix Cabral de; ARAÚJO, Betânia Corrêa de (Orgs.). 1817: uma história em objetos: a Revolução Pernambucana de 1817 e o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: FacForm, 2017. TAVARES, Francisco Muniz. História da Revolução de Pernambuco em 1817. 5. ed. Recife: Cepe, 2017.
-
4
SCHIAVINATTO, Iara Liz. Entre histórias e historiografias: algumas tramas do governo joanino. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial, volume I: 1808-1831. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 80.
-
5
Trata-se de “uma iniciativa constituída em REDE por universidades, faculdades e estruturas similares, programas de pós-graduação, centros, núcleos e grupos de pesquisa, instituições de representação de pesquisadores(as) e de programas de pós-graduação, sindicatos de docentes, instituições de representação de estudantes, movimentos sociais, cidadãs e cidadãos brasileiros(as) que visa produzir, editar, fazer curadoria, organizar e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos da Independência do Brasil e seus desdobramentos, analisados por distintos campos do conhecimento (científicos e escolares), na arte, na cultura e nos mundos do trabalho”. Portal do Bicentenário. Quem somos. Disponível em: https:// portaldobicentenario.org.br/sobre-o-portal/. Acesso em: 23 set. 2024.
-
6
MOURA, Carlos André Silva de (Org.). A formação do Brasil independente: sociedade, legislação e cultura. Recife: Edupe, 2022. PIMENTA, João Paulo (Org.). E deixou de ser colônia: uma história da independência do Brasil. São Paulo: Edições 70, 2022. CARIELLO, Rafael; PEREIRA, Thales Zamberlan (Orgs.). Adeus, senhor Portugal: crise do absolutismo e a Independência do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. LIMA JR., Carlos; SCHWARCZ, Lilia M.; STUMPF, Lúcia K. O sequestro da Independência: uma história da construção do mito do Sete de Setembro. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. PIMENTA, João Paulo. Independência do Brasil. São Paulo: Contexto, 2022.
-
7
PIMENTA, João Paulo; SANTIROCCHI, Ítalo Domingos (Orgs.). A Independência do Brasil em perspectiva mundial. São Paulo: Alameda, 2022. GALVES, Marcelo Cheche; MEIRELLES, Juliana Gesuelli (Orgs.). Independências: circulação de ideias e práticas políticas. São Paulo: Alameda, 2022. SCHIAVINATTO, Iara Lis (Org.). Independências, memória e fabricação de imagens. São Paulo: Alameda, 2022. RICCI, Magda; QUEIROZ, Michelle Barros de (Orgs.). A Independência vista de dentro: caminhos e jogos de escala entre o provincial e o local. São Paulo: Alameda, 2022. MACHADO, André Roberto de A.; GUERRA FILHO, Sérgio (Orgs.). Guerras por toda parte: conflitos armados que impactaram as independências do Brasil. São Paulo: Alameda, 2022. COSTA, João Paulo Peixoto; IRFFI, Ana Sara Cortez (Orgs.). Independências em várias faces: protagonismos e projetos plurais na emancipação do Brasil. São Paulo: Alameda, 2022.
-
8
Evaldo Cabral de Mello caracterizou a restauração pernambucana (1645-1654) como “a experiência fundadora da identidade provincial”. MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro veio: o imaginário da restauração pernambucana. 2. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 20.
-
9
O Senado Federal também instalou uma Comissão Temporária Interna em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, presidida pela senadora Tereza Leitão (PT-PE), com a finalidade de planejar e coordenar, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, as atividades comemorativas dessa efeméride. Disponível em: https:// legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2641/. Acesso em: 10 out. 2024.
-
10
CANECA, Frei Joaquim do Amor Divino. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Organização e introdução de Evaldo Cabral de Mello. 2. ed. Recife: Cepe, 2024.
-
11
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. A atuação dos indígenas na História do Brasil: revisões historiográficas. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 37, n. 75, 2017, p. 18.
-
12
A produção de livros e artigos sobre a escravidão e a sociedade escravista brasileira vem se avolumando há algumas décadas e seria um trabalho hercúleo registrar aqui a produção bibliográfica sobre o assunto. Para efeito de registro, elencamos, de uma forma arbitrária e excludente, apenas alguns livros que já se tornaram clássicos da nossa historiografia: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês. São Paulo: Brasiliense, 1986. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. SLENES, Robert. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. CHALOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo no Recife, 1822-1850. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2001.
-
13
Em 2017, por conta das comemorações dos duzentos anos da Revolução Pernambucana de 1817, o historiador Luís Geraldo publicou um interessante artigo, no qual ele procurou avaliar, por um lado, o significado que o movimento revolucionário de 1817 teve para escravizados, afrodescendentes livres e libertos em suas diferentes demandas: por liberdade, no caso dos primeiros, e por igualdade civil e política, no caso dos segundos. E, por outro lado, o quanto essas demandas influenciaram os rumos e os contornos do próprio movimento, conferindo-lhe novos significados. SILVA, Luís Geraldo. Igualdade, liberdade e modernidade política: escravos, afrodescendentes livres e libertos e a Revolução de 1817. In: SIQUEIRA, Antônio Jorge; WEINSTEIN, Flávio Teixeira; REZENDE, Antônio Paulo (Orgs.). 1817 e outros ensaios. Recife: Cepe, 2017. p. 189-224.
-
14
CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. De cativo a famoso artilheiro da Confederação do Equador: o caso do africano Francisco, 1824-1828. Varia Historia, Belo Horizonte. v 18, n. 27, jul. 2022, p. 96.
-
15
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 8.
-
16
Em 1823, apoiado por um grande contingente de pessoas de cor (escravizados, libertos, soldados e gente ínfima e pobre), o capitão Pedro da Silva Pedroso ocupou a vila do Recife e seus arredores, onde permaneceu por quase uma semana para terror da população, quando ocorreu a sua prisão. Esse movimento passou à história como a Pedrosada. BERNARDES, Denis Antônio de Mendonça. A gente ínfima do povo e outras gentes na Confederação do Equador. In: DANTAS, Monica Duarte (Org.). Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011.
-
17
SOUZA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2000, p. 102.
-
18
CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Os índios e o ciclo das insurreições liberais em Pernambuco (1817-1848): ideologias e resistência. In: ALMEIDA, Luiz Sávio de; GALINDO, Marcos (Orgs.). Índios do Nordeste: temas e problemas 3. Maceió: EDUFAL, 2002, p. 77.
-
19
Idem, p. 93.
-
20
CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de. Os índios e o ciclo das insurreições liberais em Pernambuco (1817-1848): ideologias e resistência. In: ALMEIDA, Luiz Sávio de; GALINDO, Marcos (Orgs.). Índios do Nordeste: temas e problemas 3. Maceió: EDUFAL, 2002, p. 93.
-
21
DANTAS, Marina Albuquerque. Dimensões da participação política indígena: Estado nacional e revoltas em Pernambuco e Alagoas, 1817-1848. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2015. Sobre a Confederação do Equador, ver especificamente o Capítulo 3.
-
22
O antilusitanismo dos índios cearenses tinha, segundo João Peixoto Costa, em sua oposição às Cortes de Lisboa, pois, eles temiam que a Constituição portuguesa pudesse submetê-los à escravidão e aumentar o poderio das autoridades locais - dando azo, consequentemente, para eles abusarem sem limites de sua mão de obra e confiscarem suas terras. COSTA João Paulo Peixoto. Os índios do Ceará na Confederação do Equador. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 37, n. 75, 2017, p. 150
-
23
COSTA João Paulo Peixoto. Os índios do Ceará na Confederação do Equador. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 37, n. 75, 2017, p. 151.
-
24
DANTAS, Mariana Albuquerque. O reverso da outra independência; participação indígena no contexto político da década de 1820 (Cimbres, Pernambuco). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 82, p. 19-35, ago. 2022.
-
25
Idem, p. 33.
-
26
THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade, v. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, p. 13.
-
27
DANTAS, Mariana Albuquerque [et. al.]. Projeto apresentado às agências de fomento à pesquisa com o propósito de obter financiamento para a realização do V Seminário Internacional Brasil no século XIX, 2024, p. 2.
-
28
VAINFAS, Ronaldo. Os protagonistas anônimos da história: micro-história Rio de Janeiro: Campus, 2002.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
05 Nov 2024 -
Aceito
26 Nov 2024
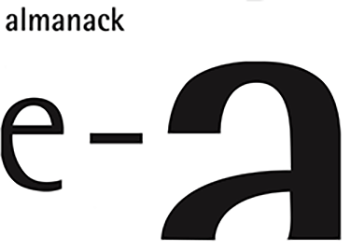
 A SEO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DO OITOCENTOS E O BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824-2024):PALAVRAS PARA DEBATE
A SEO - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS DO OITOCENTOS E O BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824-2024):PALAVRAS PARA DEBATE