RESUMO
Este artigo pretende abordar as preocupações de José da Silva Lisboa enquanto agente político e o seu papel como deputado na Assembleia Constituinte de 1823. Embora o futuro Visconde de Cairu seja reconhecido pela tradição como o introdutor da Economia Política e do liberalismo no mundo luso-brasileiro, suas intervenções naqueles debates foram mais voltadas a questões políticas e religiosas, fundamentalmente à defesa da centralização política, das prerrogativas do Poder Executivo e do catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro nascente, do que a temas econômicos. Esta pesquisa adota a hipótese de que as incursões de Lisboa nesses temas revelam posições que limitam e contradizem uma concepção econômica liberal, apresentando um pensamento paradoxal no qual o conservadorismo convive com uma visão peculiar de liberalismo, típica de um mundo em transição.
Palavras-chave:
Silva Lisboa (Visconde de Cairu) - Assembleia Constituinte 1823 - Organização do Estado - Liberalismo
ABSRACT:
This article aims to address the concerns of José da Silva Lisboa as a political agent and his role as a deputy in the Constituent Assembly of 1823. Although the future Viscount of Cairu is recognized by tradition as the introducer of Political Economy and liberalism in the Portuguese-Brazilian world, his interventions in those debates were more focused on political and religious issues, fundamentally he advocated for political centralization, bolstering the Executive Branch’s authority, and upholding Catholicism as the nascent Brazilian State’s official religion rather than economic issues. This research adopts the hypothesis that Lisbon’s forays into these topics reveal positions that limit and contradict a liberal economic conception, presenting a paradoxical thought in which conservatism coexists with a peculiar vision of liberalism, typical of a world in transition.
Keywords:
Silva Lisboa (Viscount of Cairu) - Brazilian Constitutional Assembly (1823) - State Organization - Liberalism
Introdução
“Já me calo, tendo muito a dizer”. Com essa afirmação, o então deputado constituinte José da Silva Lisboa (1754 -1835), futuro Visconde de Cairu, encerrava uma dura altercação com seu colega Francisco Gê Acayaba de Montezuma. O debate, na sessão de 29 de agosto de 1823, se dava em torno dos locais em que a Assembleia determinaria a instituição de universidades no Brasil, mas trouxe à tona outras discussões que permearam os meses em que aquela Assembleia esteve reunida até sua conturbada dissolução por um golpe de Estado conduzido pelo imperador D. Pedro I em 12 novembro daquele ano, na chamada noite da agonia.
Silva Lisboa havia atacado a ideia de estabelecer instituições daquele porte, especialmente um curso jurídico, em Pernambuco, alegando o que entendia ser uma maior disseminação do “jacobinismo” naquela província5. Embora os taquígrafos não tenham anotado o discurso de Montezuma, anotaram a resposta dura de Silva Lisboa dada em meio às advertências do presidente da sessão e de outros deputados: dizia José da Silva Lisboa que Pernambuco havia, sim, dado ao país heróis quando expulsou estrangeiros e acatou seu “Príncipe natural”6, mas bastaria a lembrança da Revolução de 1817 para se comprovar que a província era, naquele momento, um “foco do jacobinismo”. Interrompido pelos protestos de vários deputados, Silva Lisboa sustenta ter “peito triplicado para resistir à rapaziada” e cala-se, afirmando ainda ter muito a dizer.7
A discussão traz à luz um Cairu diferente da ideia consolidada sobre ele em parte da historiografia brasileira. Nessa historiografia, ganharam destaque o pensador e difusor das ideias da Economia Política e o introdutor das ideias liberais no Brasil. Em seu lugar, surge um deputado polemista, irônico, preocupado com a consolidação do poder monárquico em torno de D. Pedro (e da Corte) e em guarda contra as tendências “jacobinas” que ele via ameaçando a tradição, o catolicismo e a integridade do território brasileiro.
O Cairu economista permaneceu calado na maior parte das sessões, sem tocar em questões que são caras na sua produção bibliográfica anterior, questões que não deixaram de ser debatidas na Assembleia de 18238. Mas falou especialmente o político comprometido com uma ordem monárquica e católica, na qual, apesar da independência, permaneceriam vigentes as características da sociedade colonial. É certo que no período que antecedeu a Constituinte, Cairu vinha atuando, especialmente como jornalista, em questões políticas e que o ainda José da Silva Lisboa economista teve sua fase mais conhecida nos primeiros três lustros do século. Porém, ainda em 1819 eram publicados pela Imprensa Régia, os seus Estudos do Bem Comum e Economia Política, com um subtítulo que não deixa de mostrar a importância que os temas ali tratados mereceriam durante a Assembleia: “ou ciência das leis naturais e civis de animar e dirigir a geral indústria e promover a riqueza nacional e prosperidade do Estado”. 9
Este artigo pretende, assim, abordar a dimensão de um personagem histórico já bastante estudado: as preocupações de José da Silva Lisboa enquanto agente político e, sobretudo, sua atuação na Assembleia Constituinte de 1823, um momento fundador do país. Se o eixo da atuação de Lisboa na Constituinte não esteve diretamente focado nas discussões econômicas, não passou tão distante delas. A economia sempre circundava seus discursos, apesar da sua atuação estar mais relacionada a questões políticas e religiosas e focada fundamentalmente na defesa da centralização política, das prerrogativas do Poder Executivo e na sustentação do catolicismo como religião oficial. Assim, a rigor, embora procuremos as contribuições sobre Economia que Cairu certamente tinha a oferecer naquele contexto, pouco se encontra nas suas intervenções enquanto deputado constituinte, ao menos diretamente. Algumas incursões nesses temas, inclusive, revelam posições que limitam e contradizem uma concepção econômica liberal. As poucas intervenções nas questões econômicas, associadas aos temas principais da intervenção de Lisboa, revelam, naquele contexto, uma concepção particular de sociedade e de organização do Estado.
Embora Cairu possa ser interpretado como um autor que é produto das manifestações da Ilustração com conotações ibéricas, bem como o criador de uma análise inovadora da nascente Economia Política à luz da realidade brasileira, este trabalho analisará seu pensamento no que ele tem de “pré-moderno”. É preciso destacar que os discursos do Cairu deputado constituinte de 1823, objeto desta pesquisa, são permeados pelos duros embates políticos daquele momento e se afastam da visão pretensamente mais liberal de seus escritos econômicos. Quando pensa a sociedade no Império nascente, Cairu o faz a partir de uma crítica reacionária às influências do Iluminismo. Por isso, optou-se por ler suas concepções a partir da proposta historiográfica inaugurada por François Xavier-Guerra, mais difundida na análise da formação dos estados que antes compunham o Império Espanhol, mas também aderente ao Brasil, que, a rigor, como demonstrou João Paulo Pimenta, está mais incorporado ao restante da América Latina do que já se supôs no passado10. Conforme Xavier-Guerra, a díade “liberalismo vs absolutismo” deveria ser substituída por “modernidade vs tradicionalismo”11. Assim, diante da modernidade política - que institui o indivíduo e a soberania da “nação” -, haverá, naquele contexto, reações que defendem a manutenção de uma ordem pré-moderna, “tradicional”12. Portanto, é nesse sentido que este trabalho lê os discursos de Cairu sobre o papel da religião, da política e mesmo da economia no momento da fundação do novo Estado imperial.
I. Os diferentes olhares sobre José da Silva Lisboa
Tradicionalmente, Cairu é apresentado pela historiografia como o introdutor das Ciências Econômicas no Brasil ou o pai fundador da Economia Política no país13. Seu clássico de 1804, “Princípios de Economia Política”14, é uma das primeiras obras em circulação no Império Português a tratar do pensamento de Adam Smith. Além disso, quando da chegada da família real ao Brasil, a ele é designada a primeira cátedra de economia política, no mesmo ano - 1808 - em que publica as suas Observações sobre o Comércio Franco no Brasil15, obra na qual aprofunda as reflexões de cunho liberal e justifica a abertura dos portos realizada no momento da chegada da corte ao Brasil em 28 de janeiro de 1808. Já as Observações sobre a franqueza da indústria, e estabelecimento das fábricas no Brasil, de 181016, apresentam reflexões mais amplas e influentes no contexto do Brasil Joanino. Assim, ele é lembrado como o “pai” da Economia no Brasil17.
Mais recentemente, o termo é reforçado, e até se enxerga em Cairu um inovador do ponto de vista intelectual em relação à Economia Política original de Adam Smith, já que ele propunha incluir ao lado dos três fatores de produção tradicionais da recém-criada Economia Política - terra, capital e trabalho - um novo fator, que seria a inteligência18. Esta questão da inovação no pensamento de Lisboa remonta a uma antiga controvérsia em torno do problema do trabalho intelectual, que fora proposto por Alceu Amoroso Lima19 e contestado por Sergio Buarque de Holanda20.
Mesmo quem não vê nos textos econômicos de Cairu um pensamento original, reconhece que ele foi um importante difusor de pelo menos alguns aspectos importantes da nova ciência e do liberalismo, além de hábil em utilizar a Economia Política como fonte de legitimidade das decisões tomadas por D. João em um Império Português em profunda transformação21. J. L. Cardoso reconhece a importância de ingredientes econômicos liberais trabalhados por Cairu nas suas obras iniciais para a defesa e a justificativa das primeiras determinações quando da chegada da família real na até então colônia brasileira, mas aponta que os preceitos do liberalismo econômico que Cairu caucionava com entusiasmo não convergiriam com a aceitação dos princípios liberais em outras matérias, como os relativos à organização política da monarquia imperial22.
Furtado define Cairu como um intérprete dos ideais das classes dominantes que “supersticiosamente” acreditava na mão invisível do mercado, sendo um dos responsáveis pelo Brasil não ter seguido o mesmo caminho dos Estados Unidos de Alexander Hamilton, com estímulos diretos à indústria23, comparação que foi recuperada por Dea Fenelon24. A geração que pensou o Brasil no contexto da crise do modelo primário-exportador e da busca da industrialização encontrou em Cairu um ícone a ser atacado enquanto representante notório de uma elite que havia feito, na fundação do país, a opção por uma interpretação primária do liberalismo econômico, que teria mantido o país refém da grande propriedade produtora de commodities (e trabalhada pelo braço escravizado).
Uma contribuição importante sobre a possível (ou não) modernidade de Cairu e o alcance de suas ideias econômicas está na ideia de que Cairu recupera em Adam Smith o “economista” que ainda não se distanciou do moralista da Teoria dos Sentimentos Morais, publicada em 175925. A própria ideia de mão invisível e de que o homem é capaz de viver em harmonia social, recuperada por Cairu e D. João VI para servir de anteparo à construção política necessária para governar o Reino desde o Rio de Janeiro em uma situação de equilíbrio delicado26, pode ser vista não só como a mão invisível tradicional do filósofo iluminista, mas como uma mão divina em uma ciência ainda mal saída das franjas teológicas27. A apresentação da nova ciência econômica imbuída das tradições cristãs, muito caras a Cairu, deve ser elemento importante na análise do seu pensamento conservador ou mesmo reacionário.
Pesa também sobre Cairu uma imagem além de conservadora, negativa, bajuladora. Sua proximidade com os Bragança, o cargo que ocupou de censor régio na Corte instalada no Rio de Janeiro e os próprios textos econômicos defensores das deliberações de D. João VI levaram à construção da imagem de um acólito da Monarquia, recalcitrante diante do movimento pela independência. Nos textos mais tradicionais dos intérpretes do Brasil, como os de Oliveira Lima ou do jornalista Carlos Rizzini28, Cairu é apresentado como um homem capaz de constantemente se colocar de joelhos diante do poder e que leu em Adam Smith apenas o que quis entender, como escreveu Sérgio Buarque de Holanda29. Por sua vez, para Antônio Candido, Cairu foi um autor das luzes brasileiras que surgiu com a vinda da família real, mas que fazia jus às críticas de Hipólito da Costa contra seu excesso de elogios a D João VI. Segundo A. Candido:
[...] palaciano na adulação é Silva Lisboa nos escritos econômicos desde 1809, culminando na Memória dos Beneficios Políticos do Governo de El-Rei Nosso Senhor D Joao VI, também impresso por “Ordem de Sua Majestade” como propaganda ligada ao coroamento. São desvairadas lisonjas em quase duzentas páginas de prosa turgida, onde o abuso do grifo e da maiúscula procura, ansiadamente, superar os mais descabelados adjetivos. A única ideia - como aliás nos outros escritos dele - é que a franquia dos portos abriu o período pós colonial do Brasil.30
Talvez não seja o caso de adotar a visão no extremo oposto, propagada por, dentre outros, Alceu Amoroso Lima, para quem Cairu foi o mais sábio daquela geração e a quem deveríamos considerar o “Patriarca da nossa Independência Moral e Intelectual”31. No entanto, é interessante a reflexão aberta por Novais e Arruda, para quem Cairu não foi a visão deturpada que dele se divulga, como um apaniguado da burocracia e ortodoxo da economia política, mas sim um ator que agiu também dentro de um pensamento político que buscava as consequências concretas para cada ação32. Ou ainda a visão de San Tiago Dantas, para quem Cairu fazia parte de uma geração de brasileiros formados em Coimbra e que atuaram dentro de suas limitações na construção de um novo país. Cairu foi “um humanista que soube entender a sociedade em que vivia e tornar-se o protagonista de sua época”33.
Recentemente, surgiram trabalhos mais voltados à atuação política de Cairu, sobretudo no contexto da independência, dando centralidade a uma abordagem que, embora já contasse com algumas obras34, ainda não era a dimensão principal das análises sobre ele. A obra de Lustosa foi fundamental para abrir esse caminho, apresentando a forte atuação de Lisboa na imprensa recém-liberada nos anos de 1821 e 182235. Com todas suas vacilações e temores diante de uma independência que poderia trazer consigo o gérmen de uma transformação social ampla que ele temia, Silva Lisboa foi também, conforme Oliveira, o autor, inclusive, do discurso que legitimou a separação com Portugal, atribuindo a “culpa” do rompimento às Cortes reunidas em Lisboa e ao seu desejo de recolonizar o país36. Essa interpretação, embora hoje seja questionada, teve grande sucesso na consolidação da memória sobre a independência.
Com essa interpretação de Silva Lisboa, mais agente político na independência do que um economista da chegada da família real em 1808, sua obra passa a ser reinterpretada37 e ele passa a ser considerado um dos mais importantes e influentes articulistas do momento da independência38, cuja construção política é fonte rica para se compreender aquele conturbado momento. Segundo Lynch, este Cairu, intelectual político, busca conciliar fórmulas aparentemente contraditórias que, por um lado, sustentavam um absolutismo ilustrado com as cores próprias do iberismo e da periferia do subcontinente americano e, por outro lado, faz a defesa de certo liberalismo econômico39. Esse liberalismo é bastante característico quando da defesa da abertura dos portos, mas tem seus claros limites.
Além disso, textos de Cairu pouco estudados e ainda sem novas edições também passaram a ser analisados, explorando outras faces do “pai da economia” no Brasil. A obra Constituição Moral e Deveres do Cidadão, publicada em 1824 e 1825, apresenta uma visão conservadora na qual o Império seria o baluarte católico contra a expansão dos princípios da Revolução Francesa40. Neste ponto, existe certa revisão do caráter apenas bajulatório de Cairu frente à monarquia, a sua defesa do governo traduz, mais do que uma concordância absoluta com o imperador e a casa de Bragança, a anteposição à uma temível revolução descontrolada e à anarquia41.
A partir dessa linha de pesquisa, este artigo apresentará a atuação de José da Silva Lisboa na Assembleia Constituinte de 1823, procurando compreender a posição dele enquanto membro de uma elite política local forjada ainda sob o governo joanino como parte de uma estratégia para ganhar legitimidade com a atração de brasileiros ligados à grande lavoura para os quadros do Estado, ainda que não os principais42. Além disso, ao analisar as intervenções de Cairu na Constituinte, pretende-se também averiguar até onde avança o liberalismo do qual Cairu é apresentado como o introdutor, mas contra o qual ele muitas vezes se opôs nos debates constitucionais, conformando assim um pensamento marcado pelo paradoxo da oscilação entre um mundo novo, com oportunidades, mas incerto e potencialmente desestruturador, e um mundo antigo “seguro”, no qual as condições forçaram sua revisão.
A partir de textos anteriores à própria Assembleia Constituinte, Neves e Neves ressaltam que a posição de Lisboa, dentro das várias visões acerca do papel e da ideia de constituição existentes na época, estava:
Pautada nas ideias de Montesquieu, ou seja, no princípio da separação dos poderes, mas também influenciada pela perspectiva de um constitucionalismo histórico nos moldes de Edmund Burke, encontrava-se a visão de José da Silva Lisboa (1756-1835), futuro visconde de Cairu, redator de inúmeros folhetos e periódicos da época. Concebia a constituição como “a ata das leis fundamentais do Estado, em que se declara o sistema geral do governo sobre a divisão e harmonia dos três poderes” e em que também se definiam “os direitos dos cidadãos e regulamentos dos deputados do povo para o corpo legislativo”43.
Mesmo influenciado por modernos, Lisboa não fugirá da abordagem tradicional que o conceito de constituição teve entre portugueses e brasileiros, que, segundo Neves e Neves, baseado em Gauchet44, é o da não ruptura com uma estruturação da sociedade e de sua organização, fundamentada em uma visão antiga, fortemente influenciada por questões religiosas. Ou seja, também em Lisboa será observada “a prevalência da heteronomia do universo tradicional sobre a autonomia do mundo moderno”45. Nesse sentido, dá-se a influência que ele recebeu de Edmund Burke (1729-1797), especialmente da leitura da crítica à Revolução Francesa em Reflexões sobre a Revolução em França, obra publicada em 1790, sob impacto dos primeiros movimentos daquele processo46. Silva Lisboa assimila de Burke a advertência quanto ao que seria o potencial destrutivo de ações transformadoras e a defesa de uma ordem monárquica, hierárquica e firmada na religião47.
Estudar os discursos de Cairu naquele momento é revelador de uma posição que resiste aos fundamentos da modernidade política como a centralidade do indivíduo-cidadão e, especialmente, a separação entre Estado e religião48. Para Cairu, nesse sentido, um “dos mais importantes reacionários da política brasileira”49, o Império, estaria fundado na comunidade de fé - fundamento do próprio exercício dos direitos políticos -, na hierarquia e na concepção de religião como parte indissociável de um Estado que deveria ser, na visão dele, a barreira contra as tendências revolucionárias.
II. A questão religiosa: uma concepção pré-moderna de sociedade e de Estado
Na sessão de 15 de setembro de 1823, a Assembleia debatia o texto que seria adotado como preâmbulo da Constituição. A maioria dos deputados posicionava-se contrariamente à inclusão de menção à “Santíssima Trindade” no texto. Cairu, em protesto, afirmou duvidar da fé cristã de seus colegas deputados e, em desagravo a outra decisão que vetou a realização de missas inaugurais para todas as sessões, teatralmente ajoelhou-se na tribuna e, conforme anotaram os taquígrafos, sozinho rezou diante do plenário50.
A questão religiosa era um tema central nas preocupações de Silva Lisboa. Sua filosofia moral e concepção de ordem pressupunha uma religião, especificamente o catolicismo. Pensador forjado “em línguas mortas e direito canônico num lugar em que as luzes do século XVIII eram apenas e tão somente bruxuleantes”51, o futuro visconde era um personagem na encruzilhada de dois mundos. Aceitava a Economia Política, mas sem renunciar a uma visão de mundo hierarquizada e autoritária52. Silva Lisboa simboliza as contradições internas da própria elite política que conduziu a independência e a construção do Estado brasileiro. Paradoxalmente, ele foi um “revolucionário” contra a Revolução, que via na ordem católica um antídoto contra transformações profundas que poderiam ser abertas no processo de emancipação.
A mudança defendida por ele era, na verdade, uma reação. Seu projeto político era a manutenção da autonomia adquirida pelo Brasil com a elevação à Reino Unido, em 1815, contra a qual estariam se levantando as Cortes de Lisboa. Contudo, ele temia que a contestação ao domínio português abrisse caminho para a facção gálica ou o “jacobinismo” (como ele considera) de Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e Clemente Pereira, ou ainda a versão mais radical de Cipriano Barata53. No horizonte estava também a Revolução Haitiana, cuja imagem amedrontava Cairu tanto quanto, inspirado em Burke, a Revolução Francesa. Nesse temor, ainda em meados de 1822, já com a separação praticamente definida com a convocação da constituinte brasileira em clara rebelião contra as Cortes reunidas em Lisboa, Cairu encenou um passo atrás e pediu cautela. Sua posição passou a ser contrária à “criação de um Congresso brasileiro separado do português”, criticando “tanto a tentativa de pressionar as cortes de Lisboa por meio de D. Pedro quanto de usar a inflexibilidade daquelas para forçar o príncipe a apoiar a causa da Independência”54.
Diante do fato consumado da constituinte e da independência, Cairu posicionou-se ao lado do agora imperador D. Pedro. Além disso, tornou-se deputado na Constituinte de 1823, contra a qual ele se opôs. Na Assembleia Constituinte que iniciou seus trabalhos em 3 de maio de 182355, Lisboa defendeu que o Brasil tivesse na Igreja Católica seu elemento de unidade social, territorial e “moral”. O debate travado na Assembleia sobre o preâmbulo do anteprojeto de Constituição, que levou Cairu a teatralmente ajoelhar-se e rezar na tribuna, é indicativo. O preâmbulo incluído no anteprojeto dizia que “A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, depois de ter religiosamente implorado os auxílios da Sabedoria Divina, conformando-se aos princípios de justiça e da utilidade geral, decreta a seguinte Constituição”56. Porém, uma emenda do deputado Maia propôs a substituição da “Sabedoria Divina”, ecumênica, pela expressão “auxílios da Trindade Santíssima, Padre, Filho e Espírito Santo”. Em sua justificativa, ele alegava que seria preciso reforçar o elo católico da Constituição, uma vez que aquela era a religião oficial do Estado. Vários deputados foram contra a alteração e defenderam a manutenção do texto original, o que levou à resposta e ao gesto de Cairu.
Tomando a palavra, ele defendeu mais do que a reforma no texto e propôs que fosse incluído um título para o preâmbulo: “Em nome da Santíssima Trindade”57. A justificativa religiosa que apresenta - sendo os brasileiros católicos (na visão de Cairu), deviam amparar-se no dogma da Trindade - era, na verdade, política: a afirmação da religião oficial desde a abertura da Constituição garantiria a continuidade da ordem anterior no seio da ordem nova. A continuidade que Cairu advoga mesmo no cenário posterior à independência estaria ameaçada por uma “terrível seita” que corromperia o “espírito do Povo, em maneira que já com mágoa vê-se estar caindo em desuso o estilo religioso de se invocar o Nome de Deus na saudação, nas cartas e até nos sobscriptos [sic]”58. No discurso, ele não nomeia os adversários dessa “seita”, mas lembra que nos Estados Unidos - referência negativa para Cairu - também havia sido rejeitada uma proposta para que as sessões da constituinte fossem precedidas por uma oração: “A Deus não praza que isto prevaleça entre nós”59.
O longo debate que se seguiu indica que haver ou não um rito religioso antes dos trabalhos legislativos não era um tema menor. Deputados tomaram a palavra para defender seu próprio catolicismo diante do ataque de Cairu e relativizar a insistência na questão da “Trindade”. Moniz Tavares o acusou de desfigurar a religião com sua insistência em uma questão irrelevante: “Não é desta maneira, Sr. Presidente, que se exalta a Religião, antes desfigura-se; um tal zelo não acredita muito à pessoa que se acha dele possuído”60. Araújo Lima levou Cairu a se desculpar pelo que teria sido uma injustiça contra a sinceridade do catolicismo dos membros da Assembleia indiscriminadamente, mas ele manteve o tom irônico e o ataque contra os opositores. Lembrou Cairu aos colegas que, embora “não presuma de teólogo”, havia estudado grego e hebraico em Coimbra, conhecendo também Teologia. Afirma que “agora só me prezo de saber a Cartilha do Mestre Ignacio, mas nada do Credo dos Carbonários”, sendo interrompido por manifestações do Plenário ofendido61.
Quem são os “carbonários”, a “seita” que Cairu ataca? Ou ainda, a “cabala brasílica”, conforme expressão que ele usava nos periódicos da época62. A rigor, os “liberais” seriam os defensores de uma transformação política mais profunda do que a desejada por um conservador como Cairu. Porém, naquela altura, Gonçalves Ledo estava exilado em Buenos Aires, e Cipriano Barata amargava a prisão... seus adversários principais foram tirados do caminho. Mais que os líderes, Cairu teme a tendência da época. A Revolução Francesa e seus valores são seu alvo principal, citando em discursos críticas a Rousseau, que ele especialmente vê como a personificação do “cancro” que o Império em construção, amparado na conservação da ordem tradicional e da Igreja, deveria combater63. Ele menciona essa “seita” revolucionária e faz referência à Santa Aliança:
Toda a minha querela é contra a seita que fora da Assembleia afeta dirigir a opinião pública [...] e contra a qual, pela sua ramificação na Europa, se tem armado as Grandes Potências que tem por si os votos dos mais sábios e religiosos da Humanidade. É notório que esta Seita até se jacta de que não será aceita a Constituição se nela se assentar em decisões contrárias às doutrinas da mesma Seita64.
Muitos responderam a Cairu no debate que se seguiu. A palavra final coube a Vergueiro, que ocupou tempo explicando que Deus havia concedido seis dias para o trabalho e um para o exercício da fé, não cabendo realização de missas antes de cada sessão da Assembleia. Vergueiro concluiu afirmando um princípio de separação entre Estado e religião que Cairu abominava: “Este não é o lugar para fazer uma protestação de fé nem de especificar mistérios”65. Antes de Vergueiro, Costa Barros atacara Cairu deixando a entender a motivação de um “mal teólogo” e apoiador incondicional de D. Pedro: “Igualmente se engana porque bem pouco me importa que o Ilustre Deputado ensinasse Teologia e nem por isso se segue que deixasse de ser um mal teólogo [...]. Não sou hipócrita. Não ajoelho diante dos homens nem por este meio pretendo conseguir coisa alguma”66. Ao final, a emenda que alterava o preâmbulo foi rejeitada. Por outro lado, a sugestão de Cairu de abrir o texto da Constituição com a expressão “Em nome da Santíssima Trindade” foi aprovada e, inclusive, mantida na Constituição outorgada em 1824.
Outro debate ainda mais revelador dessa visão de Cairu se deu em torno da questão da liberdade religiosa. O artigo 14 do anteprojeto estabelecia os contornos dessa liberdade em tons avançados para a época (embora limitadores aos olhos de hoje). Dispunha o texto:
Art. 14 - A liberdade religiosa no Brasil só se estende às comunhões cristãs: todos os que as professarem podem gozar dos direitos políticos no Império.
Art. 15 - As outras religiões, além da Cristã, são apenas toleradas, e sua profissão inibe o exercício dos Direitos Políticos.
Art. 16 - A religião Católica Apostólica Romana é a religião do Estado por excelência, e única mantida por ele.67
Assim, embora o catolicismo fosse a religião oficial, a Constituição projetada garantiria o livre exercício da fé a todos os cristãos (incluindo protestantes etc.), concedendo aos não católicos também direitos políticos. Quanto aos demais credos, seriam tolerados, mas seus praticantes eram excluídos da vida política do país. A discussão sobre esses artigos teve início em 29 de outubro, com longas discussões sobre seus fundamentos. Foram apresentadas tanto alegações para ampliar a abrangência do artigo, permitindo aos judeus o exercício de direitos políticos, como argumentos mais restritivos, questionando a concessão daqueles direitos a cristãos não católicos. Por sua vez, Cairu considerou essa forma da liberdade religiosa no anteprojeto muito permissiva e, sobretudo, perigosa.
Na mesma sessão do dia 29, ele se disse contrário à concessão de direitos políticos a cristãos não católicos e a outras denominações religiosas. A liberdade religiosa (mesmo na forma restrita do anteprojeto) era vista por ele como parte da “moda” das “garantias individuais”. Seu pensamento ia contra aquilo que “que ora se dizem ser das ‘luzes do Século’”, vindas da Revolução Francesa68. Para ele, a liberdade religiosa seria paralela à liberdade política, sendo ambas os pilares do corpo da nação. Se o Estado concedesse liberdade religiosa indiscriminada, a consequência seria a liberdade política e, na visão de Cairu, o colapso do Estado e daquela sociedade: “Estou admirado de em não se concedendo a Liberdade Política para qualquer sentir e inculcar diversa forma de Governo [...] se haja, com absoluta franqueza, concedido a Liberdade Religiosa, em que tanto se arrisca a felicidade eterna”69. Ecoando Burke, religião e política surgem, nessa visão, com as duas faces do mesmo fenômeno, revelando, mais uma vez, uma concepção tradicional de Estado resistente à ideia do laicismo que, ainda quando muito palidamente, o anteprojeto tentava começar a incorporar.
Buscando uma justificativa constitucional, Cairu afirma que o artigo 14 do anteprojeto seria contraditório com o conjunto do texto. Afinal, se havia uma religião oficial e se o imperador e os próprios deputados eram obrigados a jurar manter o catolicismo, como poderia ser permitido um desvio autorizando outras manifestações e, ainda mais, que fosse dada liberdade política? Se nem o imperador poderia se afastar da Igreja Católica, por que a Constituição permitiria isso aos súditos?, pergunta ele. Para Cairu, caso o artigo fosse aprovado, estaria aberto o caminho para a desarmonia social e política, uma vez que uma população protestante não iria respeitar e obedecer a governantes que tenham jurado o catolicismo. Incorrendo em uma contradição diante de seu argumento do catolicismo firme do país, Cairu também temia que o povo tendesse ao protestantismo tanto quanto tendesse às doutrinas revolucionárias (a rigor, ambas eram desafios à harmonia do corpo social tradicional que ele queria ver preservado). Diz Cairu que a liberdade oferecida “tenderia em breve a muito diminuir o número de católicos, como já se está vendo nos países onde os Governos têm concedido a Liberdade das comunhões do cristianismo”70. Muitas religiões, no pensamento político pré-moderno de Cairu, era sinônimo de desunião e desagregação.
Assim, em seu discurso contra a liberdade religiosa, prevalece o entendimento de que uma religião oficial é necessária para manter a tradição e a ordem. A concessão daquela liberdade não interessaria ao povo, mas apenas aos rebeldes, “libertinos”, seguidores das novas doutrinas revolucionárias. A autoridade do governo equivaleria à autoridade paterna, revelando novamente uma compreensão tradicionalista e conservadora do Estado. Na retórica de Cairu, permitir a liberdade religiosa era o mesmo que autorizar atos de desrespeito contra o pai. Ele afirma que bastam algumas lições de francês para que os filhos “deixem de tomar a benção” dos pais. O “povo” seria um filho inconstante e perigosamente influenciado por doutrinas nocivas, cabendo aos constituintes restringir e “educar” em um sentido determinado pela tradição:
O Povo em dois anos [1821-22] tem desaprendido as doutrinas que consagravam o Poder para o fazer venerável e segurar a Ordem Pública, e não para tirania do Governo; mas o que já vemos é desautorizada a Autoridade em toda parte, até com abandono da cortesia. Grassando as novas doutrinas e seitas, arriscamos a ver entre nós até aniquilada a Autoridade paterna, e seremos todos perdidos, só tendo filhos de perdição71.
Quando o debate voltou em 5 de novembro, Cairu explicitou essa visão do caráter da população:
[...] no princípio, o Povo vê sem exame, e como só objeto de curiosidade, a diferença dos cultos: depois entra-lhe no espírito a suspeita de que todas as religiões são indiferentes; por fim, vacila sobre a verdadeira e fica-lhe no ânimo a dúvida que é (como se tem dito) a procuração do Diabo.72
Assim, Cairu entende que, no Brasil, a fé católica (para além das considerações de sua sincera religiosidade) era o elemento capaz de manter alguma coesão social no Brasil, formado por uma “população heterogênea”. A liberdade religiosa é vista a partir de seu temor diante das transformações que uma independência conduzida por princípios políticos liberais poderia trazer:
Nada há mais contrário à sã política que o dar Liberdade de Religião ao Povo; visto que, pelo menos, o tenta e o induz a duvidar da verdade da que professa. A História mostra que essa é uma das causas mais fortes da decadência dos Estados, e até da sua dissolução, e ruína.73
III. Em defesa do imperador e da centralização do poder
Cairu concebe, portanto, um Estado indissociável da religião. O estranhamento que ele expressa diante da ideia de uma população com algum nível de liberdade religiosa é o mesmo que sente ao se defrontar também com arranjos de vida parlamentar e de um Estado no qual a separação de poderes limita as prerrogativas do monarca. Em outro tema destacado na sua atuação como deputado em 1823, ele defende a centralização administrativa na Corte e no imperador.
Um debate que indiretamente afetaria o poder de D. Pedro diante das futuras legislaturas se deu a respeito de um projeto, apresentado por Araújo Viana, que proibia os deputados de exercerem outro emprego além da deputação. Na verdade, tinha-se em vista uma proibição a outra atividade no Estado, especialmente na função de ministro. Embora o projeto excetuasse os ministros e secretários de Estado daquele ano (e muitos, como Bonifácio, eram deputados), além do intendente de polícia, para o futuro Legislativo ser eleito, o exercício do mandato deveria ser exclusivo. Para assumir um ministério, o deputado teria que licenciar-se do cargo. Apresentado como uma forma de resguardar a divisão dos poderes, evitando que ministros (a rigor, representantes do Executivo) votassem na Assembleia, o projeto retirava poderes do imperador. Na sessão do dia 6 de agosto, Cairu falou contra.
Além de afirmar a inexistência, a seus olhos, de alguma contradição no exercício cumulado de mandato no Legislativo e cargo no Executivo, ele defendeu a manutenção dessa possibilidade. Assim, ele alegou que a presença de deputados no Ministério, ao mesmo tempo que mantinham o assento no Legislativo, seria útil à Assembleia, pois propiciaria economia de tempo para a própria Assembleia conseguir informações sobre o andamento dos trabalhos do governo. Diante de argumentos apresentados por Montezuma e outros, segundo os quais a presença de ministros entre os deputados, além de corromper a separação dos poderes, também seria um fator de intimidação do Legislativo, afetando sua independência, Cairu discordou. Ele teorizou sobre os vários pontos de contato entre os poderes do Estado, mesmo preservando a divisão (um ponto de vista, aliás, contemporâneo, embora os objetivos de Cairu não os fossem): “A Ciência Política ainda não mostrou o tipo de perfeita divisão dos Poderes: sem dúvida eles têm, por assim dizer, pontos subintrantes na sua correlação”74.
Um outro embate contra Montezuma mostrou novamente a preocupação de Cairu com a preservação dos poderes do imperador. Motivou a discussão o fato de D. Pedro ter concedido o título de marquês ao britânico Thomas Cochrane, contratado pelo Império para organizar e comandar a Marinha brasileira, com atuação decisiva na vitória sobre a resistência portuguesa e local contra a separação de Portugal e a centralização de um novo governo do Rio de Janeiro, destacando-se nos confrontos na Bahia e norte do país75. Antes do Brasil, Cochrane já havia atuado nas guerras de independência no Chile e Peru, usufruindo da fama de militar temido e eficiente76. Sua atuação foi tanto decisiva para a consolidação do projeto de independência, centrado no Rio de Janeiro, como polêmica, dados os seus métodos, especialmente a atuação da Armada Imperial no saque de São Luís.
Deputados questionaram a concessão do título a Cochrane, menos pela sua atuação que pelo falo de a decisão ter partido do imperador sem consulta à Assembleia. Por isso, o episódio pode ser compreendido como mais um dos embates que, ao final, levaram ao golpe de novembro. Montezuma solicitou que os deputados analisassem a questão para decidir se manteriam ou não o título concedido por D. Pedro, alegando que como a Assembleia ainda não havia votado uma lei regulando os títulos de nobreza, o ato do imperador seria uma usurpação de competência, uma ingerência indevida e, portanto, nula77. Montezuma ainda levantou a hipótese de a Assembleia sequer manter a instituição de títulos de nobreza, uma vez que a base de um sistema constitucional seria a igualdade entre os cidadãos.
Cairu, evidentemente, se opõe a um conceito de igualdade legal que elimina os nobres. Em mais uma reflexão que renega as influências da Revolução Francesa, ele invoca Aristóteles para apresentar uma interpretação particular do conceito de justiça distributiva, concluindo pela legitimidade da desigualdade com o argumento de que os desiguais não podem ser tratados igualmente, ou seja, os mais meritórios fariam jus ao recebimento de títulos. Embora Cairu não apresente sua opinião sobre a nobreza hereditária, claramente em contradição com essa ideia, ele coloca argumentos a favor de uma nobreza de “mérito”, vendo os títulos como reconhecimento pelos bons serviços prestados ao Império. Os nobres que ele defende são heróis, não herdeiros: “A Nobreza deriva de fatos esplêndidos e úteis à sociedade [...]. Há heroísmos que parecem prodígios a que todo coração irresistivelmente presta admirações e dá glória”78. De todo modo, essa discussão reafirmou mais uma vez sua lealdade à construção de uma ordem jurídica que preservasse ao máximo os poderes do monarca, em compromisso com as instituições do Antigo Regime.
Outro debate relevante no qual Cairu atuou a favor da centralização se deu em torno da criação de universidades no país. Trata-se de uma das questões mais prolíficas da Assembleia, em que muitos deputados se posicionaram. Já estava superado o debate sobre se o Brasil deveria ou não ter universidades: entendia-se que sim, sendo esse um ponto fundamental na afirmação da independência. Contudo, debatia-se sobre a quantidade de instituições e a localização que teriam no Império. A proposta principal propunha duas, uma em Olinda e outra em São Paulo, contemplando norte e sul do país. Cairu se opôs a essa solução, defendendo que apenas uma universidade caberia naquele momento e que ela deveria estar localiza na Corte, com mais recursos e mais facilidade de controle do currículo pelo governo central.
Outros deputados defenderam a primazia de suas províncias de origem, o que tornou esse debate um exemplo da dificuldade em torno da concepção de um Estado que integrasse todas as possessões da antiga América portuguesa. Nesse ponto, é digno de nota o quanto o vocabulário político da época revela a visão que os protagonistas adotavam sobre a questão da unidade da população do país que forjavam. Em discurso na sessão de 18 de outubro, Cairu critica os defensores do estabelecimento de universidades nas províncias. Segundo ele, os deputados que assim atuaram estavam imbuídos de “patriotismo”, referindo-se exclusivamente ao “país” onde nasceram, ou seja, suas províncias, e não ao “Brasil”: “não posso acordar com eles porque só indicaram as respectivas vantagens locais, cada um dando preferência segundo o natural afeto ao próprio país”79. Em outra sessão, de 27 de outubro, ele também usaria esse vocabulário voltado às províncias e não à totalidade do novo país: “Eu também sinto pendor à Pátria, antiga metrópole do Brasil [referindo-se à Bahia] [...]. Porém, ainda que louve os lances dos Srs. Deputados a bem de seus Países, todavia não sei obrar por egoísmo patriótico”80.
Cairu sustenta sua posição a favor de uma única instituição de ensino superior e, sobretudo, localizada na Corte em três ordens de argumentos: a prática dos países mais influentes, a economia e as atuais circunstâncias do Império. Não obstante, a rigor, a disputa se colocava em torno de para onde iria o centro intelectual do país. Se fosse para alguma das províncias, seja ela qual fosse, para Cairu, haveria um desequilíbrio, uma vez que a universidade não seria “brasileira”, mas, sim, do “país” onde ela estivesse, produzindo conhecimento para a província. A Corte seria o único espaço possível, ao menos naquele momento, de uma ciência geral, “brasileira”. Além disso, a busca latente naquele momento pela centralização do governo no Rio de Janeiro também poderia ser ameaçada por universidades provinciais.
No que toca às alegações de ordem econômica (na verdade, mais propriamente fiscais), Cairu alega que o Estado não teria recursos para promover várias instituições de ensino e, ainda mais, fora da Corte, uma vez que o Tesouro estava comprometido com a guerra pela independência. Além disso, como demonstraram Cariello e Perrira, a crise fiscal e a inflação eram problemas latentes que levaram à partida de D. João e comprometiam o governo central no país independente81. Portanto, era um argumento válido. Por conta disso, uma solução aventada pela Assembleia foi sustentar as instituições de ensino superior com doações, partindo da experiência de fundos literários que já existiam. Porém, para Cairu, mesmo essa solução era ruim, já que uma universidade demandava recursos permanentes e vultosos. Por que não estabelecer a instituição na Corte, que já tinha várias instituições de ensino e de artes, o que, por si só, diminuiria os custos para o Estado, questiona ele: “A Economia do Estado, a meu ver, imperiosamente dita a escolha desta Corte do Rio de Janeiro para a primeira universidade do Império; pois bem se pode dizer que, de fato, já se acha estabelecida, e só precisa de suplemento do Curso Jurídico para ser completa”82. Cairu cita a existência de aulas pagas pelo governo ou pela Igreja, de um museu de mineralogia, de um gabinete de pinturas, de uma livraria pública, de dois jardins botânicos e da Tipografia Nacional. Por outro lado, “exceto a Bahia, que já tem alguns desses estabelecimentos, todas as mais capitais das outras Partes integrantes do Império quase carecem de tudo”83. Além disso, em outro argumento fiscal, para o curso de Direito que ainda não existia, os professores seriam mais facilmente encontrados na Corte, entre magistrados, por honorários mais baixos que os cobrados caso esses professores fossem obrigados a dirigir-se a outra província distante.84
Contudo, no discurso de Cairu subjaz aquela razão que os demais argumentos são invocados para amparar: é preciso ter o curso jurídico na Corte por uma questão política. Diz Cairu que “a Política reclama que os estudos públicos das Altas Ciências estejam sob a imediata inspeção do governo imperial, principalmente os de Direito, para que sejam conformes aos verdadeiros princípios da Monarquia Constitucional”85. Tal qual em seu temor de uma proliferação possível de religiões alternativas ao catolicismo, que ele entende como um fator de desordem social, o risco aqui também estaria na “contaminação” da universidade a ser fundada com as ideias políticas contrárias à ordem tradicional advogada por Cairu. Ele pensa especialmente em Pernambuco, com uma universidade em Olinda:
É notório que infelizmente nas províncias do interior, e sobretudo nas do Norte, tem fermentado, e ainda se propagam, crassos e perigosos erros a esse respeito. Presentemente, sob o pretexto de ideias liberais, até as mais discretos Mestres se arriscam a receber influências das opiniões populares, industriosamente propagadas por astutos Demagogos. Sem dúvida, as classes superiores e médias estão sãs: mas sempre é temível o contágio do século e a fantasia dos entusiastas86.
Na sessão do dia 27 de outubro, ele volta a atacar Pernambuco afirmando que se outra província deveria receber a universidade, devia ser a Bahia, leal ao Império, melhor estabelecida economicamente e dotada de instituições de ensino. Em 1823, diz Cairu que enquanto a Bahia havia heroicamente lutado pela independência, de Pernambuco vinha a ameaça de ruptura do projeto de integração do Império: “é notório que apresenta o espetáculo (nas classes inferiores, de indivíduos turbulentos) de desordem e insubordinação, de sorte que estamos em contínuo susto de que sobrevenha infausta notícia de quebra da União do Império”87. Uma universidade em Pernambuco, distante do controle do currículo que poderia ser mais bem realizado na Corte, traria o risco de “corromper os jovens no foco de jacobinismo”88. Para Cairu, a liberdade de ensino seria tão nociva quanto a liberdade religiosa, com as mesmas consequências. Na visão dele, um governo prudente deveria controlar a instrução pública, evitando que fossem ensinadas as ideias da Ilustração que ele combate:
A Natureza apresenta imenso horizonte de Estados. Mas em objetos de Religião e Política, nenhum Governo regular, e prudente, deixou de exercer a Superintendência da Instrução e Opinião Pública. Pode algum governo tolerar que em quaisquer aulas se ensinem, por exemplo, as doutrinas do Contrato Social do Sofista de Genebra, do Sistema da Natureza e da Filosofia da Natureza de ímpios escritores que tem corrompido a mocidade que forma a esperança da nação para serem seus legisladores, magistrados, mestres e empregados na Igreja e no Estado? Nunca, nunca, nunca.89
Em tempo, Cairu, em uma das raras menções à Economia Clássica em seus discursos, traz um argumento de Adam Smith para consolidar sua posição. Segundo o autor de A Riqueza das Nações, o progresso natural de um país seguiria o curso do litoral ao centro do território. Logo, levar a universidade ao interior do Império seria uma inversão no caminho natural da prosperidade.90
IV. Os limites do liberalismo
Em novembro, a tensão entre a Assembleia e o imperador chegava ao ápice. No dia 7 daquele mês, Cairu faz seu discurso mais “econômico” quando debate o tema das corporações de ofício e os limites ao direito de propriedade privada. Embora seja ele conhecido como o introdutor do liberalismo econômico no país, suas posições demarcam distância com aquela escola. Discutia-se o artigo 17 do anteprojeto de Constituição, que abolia as corporações de ofício: “Art. 17 - Ficam abolidas as corporações de ofícios, juízes, escrivães e mestres”91. Mais adiante, o artigo 19 do anteprojeto proibia também o estabelecimento de novos monopólios, designando para lei específica a forma de acabar com aqueles ainda existentes.
A abolição de tais corporações visava tanto à liberalização do mercado interno, fomentando a concorrência, como à abolição de uma instituição que provinha do Antigo Regime contra o qual a independência se afirmava. Não obstante, Cairu se posiciona contrariamente ao artigo e pede sua supressão, indicando que essa matéria devia ser objeto de lei, não sendo tratada no texto da Constituição. Cairu, o liberal, cede nesse ponto à realidade e, embora reconheça idealmente os benefícios do fim daquelas corporações, afirma que isso não seria aplicável ao Brasil daquele momento.
Ainda que aquelas corporações não sejam rigorosos monopólios [condenáveis para ele e proibidos pelo art. 19 do anteprojeto], contudo os Economistas os consideram monopólios latos, porque restringem a concorrência dos Artistas, diminuindo a possível quantidade, perfeição, e barateza das obras [...]. Estando porém estabelecidas, não convém, em virtude deste prudente Artigo, a sua repentina extinção.92
No Brasil, diz Cairu, ao contrário das corporações que preocupavam os economistas clássicos, essas instituições seriam quase nulas e não fariam um mal considerável. Na verdade, os artesãos brasileiros precisam enfrentar a concorrência dos produtos importados, graças ao tratado de livre-comércio que o próprio Cairu defendera anos antes da independência do país.
Além disso, ele traz um outro elemento para justificar sua posição, que é contrária à Economia Clássica. Segundo ele, em um argumento que, mais uma vez, externa sua posição paradoxal de pensador atuando na fronteira entre dois mundos, Adam Smith errou ao condenar as corporações de ofício, porque deixou de considerar os benefícios que elas traziam ao tecido social, educando os jovens, ensinando uma profissão e encaminhando os súditos do rei ao caminho da obediência à hierarquia. Interessante também a repulsa de Cairu pelos franceses, mesmo em exemplo distante da influência do Iluminismo político: teria sido a leitura de autores franceses célebres na sua época que teria levado Smith ao erro com relação às corporações. Segundo ele,
[...] o célebre Adam Smith é um dos acérrimos antagonistas de tais Corporações, porque escreveu no fervor das doutrinas dos Economistas Franceses, que no seu tempo muito vogavam; e por isso nessa parte tem sido arguido de erro ainda pelos comentadores da sua imortal obra da Riqueza das Nações93.
Cairu cita William Playfair (1759 - 1823), conterrâneo e editor de Adam Smith, que apontou um possível erro na análise deste autor. Segundo Playfair, Smith analisou as corporações de artesãos apenas pelo viés da defesa da concorrência, que produziria bens melhores e mais baratos, mas desconsiderou o aprendizado moral que os aprendizes adquiriam nessas oficinas94.
Em outra crítica aos clássicos, Cairu cita um “erro” de David Ricardo, que, no Parlamento, teria pedido naquele mesmo ano de 1823 a proibição da utilização de mão de obra de meninos pobres nos navios ingleses, uma prática comum que obrigava os donos das embarcações a empregar essas crianças. Segundo afirma Cairu, Ricardo alegava que essa prática feria tanto a liberdade como o direito de propriedade. Mais uma vez defendendo a prerrogativa do Estado ante a ação individual, ele fez coro com os que discordaram de Ricardo no Parlamento britânico dizendo que a Marinha da Inglaterra se desenvolveu graças a expedientes como aquele. Aos olhos de Cairu, as liberdades naturais, mesmo as ligadas à atividade econômica, estavam abaixo do interesse coletivo representado pelo Estado, uma clara visão pré-moderna da sociedade e do papel do governo. “Não creio em vagos direitos individuais no estado civil, mas sim em práticos Direitos Sociais, que se fazem necessárias restrições da Liberdade natural pelos interesses do bem público”, afirma. Para concluir, cita Burke, afirmando que a liberdade de indústria deve ser restringida quando isso ajudar o interesse comum95.
A mesma posição, favorável à supremacia do Estado diante das liberdades econômicas, é expressa por ele também na discussão dos artigos 20 e 21 do anteprojeto, naquela sessão do dia 7 de novembro. Esses dispositivos tratavam de limitações ao direito de propriedade, especialmente no caso das possibilidades de desapropriação:
Art. 20 - Ninguém será privado de sua propriedade sem consentimento seu, salvo se o exigir a conveniência pública, legalmente verificada.
Art. 21 - Neste caso será o esbulhado indenizado com exatidão, atento não só o valor intrínseco, como o de afeição, quando ela tenha lugar96.
O discurso de Cairu vai novamente no sentido da centralização dos poderes no imperador. São apresentados argumentos contraditórios diante dos princípios da Economia Política e contra as liberdades civis. Quanto ao artigo 20, Cairu propôs que fosse suprimida a última parte - a expressão “legalmente verificada”. Para ele, não deveria haver controle legal e judiciário das ações de esbulhos cometidos pelo Executivo. A exigência de uma justificativa calcada no interesse público (que poderia ser um juízo subjetivo) era limitada pela previsão legal, ou seja, a decisão do Executivo deveria amparar-se, em última instância, na lei definida pela Assembleia. Para Cairu, esse dispositivo diminuía a autoridade do imperador e devia, por isso, ser rejeitado. Ou seja, na sua avaliação, uma desapropriação teria por base unicamente a vontade do Executivo, sem qualquer controle. Em sua justificativa, ele alega que o artigo abria a possibilidade de cidadãos demandarem contra a autoridade do imperador em juízo, o que seria inaceitável, no seu entendimento.
Porque esta cláusula parece dar liberdade ao cidadão a quem se tira a sua propriedade por ato do Governo, quando o exige a conveniência pública, de fazer demanda contra a Autoridade, que requer o sacrifício da propriedade; o que muitas vezes seria contra o evidente bem público e urgência de sacrifício. Como lhe fica salvo o direito da indenização, seria incivil e perigosa toda disputa97.
Já quanto ao artigo 21, ele propôs a supressão da expressão “com exatidão”, por considerá-la redundante, e a retirada da indenização do valor de afeição pelo bem, por achar que essa mensuração seria muito subjetiva. Assim, ele propôs que o artigo mandasse apenas indenizar com valor arbitrado por peritos. Dessa forma, no Estado ideal de Cairu, não caberiam demandas judiciais contra o próprio Estado, da mesma forma que não caberiam os “modismos” das garantias individuais, como ele mencionara na discussão sobre liberdade religiosa.
Considerações finais
Em 10 de novembro de 1823, vésperas do ataque da tropa contra a Assembleia, que levou à dissolução do primeiro corpo legislativo do país, o clima era tenso. Por proposta de Antônio Carlos de Andrada e Silva, foi admitido o ingresso de populares no local das sessões. As galerias já estavam lotadas, e a proposta permitia o acesso ao próprio plenário, atrás das cadeiras dos deputados. A maioria votou favoravelmente, para escândalo de Cairu. Invocando o episódio da revolta de 1821 em que D. João VI foi obrigado por populares a jurar respeitar uma Constituição que ainda seria elaborada98, Cairu o faz como um precedente negativo: “Senhores, não vamos levar a praça de assalto, não queiramos renovar a cena horrorosa da Praça do Comércio de 21 abril [de 1821], quando os Eleitores foram encurralados e obrigados sem liberdade, e se precipitaram a desatinos”99.
Antônio Carlos ironiza o colega e responde a Cairu reforçando quem considerava a real ameaça naquele contexto: “O que me admira é haver tanto medo do Povo e tão pouco da Tropa! No meio do Povo Brasileiro nunca podemos estar mal”100. Os gritos de apoio do público e de deputados ao Andrada mostravam que a posição da Assembleia e dos seus apoiadores estava definida. Contudo, sem forças para resistir contra a tropa, ela foi dissolvida no dia 12 de novembro, após uma tensa madrugada em que se colocou em sessão permanente. Cairu, um notório apoiador de D. Pedro, na tarde do dia 11, evitou se pronunciar e retirou-se antecipadamente da sala “por incomodado”, conforme anotaram os taquígrafos101.
Cairu encerra assim sua participação na primeira assembleia constituinte do país. Entrara tardiamente, ocupando a vaga deixada pelo também baiano Cipriano Barata, que era seu exemplo mais bem-acabado do rebelde que devia ser combatido. Quando a Assembleia afirmou suas prerrogativas ante um imperador encorajado pela força militar momentânea e desinteressado em um Legislativo que o contivesse, coerentemente Cairu calou-se e tomou o partido de D. Pedro. Anos depois, o imperador iria recompensá-lo com o título de Visconde, não sem antes ter continuado a cumprir suas funções de entregar ao país uma constituição dentro de suas concepções, já que foi chamado pelo próprio imperador a participar da elaboração do texto outorgado em 1824, ano no qual publicou a primeira parte de sua Constituição Moral e Deveres do Cidadão com exposição da moral publica conforme espírito da Constituição do Império. Nessa obra, dedicada a D. Pedro I, Cairu retoma vários dos temas com os quais se mobilizou durante a Assembleia Constituinte, concluindo a segunda parte no ano seguinte102.
Como protagonista de sua época, Cairu foi um homem entre dois mundos. Ao mesmo tempo que havia sido o introdutor de parte das inovações da Economia Política no debate público no mundo de língua portuguesa, foi também contrário a qualquer mudança profunda na ordem estabelecida. Além disso, deixou de lado alguns princípios talvez caros ao liberalismo dos dias de hoje quando estes poderiam ameaçar o então poder da Monarquia. Diante do bem comum - que ele vê expresso na vontade do príncipe -, os direitos naturais e a liberdade econômica deveriam ceder. Cairu acredita na supremacia do Estado (mesmo contra o mercado) e na ordem hierárquica e religiosa da sociedade contra a concepção de indivíduo. Um paradoxo expresso em sua própria carreira como graduado funcionário no período joanino e referência no governo independente sob D. Pedro I, um pensador que apenas muito temerosamente acabou cedendo aos fatos e aderindo à separação de Portugal.
O seu pensamento, conservador e católico, pode soar contraditório 200 anos depois, mas naquele momento respondia aos desafios intelectuais de um mundo que se modificava. Cairu é um pensador que luta contra o desabamento do seu mundo. Sua oposição à ideia de uma revolução, vista por ele como uma doença, é justificada pela leitura e referências a Edmund Burke, mas é possível encontrar, a partir da análise dos seus discursos na Assembleia Constituinte, uma visão pré-moderna ressentida diante do avanço de uma nova concepção de política, de Estado e de sociedade. O triunfo da Revolução Francesa e das republicanas revoluções de independência na América de colonização espanhola havia sido também o triunfo de ideias abstratas, muito distantes da concretude dos atores políticos do Antigo Regime. “Nação”, “soberania”, “representação”, “opinião pública” e “garantias individuais” são ideias distantes da tangibilidade dos poderes tradicionais ameaçados pela irrupção dessa nova concepção103. O medo erudito apresentado por Cairu diante de um mundo em transformação é expressão do desconcerto de uma elite que desejava as vantagens que a independência poderia trazer sem os riscos de aprofundamento revolucionário, que seria capaz de solapar as bases de uma sociedade escravista com hierarquias cristalizadas. Por isso, em 1823, se calou aquele Cairu que, em 1808, defendeu a modernização da economia colonial com a abertura dos portos às nações amigas.
Estudar a atuação política de Cairu no contexto da independência - um economista, a princípio, liberal, ao mesmo tempo que é também um inimigo do liberalismo - é uma forma de nos aprofundarmos também nas contradições próprias da elite e do Império que seria construído por ela, com pungentes tesões internas que rebentariam nas décadas seguintes e que, de alguma forma, marcam o Estado brasileiro até hoje.
Fontes
Bibliografia
-
ALMEIDA, Paulo Roberto. A Brazilian Adam Smith: Cairu as the Founding Father of Political Economy in Brazil at the beginning of the 19th century. MISES: Interdisciplinary. Journal of Philosophy, Law and Economics, São Paulo, 6 (1), 2018. DOI: https://doi.org/10.30800/mises.2018.v6.64
» https://doi.org/10.30800/mises.2018.v6.64 - ALMEIDA, Paulo Roberto. Construtores da Nação. São Paulo: LVM Editora, 2022.
- AMOROSO LIMA, Alceu. “Cairu” - Conferência pronunciada no Instituto Nacional de Música. A Ordem, Rio de Janeiro, ano XVI, nº 72, p. 217 a 243, set-out de 1936.
- BETHELL, L. A Independência do Brasil. In: BETHELL, L (org.) História da América Latina - Da Independência a 1870, vol. III, p. 187-230, São Paulo: Edusp, 2001.
- BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução em França. Brasília: UnB, 1997.
- CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira. 6ª. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.
-
CARDOSO, José L. O Liberalismo Económico na Obra de José da Silva Lisboa; Revista História Econômica & História de Empresas Vol. 1(1), pp. 146 -164, 2002 DOI: https://doi.org/10.29182/hehe.v5i1.137
» https://doi.org/10.29182/hehe.v5i1.137 - CARIELLO, Rafael; PEREIRA, Thales Zamberlan. Adeus, senhor Portugal - Crise do absolutismo e a Independência do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2022.
-
CELESTINO, Guilherme. As críticas à Assembleia brasileira e o enfraquecimento do papel de Silva Lisboa como liderança intelectual na Independência. Acervo, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, p. 1-16, set./dez. 2022-B. Disponível em: https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/1848
» https://revista.an.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/1848 -
CELESTINO, Guilherme. From Conciliation to Threat: Silva Lisboa, Viscount of Cairu, and the Luso-Brazilian Empire in 1821. Bulletin of Latin American Research, Vol. 41, No. 2, p. 227-240, 2022-A https://doi.org/10.1111/blar.13262
» https://doi.org/10.1111/blar.13262 - CUNHA, Pedro Carneiro da. A Fundação de um Império Liberal. In: HOLLANDA, Sérgio Buarque de(dir.). História Geral da Civilização Brasileira - O Brasil Monárquico. 1. O processo de emancipação. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
- FENELON, Dea Cairu e Hamilton: um estudo comparativo. Tese de doutorado - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanasda Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 1973
-
FIGUEIREDO, A. G. e GREMAUD, A. (2022) Agrarismo e industrialismo na Assembleia Constituinte de 1823: um debate sobre o futuro do Brasil. Topoi, Rio de Janeiro, v. 23, n. 51, p. 847-869, set./dez. 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2237-101X02305109
» https://doi.org/10.1590/2237-101X02305109 - FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. 27ª.Edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000.
- GOLDMAN, Noemí. Casos de Continuidad y Ruptura: Virreinato del Río de la Plata e Capitanía General de Chile, 1810-1830. In: Historia General de América Latina V - La crisis estructural de las sociedades implantadas. Paris/Madrid: Unesco/Trotta, 2003.
- GAUCHET, Marcel. Un monde désenchanté?, Paris, Les Éditions de l’Atelier / Éditions Ouvrières. 2004.
- GUERRA, François-Xavier. “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”. In: GUERRA, François Xavier; Lempérière, Annick(org). Los Espacios Públicos en Iberoamérica - ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. México: Fondo de Cultura Económica: 1998, p. 109-139.
- GUERRA, François-Xavier. Modernidad e Independencias - ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Fondo de Cultura, 2000.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995.
- KIRSCHNER, Tereza Cristina. José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu - itinerários de um ilustrado luso-brasileiro. São Paulo e Belo Horizonte: Alameda / PUC Minas, 2009.
- LIMA, Manuel de Oliveira. D João VI no Brasil (1808-1821). Brasília: FUNAG, 2019.
- LISBOA, José da Silva. Constituição Moral e Deveres do Cidadão - com exposição da moral pública conforme o espírito da Constituição do Império, parte I e parte II Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1824, 1825
- LISBOA, José da Silva. Estudos de Bem Comum e Economia Política ou ciência das leis naturais e civis de animar e dirigir a geral indústria e promover a riqueza nacional e prosperidade do Estado. In: ALMODOVAR, A. (ed.). Jose da Silva Lisboa - escritos econômicos escolhidos - Parte II, Lisboa, Banco de Portugal, 1993.
- LISBOA, José da Silva. Observações sobre a franqueza da indústria, e estabelecimento das fábricas no Brasil. Brasília: Senado Federal, 1999.
- LISBOA, José da Silva. Observações sobre o Comércio Franco no Brasil. In: ALMODOVAR, A. (ed.). Jose da Silva Lisboa - escritos econômicos escolhidos - Parte I, Lisboa, Banco de Portugal , 1992b.
- LISBOA, José da Silva. Princípios de Economia Política. In: ALMODOVAR, A. (ed.). Jose da Silva Lisboa - escritos econômicos escolhidos - Parte I, Lisboa, Banco de Portugal , 1992a.
- LISBOA, José da Silva. Roteiro Brazilico ou coleção de princípios e documentos de direito político em série de números, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1822
- LUSTOSA, Isabel “Cairu, panfletário: contra a facção gálica e em defesa do trono e do altar” In: NEVES, L.M.B., MOREL, M. & FERREIRA, T.M.B. (orgs.) História e Imprensa representações culturais e práticas de imprensa. Rio de Janeiro: DO&A, FAPERJ, 2006.
- LUSTOSA, Isabel. Insultos Impressos. A Guerra dos Jornalistas na Independência (1821-1823). São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
-
LYNCH, Christian C. “Absolutismo político e liberalismo econômico: o reformismo ilustrado de José da Silva Lisboa (1800-1821)”. R. IHGB, Rio de Janeiro, 181(483): 47-74, maio/ago. 2020. DOI:10.23927/issn.2526-1347.RIHGB. (483):47-74
» https://doi.org/10.23927/issn.2526-1347.RIHGB - LYNCH, Christian C. “Conservadorismo caleidoscópico: Edmund Burke e o pensamento político do Brasil oitocentista”. Revista Lua Nova, São Paulo, 100: 313-362, 2017.
- LYNCH, John. Las Revoluciones Hispanoamericanas (1808-1826). Barcelona: Ariel, 2008.
-
MONTEIRO, Pedro Meira. “Cairu e a Patologia da Revolução”. São Paulo, Estudos Avançados, v. 17, nº 49, p. 349-358, 2003. https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000300022
» https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000300022 -
MONTEIRO, Pedro Meira. “Os fugitivos e os mastins: em torno dos homens brutos de Cairu”. São Paulo, Estudos Avançados , v. 20, nº 56, pp. 205-224, 2006. https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10130
» https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10130 - MONTEIRO, Pedro Meira. Os limites da boa razão: Cairu, o impulso utópico e a linhagem do jornalismo conservado. In: LUSTOSA, I. & OLIVIERI-GODET, R. (org.) Imprensa, história e literatura: o jornalista escritor. Vol. 1: Dezenove: o século do jornal. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa/7Letras, 2021.
- MONTEIRO, Pedro Meira. Um moralista nos trópicos: o Visconde de Cairu e o Duque de la Rochefoucauld. São Paulo: Boitempo, 2004.
-
NEVES, Lúcia B. P. e NEVES, G. P. S. . “Constituição”, Ler História [Online] n. 55, 2008. consultado em 27 novembro 2023. DOI: https://doi.org/10.4000/lerhistoria.2203
» https://doi.org/10.4000/lerhistoria.2203 -
NOVAIS, Fernando A; ARRUDA, José Jobson de Andrade. “Prometeus e Atlantes na forja da Nação”. Economia e Sociedade, Campinas, v. 12, n. 2(21), p. 225-243, jul/dez de 2003. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643066/10618
» https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8643066/10618 - OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. Ideias em Confronto - embates pelo poder na Independência do Brasil (1808-1825). São Paulo: Todavia, 2022.
- PIMENTA, João Paulo. A Independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015.
- PINHO, Wanderley. A Abertura dos Portos na Bahia: Cairu, os ingleses, a Independência. Salvador: Secretaria da Cultura do Governo da Bahia, 2008.
- RIZZINI, Carlos. O Livro, o Jornal e a Tipografia no Brasil. Rio de Janeiro: Kosmos, 1946.
- ROCHA, Antonio Penalves(org. e introd.). José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. São Paulo: Editora 34, 1ª edição, 2001.
- ROCHA, Antonio Penalves. “A difusão da economia política no Brasil entre fins do século XVIII e o início do século XIX” Revista de Economia Política: Vol. 13 (4), pp; 47-57, out./dez. 1993
- SAN TIAGO DANTAS, Francisco. “Cairu: protagonista de sua época”, in: San Tiago Dantas, F. C. Figuras do Direito. Rio de Janeiro: J. Olympio Editora, p. 3-20, 1962.
- SLEIMAN, A. “Assembleia Constituinte de 1823” In: OLIVEIRA, C.H.S e PIMENTA, J.P. Dicionário da Independência do Brasil: história, memoria e historiografia. São Paulo, EDUSP, publicações BBM, 1923.
- SPENCE, I. & WAINER, H, “William Playfair (1759-1823): Inventor and ardent advocate of statistical graphics”. In C. C. Heyde, & E. Seneta, (Eds.), Statisticians of the Centuries. New York: Springer-Verlag, 2001.
- TONKS, Paul “Leviathan’s Defenders: Scottish Historical Discourse and the Political Economy of Progress” In: Daniel Carey and Christopher J. Finlay(Eds.) The Empire of Credit: The Financial Revolution in Britain, Ireland and America, 1688-1815. Irish Academic Press, 2011
-
5
O jacobinismo é um termo forjado ainda na revolução Francesa do fim do século XVIII associado a um grupo político dito dos jacobinos em oposição aos girondinos. Mesmo que não haja homogeneidade, em geral, os jacobinos foram defensores de ideais como liberdade e igualdade e de princípios democráticos, sobretudo pela ampliação da participação e da soberania popular. No caso, Silva Lisboa faz referência implícita aos pernambucanos que participaram do movimento da Insurreição Pernambucana de 1817.
-
6
Refere-se aqui a expulsão dos holandeses, depois da invasão ocorrida no início do século XVII. A capitulação holandesa ocorreu em 1654, quando Portugal volta a ser a metrópole que controlava a região de Pernambuco e D João IV o seu soberano.
-
7
DAGC, 29/08/1823, v. 1, nº 64, p. 671 As citações aos Diários da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, que contém a descrição das sessões anotadas pelos taquígrafos, serão citadas pela sigla “DAGC”, seguida pelo dia da sessão, volume e número do Diário. Utiliza-se aqui a edição fac-similar publicada pelo Senado Federal em 2003. As citações desse documento tiveram sua ortografia atualizada.
-
8
Figueiredo & Gremaud, 2022, p. 847-869.
-
9
Lisboa, 1993.
-
10
Pimenta, 2015.
-
11
Guerra, 2000.
-
12
Guerra, 1998, p. 131.
-
13
Almeida, 2018.
-
14
Lisboa, 1992ª.
-
15
Lisboa, 1992b.
-
16
Lisboa, 1999.
-
17
Novais & Arruda, 2003, p. 74.
-
18
Almeida, 2022.
-
19
Amoroso Lima, 1936.
-
20
Holanda, 1995.
-
21
Rocha, 2001, p. 36.
-
22
Cardoso, 2002, p. 161.
-
23
Furtado, 2000, p. 106.
-
24
Fenelon, 1973.
-
25
Monteiro, 2021.
-
26
Rocha, 1993.
-
27
Monteiro, 2021.
-
28
Lima, 1909; e Rizzini, 1946
-
29
Holanda, 1995, p. 84-85.
-
30
Candido, 2000, p. 215.
-
31
Amoroso Lima, 1936, p. 243.
-
32
Novais & Arruda, 2003, p. 233.
-
33
San Tiago Dantas,1962, p. 20.
-
34
Pinho, 1961; e Dutra, 1964.
-
35
Lustosa, 2000.
-
36
Oliveira, 2022, p. 205-206.
-
37
Lustosa, 2000; Monteiro, 2004, Lynch 2020, Celestino 2022
-
38
Celestino, 2022a, p. 227.
-
39
Lynch, 2020.
-
40
Monteiro, 2004.
-
41
Kirschner, 2009.
-
42
Rocha, 2001, p. 16-19.
-
43
Neves e Neves, 2008.
-
44
Gauchet, 2008.
-
45
Neves e Neves, 2008.
-
46
Burke, 1997.
-
47
A influência de Edmund Burke no pensamento de Silva Lisboa, bem como na construção do pensamento conservador brasileiro no século XIX, é um tema que escapa às dimensões do objeto deste artigo. Para uma abordagem aprofundada sobre o tema, recomenda-se a leitura do trabalho de Lynch (2017).
-
48
Guerra, 2000.
-
49
Monteiro, 2006, p. 205.
-
50
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 4.
-
51
Rocha, 2001, p. 35.
-
52
Monteiro, 2003.
-
53
Lustosa, 2006.
-
54
Celestino, 2022b, p. 8.
-
55
Sobre a Assembleia Constituinte, destacamos o verbete de Sleiman, 2023.
-
56
DAGC, 01/09/1823, vol. 1, nº 65, p. 689.
-
57
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 4.
-
58
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 4.
-
59
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 4.
-
60
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 4.
-
61
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 7.
-
62
Celestino, 2022b, p. 12.
-
63
Monteiro, 2003, p. 353.
-
64
DAGC, 15/09/1823, vol.2, nº 1, p. 7.
-
65
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 9.
-
66
DAGC, 15/09/1823, vol. 2, nº 1, p. 8.
-
67
DAGC, 01/09/1823, vol. 1, nº 65, p. 690.
-
68
DAGC, 29/10/1823, vol. 2, nº 26, p. 335.
-
69
DAGC, 29/10/1823, vol. 2, nº 26, p. 335.
-
70
DAGC, 29/10/1823, vol. 2, nº 26, p. 335.
-
71
DAGC, 29/10/1823, vol. 2, nº 26, p. 335.
-
72
(DAGC, 05/11/1823, vol. 2, nº 26, p. 359.
-
73
DAGC, 05/11/1823, vol. 2, nº 26, p. 357.
-
74
DAGC, 06/08/1823, vol. 1, nº 53, p. 529.
-
75
Betthell, 2001, p. 221-223.
-
76
Goldman, 2003; e Lynch, 2008, p. 170-177.
-
77
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 263-264.
-
78
DAGC, 31/10/1823, vol. 2, nº 27, p. 349.
-
79
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 260.
-
80
DAGC, 27/10/1823, vol. 2, nº 25, p. 323.
-
81
Cariello & Pereira, 2022.
-
82
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 260.
-
83
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 261.
-
84
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 261.
-
85
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 261.
-
86
DAGC, 18/10/1823, vol. 2, nº 20, p. 261.
-
87
DAGC, 27/10/1823, vol. 2, nº 25, p. 324.
-
88
DAGC, 27/10/1823, vol. 2, nº 25, p. 324.
-
89
DAGC, 27/10/1823, vol. 2, nº 25, p. 324.
-
90
DAGC, 27/10/1823, vol. 2, nº 25, p. 324.
-
91
DAGC, 01/09/1823, vol. 1, nº 65, p. 690.
-
92
DAGC, 07/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 377.
-
93
DAGC, 07/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 377.
-
94
Segundo Paul Tonks (2011, pg. 79), Playfair foi o editor da Riqueza das Nações de Adam Smith, em 1805, ao qual ele acrescentou capítulos suplementares. No mesmo ano, publicou An Inquiry into the Permanent Causes of the Decline and Fall of Powerful and Wealthy Nations. Designed To Shew How The Prosperity Of The British Empire May Be Prolonged. Para Tonks, “Tendo sido um dos primeiros entusiastas da Revolução Francesa, como membro da comunidade anglófila em Paris que havia testemunhado a tomada da Bastilha, Playfair tornou-se um dos oponentes mais determinados da Revolução. Ele escreveu uma série de peças antirrevolucionárias na década de 1790, após seu desencanto com o radicalismo político”. Provavelmente, o texto mais influente de Playfair foi sua História do Jacobinismo, Seus Crimes, Crueldades e Perfídias: Compreendendo uma Investigação sobre a Maneira de Disseminar, sob a Aparência da Filosofia e da Virtude, Princípios que são Originalmente Subversivos da Ordem, Virtude, Religião, Liberdade e Felicidade, publicado em Londres em 1795. Playfair, contudo, é conhecido como tendo sido um dos fundadores dos métodos gráficos em estatística (Spence e Weiner, 2001).
-
95
DAGC, 07/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 377. No discurso, Cairu não informa a qual texto de Edmund Burke se refere nessa citação.
-
96
DAGC, 01/09/1823, vol. 1, nº 65, p. 690.
-
97
DAGC, 07/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 378.
-
98
Cunha, 2004, p. 158-161.
-
99
DAGC, 10/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 389.
-
100
DAGC, 10/11/1823, vol. 2, nº 29, p. 389.
-
101
DAGC, 11/11/1823, vol. 2, nº 31, p. 403.
-
102
Lisboa, 1824 e 1825.
-
103
GUERRA, 1998, p. 131
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
30 Nov 2023 -
Aceito
10 Maio 2024
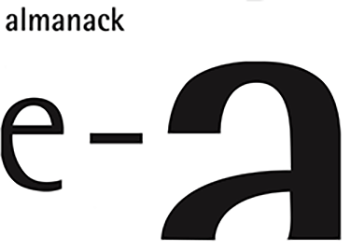
 A ATUAÇÃO DE JOSÉ DA SILVA LISBOA (VISCONDE DE CAIRU) COMO DEPUTADO NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1823
A ATUAÇÃO DE JOSÉ DA SILVA LISBOA (VISCONDE DE CAIRU) COMO DEPUTADO NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1823