Resumo
Tido como um dos nomes centrais do pensamento liberal português da primeira metade do século XIX, Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) escreveu, durante o período em que morou em Paris, o livro Cours de droit public interne et externe (1830), mais tarde adaptado para o português sob o título de Manual do cidadão (1834), textos que consagram o ingresso do autor no debate ocidental referente ao constitucionalismo. Em ambas as obras, Pinheiro Ferreira apresenta seu polêmico “poder eleitoral”, concebido como um ente autônomo que deveria atuar na escolha de funcionários públicos de todas as instâncias do Estado, inclusive dos poderes executivo e judiciário. Este artigo pretende examinar de que maneira tal formulação se relaciona com o pensamento mais geral de Pinheiro Ferreira a respeito do funcionamento dos regimes representativos, bem como pontuar características e comentários tecidos à época e apropriações feitas por intelectuais e grupos políticos em meados do século XIX.
Palavras-chave:
poderes do Estado; constituição; Silvestre Pinheiro Ferreira
Abstract
Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) was a key figure in Portuguese liberal thought during the first half of the 19th century. During his stay in Paris, he wrote the book Cours de droit public interne et externe (1830), which was later adapted into Portuguese as the Manual do Cidadão (1834). These texts illustrate his entry into the Western debate on constitutionalism. In both works, Pinheiro Ferreira presents his controversial idea of the “electoral power”, which he viewed as an independent entity that should select public officials at all levels of the State, including the executive and judicial branches. This article aims to explore how this concept relates to Pinheiro Ferreira’s overall thinking on representative regimes, as well as to highlight the characteristics, comments, and appropriations made by intellectuals and political groups in the mid-19th century.
Keywords:
state government powers; constitution; Silvestre Pinheiro Ferreira
Introdução
A virada do século XVIII para o XIX assistiu ao espraiamento de certo cosmopolitismo do pensamento jurídico ocidental. Para além das especificidades locais e das conjunturas nacionais, forjou-se uma “república das letras” do constitucionalismo moderno que lançou mão de linguagem própria e de conceitos mais ou menos comuns a respeito do direito ocidental e de sua imbricação com as nascentes constituições, entendidas como produtoras de uma nova ordem das coisas. Tal intercâmbio de saberes proporcionou aos autores um rico diálogo de experiências, seja na feitura de textos ou na observação das consequências de sua aplicação prática.3 Se por um lado é verdade que, em alguns momentos, o debate jurídico-constitucional da primeira metade do Oitocentos se aferrou a um doutrinarismo pouco flexível e fechado em si, por outro ele fomentou a discussão em torno da fixação dos sentidos dos experimentos constitucionais da época, servindo inclusive como arma política para grupos em disputa.
É justamente nesse contexto que se inscreve a obra de Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846), figura que conquistou notoriedade na administração do Império luso-brasileiro durante a regência e o reinado de D. João VI, mas que perdeu espaço na máquina pública portuguesa no curso da década de 1820. Com a crise do vintismo e a ascensão dos miguelistas, Pinheiro Ferreira passou a residir em Paris, dedicando-se à produção de escritos na área do direito constitucional e usufruindo - consciente e estrategicamente - da sua condição de partícipe de um corpo intelectual voltado para a resolução de questões tidas à época como elevadas na sociedade europeia. É no período parisiense, intelectualmente intenso para o autor, que vemos surgir a polêmica concepção de “poder eleitoral”, esboçada pela primeira vez no Cours de droit public interne et externe, de 1830. Na obra, o poder eleitoral aparece como autônomo, em pé de igualdade com o restante dos poderes constitucionais e ordenadores do Estado.4 Ainda hoje, mormente no âmbito dos estudos jurídicos, Pinheiro Ferreira é recordado como um exemplo da inquietação oitocentista com relação ao aprimoramento dos sistemas eleitorais.5
Inicialmente, convém ter cautela ao mobilizar o termo “poder eleitoral” para o século XIX, uma vez que, por surgir em diferentes idiomas e realidades, não constitui tarefa fácil traçar uma definição clara sem incorrer em imprecisões ou até mesmo anacronismos. Isso se deve, fundamentalmente, ao seu caráter equívoco no interior do debate político do Oitocentos. Veja-se o caso do Império do Brasil, que conviveu com três usos mais correntes da expressão: como exercício do direito constitucional de votar; enquanto o eleitorado em si, ou seja, o conjunto de votantes e eleitores; e como o agrupamento de regras e procedimentos relativos aos processos eleitorais.6 Tais acepções não encerravam unidades conceituais acabadas e frequentemente se entrelaçavam e eram instrumentalizadas de acordo com as urgências da conflagração política, situação que não se restringia à realidade brasileira. Na Inglaterra, a locução electoral power passou a ser largamente utilizada pela imprensa periódica após o controverso Reform Act de 1832, no sentido de uma “força eleitoral” detida por segmentos da população.7
Para o caso português, foquemos apenas no cenário da ascensão de D. Miguel ao trono depois da reunião das cortes tradicionais do reino luso, em 1828, conjuntura a qual viu florescer alguns arrazoados quanto à matéria. Apesar das discrepâncias de entendimento sobre o liberalismo e das eventuais desavenças entre si, homens como Silvestre Pinheiro Ferreira, José Ferreira Borges (1786-1838) e Custódio Rebelo de Carvalho (1805-1883) - todos a morar fora de Portugal ao final da década de 1820 - fizeram da associação entre poder eleitoral e direito de voto mais do que uma formalidade jurídico-constitucional. O que estava em jogo, como ver-se-á, era um reexame levado a cabo por parte da oposição liberal da situação política lusa no contexto da experiência miguelista, em que o combate a D. Miguel e à ideia de restauração apostou em reforçar a máxima da indissociação entre constitucionalismo e representação mediante o voto.8
A plasticidade da expressão portanto, não é fortuita. Ela se articula ao próprio dissenso em torno das dimensões do voto que perpassaram o período ulterior às revoluções Americana e Francesa, ocupando lugar de destaque no debate constitucional oitocentista. Como se sabe, a convulsão político-social suscitada pelos movimentos revolucionários fez com que alguns teóricos do regime representativo buscassem contrabalançar as heranças do Antigo Regime - notadamente o legado monárquico - com o ideário do liberalismo e as experiências revolucionárias eclodidas nos velho e novo continentes.9 Assim, se para autores como Benjamin Constant cabia valorizar o sufrágio sem endossar o princípio da soberania popular10, não surpreende o fato da expressão “poder eleitoral” ter sido utilizada com reserva e despojada das noções de autonomia e soberania.11 Também não causa estranheza que a maior parte das constituições ocidentais redigidas na primeira metade do século XIX não tenha chegado a caracterizar um poder eleitoral autônomo diante da tradicional divisão dos poderes.12
Em suma, mesmo que não consensualmente, prevaleceu o entendimento de que o poder eleitoral se aproximava mais da ideia de direito que de poder, percepção que, caso sigamos Claude Lefort13, coadunava com o gradativo descolamento entre as duas esferas ocorrido no pensamento político da primeira metade do Oitocentos. Posto que a legitimidade do poder dar-se-ia a partir das diretrizes marcadas pelo direito, o poder eleitoral serviria nessa lógica como constituinte, cujo objetivo era imputar a determinados indivíduos o exercício da autoridade política, conforme frisou o colombiano Cerbeleón Pinzón (1813-1870), à época um dos poucos constitucionalistas a utilizar nominalmente a expressão.14Esse entendimento era compartilhado por juristas como Amable de Barante (1782-1866), Luigi Palma (1837-1899) e Antoine Saint-Girons (1854-1941), para quem caberia ao poder eleitoral tão somente “conservar no governo o seu carácter nacional, renovando em cada período o seu poder legislativo”.15
O presente artigo tem como objetivo analisar a concepção de poder eleitoral formulada por Silvestre Pinheiro Ferreira tomando como base, especialmente, duas obras do autor: o já citado Cours de droit public interne et externe e sua adaptação para o português, intitulada Manual do cidadão em um governo representativo, de 1834.16 A ideia central não é apresentar uma descrição exaustiva da formulação silvestrina - um “repositório de valores alheios”, na feliz expressão Quentin Skinner17 -, tampouco lançar mão de um exame essencialmente formalista, algo recorrente em abordagens sobre o autor.18 As ideias, como alerta Bronislaw Baczko, não existem de forma desencarnada e não produzem a história por si só.19 Por isso, pretende-se compreender de que maneira a questão do poder eleitoral se inscreve no pensamento silvestrino do início da década de 1830, impregnado pela preocupação concomitantemente teórica e prática do autor com o constitucionalismo e o ordenamento dos regimes representativos. Recuperemos novamente Skinner, especialmente suas contribuições posteriores20 nas quais se rompe a rigidez do contextualismo em favor de um maior entrelaçamento entre teoria e história, e cujo resultado é a elucidação do caráter conflituoso e mutante das ideias políticas.21 Impactos e usos do termo poder eleitoral também serão analisados, porém em menor grau de aprofundamento. Nesse particular, serão úteis as reflexões oriundas do campo da história intelectual, notadamente sobre a circulação das ideias políticas.22
Duas hipóteses principais são aqui aventadas. Em primeiro lugar, a de que a concepção de poder eleitoral criada pelo pensador português esteve intrinsecamente ligada ao seu entendimento mais geral sobre a natureza dos textos constitucionais, que deveriam ser menos genéricos e mais pormenorizados, assim evitando, na ótica do autor, interferências ou interpretações indevidas por parte dos agentes políticos, nomeadamente do poder legislativo. Além disso, acredita-se que Pinheiro Ferreira, no afã de estruturar um poder eleitoral que se pretendia autônomo e imune à intromissão dos demais poderes, acabou engendrando um modelo cujo resultado foi exatamente o contrário do primariamente exposto, dadas a sua inconsistência doutrinária e as dificuldades de aplicação prática. No mais, a opacidade teórica em torno da ideia de um poder eleitoral soberano franqueou espaço para apropriações que destoavam do intento original do autor. Hespanha recorda que é atentando para essa imbricação teórico-prática que o pesquisador consegue se afastar da “história das ideias políticas” convencional e recompor as diversas camadas do pensamento liberal da primeira metade do século XIX, que por vezes ainda se vê refém da busca por uma suposta pureza teórica a ser celebrada.23
Silvestre Pinheiro Ferreira e os percursos de uma obra
A bibliografia disponível sobre Silvestre Pinheiro Ferreira é ampla e heterogênea. Pelo fato de ter transitado entre diversas áreas do conhecimento e da administração pública, foi lido e relido por filósofos, juristas, historiadores, jornalistas e homens públicos, em especial portugueses e brasileiros.24 A renovação das pesquisas sobre o Brasil oitocentista, processo que já atravessa ao menos duas décadas, vem recuperado esse autor no sentido de compreendê-lo para além de um polígrafo singular, encarando-o como um homem constantemente tensionado pelos campos político e intelectual. Os estudos de Maria de Lourdes Viana Lyra, Iara Lis Carvalho de Souza, Arno Wehling e Ana Rosa Cloclet da Silva, por exemplo, investigaram as soluções por ele pensadas para o Império luso-brasileiro após a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro e, mais tarde, com a eclosão da Revolução do Porto.25 Mais recentemente, dissertações e teses acadêmicas têm sido desenvolvidas a fim de aprofundar o entendimento sobre períodos específicos da trajetória do pensador, sobretudo no que concerne à sua atuação como agente do Estado.26 No entanto, o interesse pela vida e pela obra de Pinheiro Ferreira após seu retorno do Rio de Janeiro para Portugal cai flagrantemente, ao menos na produção feita no Brasil. Não há, por exemplo, livros dedicados ao período parisiense, quando o autor realizou suas obras políticas mais relevantes. Tais lacunas são compreensíveis, visto que houve um paulatino afastamento de Pinheiro Ferreira dos assuntos brasileiros com o passar dos anos, mas esse vazio explicativo tende a provocar percalços de ordem interpretativa quanto à historicidade do pensamento silvestrino.
Considerando o que foi dito até aqui, cumpre sublinhar que, embora Pinheiro Ferreira tenha deixado valorosa contribuição a respeito do funcionamento dos estados monárquicos durante o período joanino, daremos realce às teses posteriores, tecidas já em sua estada em Paris, a partir de fins na década de 1820. O enfoque não está, destarte, nas ponderações elaboradas durante o reinado de D. João VI (quando os rumos da monarquia luso-brasileira constituíam a principal preocupação do corpo burocrático do Império português) que versavam sobre a necessidade de reformas substanciais no interior do Estado a fim de inibir o radicalismo revolucionário, mas sim em suas assertivas feitas anos depois, com o vintismo já malogrado e Pinheiro Ferreira fora de Portugal e da administração pública portuguesa.27. É nesse segundo momento que se pode verificar uma abordagem mais consistente sobre o regime monárquico representativo, aspecto por vezes menosprezado por estudiosos que enxergam certa linearidade ou homogeneidade no pensamento de Pinheiro Ferreira.
A questão é mais intrincada do que aparenta, não sendo escusado lembrar aqui das “ilusões da retrodição” apontadas por Paul Veyne no começo da década de 1970.28 Tal guinada da obra silvestrina não deve ser confundida com pura e simples reformulação doutrinária, ela própria eivada de premissas defendidas previamente. Os textos do início da década de 1830 correspondem a um contínuo repensar de Pinheiro Ferreira a respeito das experiências constitucionais portuguesas de 1822 e 1826, cujas divergências estariam no bojo do enfrentamento entre pedristas e miguelistas e, pouco tempo depois, no embate entre setembristas e cartistas. Algumas das principais obras do autor foram concebidas justamente entre 1828-1834, momento em Portugal se viu imerso em nova reação contrarrevolucionária protagonizada por D. Miguel após breve período em que vigorou a Carta de 1826.29 Ademais, estudos deram a ver que o período entre a coroação (1828) do irmão de D. Pedro e a vitória liberal consagrada pela Convenção de Évora-Monte (1834), marcado pelas idas e vindas de uma guerra civil incerta, acabou turvando o entendimento dos historiadores sobre as clivagens presentes no pensamento liberal português da época, já que vintistas e cartistas, não obstante suas discordâncias, tiveram que se unir circunstancialmente para rivalizar contra o miguelismo. Só mais tarde, portanto, é que esses grupos disputariam entre si a dianteira da política lusa.30
Rememoremos, a propósito, que a situação de Pinheiro Ferreira muda de figura após seu regresso a Portugal, em 1821. Neste mesmo ano, em discurso proferido em nome de D. João VI ao Soberano Congresso, Pinheiro Ferreira acalentou a participação efetiva do rei na preparação da constituição portuguesa ao argumentar que o exercício da soberania nas monarquias representativas, enunciado como o próprio exercício do poder legislativo, deveria repousar na união do monarca com os deputados escolhidos pelos povos.
A fala foi recebida pelos deputados como uma afronta ao princípio da soberania popular, porquanto as bases da constituição votadas até então atribuíam às Cortes, exclusivamente, as prerrogativas da representação nacional e do poder legislativo.31 Ele foi escolhido pelas Cortes para assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros, porém ingressou no cargo enfraquecido e mirando não entrar em rota de colisão com o Congresso, postura acusada de subserviente por parte de grupos mais próximos ao soberano. Em contrapartida, o estilo aquiescente perante as Cortes foi visto com desconfiança por liberais como José Liberato Freire de Carvalho, que acusou Pinheiro Ferreira de ser cúmplice da Abrilada de 1823. Ao fim e ao cabo, o ministro foi substituído pelo conde de Palmela e enviado em missão diplomática à Inglaterra, França e Países Baixos, com o fito de costurar tratados de comércio favoráveis a Portugal. A morte de D. João VI, a outorga da carta constitucional por D. Pedro e a eleição de Pinheiro Ferreira à deputado, eventos ocorridos em 1826, não foram suficientes para fazer com que o ex-ministro se dirigisse à terra natal. O ceticismo com relação à longevidade do novo regime constitucional e a abertura de possibilidades de trabalho em Paris pesaram na escolha pela permanência na França, opção que, apesar de envolta de hesitação, foi justificada pela instabilidade ocasionada pela usurpação do trono por D. Miguel I.32
A decisão de ficar em Paris foi secundada por duas inflexões sugestivas. É a partir desse momento que Pinheiro Ferreira leva adiante uma profícua trajetória intelectual dedicada às temáticas do direito constitucional e do ordenamento dos regimes representativos. Trata-se também de um período de progressivo distanciamento de Pinheiro Ferreira das malhas do poder do Estado português. Até seu retorno a Portugal, ocorrido em 1842, ele pouco se envolve (ao menos diretamente) nos negócios públicos portugueses. Uma das últimas aparições nesse quesito ocorre em 1831, no contexto da formação do movimento em prol de D. Pedro encabeçado por emigrados lusos na Inglaterra e França. Pinheiro Ferreira é convidado a se tornar conselheiro do duque de Bragança, mas sofre resistência de alguns setores liberais, tanto que não volta a ser convocado novamente. Sua relação com os pedristas degrada de vez após a publicação, em parceria com Filipe Ferreira de Araújo, do opúsculo Parecer sobre os meios de se restaurar o governo representativo em Portugal (1831), de caráter ambíguo. Não se esquiva em denunciar a ilegitimidade do governo de D. Miguel I, abonando assim a causa dos liberais, mas, em compensação, se coloca a favor da manutenção (ainda que temporária) das prerrogativas sociais e econômicas da nobreza, alegando que a extinção repentina dos privilégios históricos dos nobres portugueses traria embaraços financeiros a Portugal.
A solução recomendada por Pinheiro Ferreira para conter a luta entre miguelistas e pedristas, duramente criticada por personagens como José Ferreira Borges, consolidaria essa visão mais conciliadora sobre os regimes representativos. Nesse sentido, mesmo que crítico da Constituição de 1822 e do documento outorgado por D. Pedro à nação portuguesa - em grande medida por se tratar de uma adaptação da Carta brasileira de 1824, trazendo seus vícios portanto - Pinheiro Ferreira acreditava que era premente equacionar naquele cenário a soberania real com os princípios gerais do liberalismo, evitando-se assim, segundo seu julgamento, os extremos opostos do despotismo e da revolução. Daí seu crescente apreço à obra de Benjamin Constant, autor que se dedicou a harmonizar os poderes assegurados pelas constituições liberais com a manutenção da primazia do poder real. É justamente ao considerar esses aspectos que António Pedro Mesquita insere o constitucionalismo de Pinheiro Ferreira dentro daquilo que chamou de “liberalismo monárquico puro”.33
O constitucionalismo em Pinheiro Ferreira
A formulação de um poder eleitoral autônomo, que deveria ser expressamente delineado e garantido pela constituição, aparece pela primeira vez em Pinheiro Ferreira no Cours de droit public interne et externe, de 1830, talvez sua obra de maior repercussão. O texto foi vertido para o espanhol, sem contar as várias reedições em francês e uma adaptação para o português no formato de perguntas e respostas - o já citado Manual do cidadão -, obra destinada, segundo as palavras do próprio autor, a “guiar os leitores de todas as classes”.34 O livro de 1830 era originalmente composto por dois tomos: o primeiro dedicado às noções preliminares de direito público e à separação dos poderes políticos e o segundo ao “direito externo ou das gentes” e ao “direito interno ou constitucional”.35 A partir de 1838, a obra passou a contar com novo tomo que continha análises de Pinheiro Ferreira sobre as constituições da França (1814), Bélgica (1831) e Saxônia (1831), feitas à luz dos pressupostos teóricos apresentados nas edições anteriores que vinham sendo levadas à público esparsamente.
A publicação conquistou notoriedade entre os juristas de meados do século XIX, preponderantemente os de origem francesa, e foi citada em resenhas, cursos e manuais jurídicos,36 havendo registros de que tenha sido acatada por faculdades de Direito da América Latina.37 No Peru, em meados da década de 1840, ganhou tradução comentada do bispo Bartolomé Herrera,38 conhecida figura associada ao conservadorismo oitocentista peruano que, à frente do Colégio de San Carlos, prestigiosa instituição de ensino superior do país, introduziu a obra de Pinheiro Ferreira como parte de um projeto de reformar o ensino de direito público sem comprometer a ortodoxia católica.39
A obra marca o ingresso definitivo de Pinheiro Ferreira na seara do constitucionalismo, que, em termos formais, assume no autor uma feição um tanto distinta daquela esposada pela maioria dos pensadores liberais da época. Enquanto teóricos como Benjamin Constant apregoavam que as constituições fossem curtas e genéricas, deixando a cargo dos poderes constituídos a aplicação dos artigos por meio da elaboração de legislação futura40, Pinheiro Ferreira defendia a feitura de um texto claro, preciso e pormenorizado, que demarcasse ponto a ponto as atribuições de cada poder. As “leis constitucionais” seriam todas aquelas com a função de estabelecer as competências e os limites dos poderes, bem como os direitos políticos e as garantias individuais dos cidadãos, não havendo necessidade, portanto, de empregar a distinção usualmente utilizada à época entre “leis constitutivas” e “leis orgânicas”. Vagas e passíveis de interpretações contrastantes, as constituições modernas acabariam por se tornar reféns das sucessivas legislaturas, posto que essas mudavam com o tempo e estavam imersas em interesses ambivalentes. Relegar ao poder legislativo a composição das leis orgânicas seria portanto dar brecha a uma possível - e muito provável - destruição daquilo que Pinheiro Ferreira entendia como essencial: o “vínculo natural e íntimo” entre as disposições constitutivas e orgânicas.41
O autor se respalda na história da Inglaterra e da França para exemplificar reviravoltas estimuladas pela ação dos legisladores, mas o fato é que, embora não cite nominalmente, ele também está pensando em Portugal e no conturbado processo de implementação do constitucionalismo que ali se deu, precisamente nas rupturas e nas dissonâncias entre o pano de fundo político pré-vintismo e os textos de 1822 e 1826. Isso fica elucidado na introdução de seus Projetos de ordenações para o reino de Portugal, publicado em 1831, em que se condena a obra legislativa portuguesa feita na década de 1820 por ser “desconexa” e com disposições muitas vezes “opostas entre si” e “inexequíveis”.42
A descrença com relação ao fato de as assembleias serem capazes de arquitetar um arcabouço jurídico-administrativo duradouro guarda uma característica do constitucionalismo silvestrino que, em certa medida, resulta da reelaboração de algumas perspectivas anteriores ao vintismo. Em suas Memórias políticas sobre os abusos gerais e modo de os reformar e prevenir a revolução popular, redigida entre 1814 e 1815 sob encomenda de D. João VI, o autor já aventara a hipótese do príncipe regente outorgar uma constituição liberal de feição moderada. Para Pinheiro Ferreira, a ideia da outorga era uma opção que se inseria dentro de um entendimento reformista sobre a situação política portuguesa e sobre o próprio advento das monarquias representativas. Esse ponto de vista sofreria recuos em obras subsequentes, mas a solução de ceder ao monarca e a um entorno qualificado a primazia na tarefa de produzir uma constituição persistiu, ainda que não textualmente. Daí seu apreço pelo governo do Reino da Prússia que, após a Paz de Tilsit (1807), assumiu as rédeas de um extenso programa reformista sem a convocação de uma constituinte.43
Ao final dos anos 1820, quando as experiências constitucionais ocidentais daquela década já haviam sido decantadas pelo pensador luso, ele tinha nitidez que a probabilidade de se forjar um quadro ideal para a consecução de projetos de constituição à sua maneira era algo remoto para as nações europeias. O que se vê então é o aparecimento de uma artimanha para driblar essas adversidades impostas pelas especificidades históricas, a qual embasará toda sua obra da década de 1830 e que consistia na sistematização de um ordenamento político-jurídico ao mesmo tempo geral e específico, isto é, a conjugação de leis “constitutivas” e “orgânicas” ao redor de um único edifício legal. Tal ambição é empreendida por Pinheiro Ferreira em seu Cours de droit public interne et externe e em textos ulteriores direcionados ao contexto português.44 Fica evidente que, ao fazê-lo, o autor não pretendia apresentar um texto acabado a fim de ser copiado, mas uma espinha dorsal que poderia se adaptar às condições específicas de cada nação. De qualquer maneira, tratava-se de um esforço para mitigar a interferência das assembleias na urdidura das constituições e resguardar o poder real.
O poder eleitoral
A obra silvestrina da década de 1830 marca posição sobre o fato de que os governos monárquicos representativos deveriam se fundar em três bases perpétuas: a segurança pessoal, a liberdade individual e a propriedade real. Adentrando a questão específica do ordenamento constitucional, Pinheiro Ferreira o concebe a partir de dois preceitos básicos: a independência e eleição nacional para todos os poderes - legislativo, judiciário, executivo, eleitoral e conservador45 - bem como a responsabilidade e a publicidade de todos os seus atos.46 A salvaguarda desses preceitos só teria lugar na “colação do mandato ou delegação nacional”, isto é, na implementação de um bem entendido “poder eleitoral”.47
Pinheiro Ferreira define o poder eleitoral como a “função” ou “direito” de eleger e nomear para os cargos civis e políticos de uma nação. Todos os empregos sob a alçada dos três poderes tradicionais deveriam passar pelo poder eleitoral e, no caso do executivo, as eleições nacionais selecionariam os candidatos a serem posteriormente nomeados pelos ministros a partir de uma lista. Daí a diferença entre nomeação, em que a pessoa a quem compete a escolha definitiva é de graduação superior à do emprego que se trata de prover, e eleição, situação em que o cidadão incumbido da escolha do funcionário é igual ou inferior à do emprego e depende de muitos votos. O autor justifica a necessidade de nomeações ou eleições para os poderes executivo, legislativo e judiciário por uma questão de princípio: não deveriam permanecer em seus respectivos empregos aqueles que perdessem a confiança que originalmente lhes fora depositada.48
Ao considerar o poder eleitoral como a “base fundamental” dos demais poderes por ser anterior a eles, Pinheiro Ferreira proclama que a parte mais importante do direito constitucional é aquela destinada a fixar os princípios desse poder específico. Entretanto, destaca, por uma “espécie de fatalidade”, o tema foi ligeiramente explorado pelos autores das primeiras décadas do século XIX, que em grande medida se preocuparam apenas em caracterizar o perfil ideal ou os pré-requisitos mínimos de postulantes a um cargo político. Então, Pinheiro Ferreira emite duas indagações: seria suficiente tomar como critérios de presunção de capacidade a renda, idade e educação expedientes já largamente difundidos nas constituições europeias e americanas? Além disso, a maioria de votos atribuída a um determinado candidato asseguraria que os mais aptos fossem selecionados? Ambas as respostas são negativas para o autor, pois em nenhum dos casos existiria a garantia de que os mais capazes fossem realmente selecionados, convertendo a representação política numa instituição frágil e perigosa.49 Contudo, Pinheiro Ferreira assevera ter resolvido o problema “com mais segurança” que seus contemporâneos ao relativizar ou lapidar os parâmetros comumente utilizados para a definição dos possíveis eleitores e candidatos, bem como de seu procedimento de escolha.
O primeiro dispositivo apresentado se refere à distinção feita à época entre cidadãos ativos (homens maiores de idade e gozadores de direitos plenos) e passivos (“menores”, “mulheres”, “alienados”, “idiotas” e “alienados pela justiça”). Mas tal diferenciação, porque demasiado genérica, não é suficiente para o autor, que também se vale do voto em dois graus, frequentemente utilizado nas constituições da primeira metade do século XIX e muitas vezes condicionado ao critério censitário. Este é criticado por Pinheiro Ferreira quando empregado isoladamente por não certificar, por si só, a escolha dos melhores nomes. A justificativa para a eleição em dois graus se ancora naquilo que o autor chama de “capacidade eleitoral” da população apta a votar:
Existe uma espécie de hierarquia em todos os Estados que, dividida em vários escalões, faz com que um grande número de pessoas não esteja em posição de conhecer os homens mais capazes de representar os interesses da sua própria classe na câmara legislativa. No entanto, cada um está em condições de escolher, nos escalões imediatamente acima da sua classe, pessoas que, embora não sejam adequadas para se tornarem deputados, estão suficientemente próximas, em termos de conhecimentos e de situação social, daqueles que podem vir a ser eleitores.50
Dessa forma, o sistema em dois graus exibe um formato diferente em Pinheiro Ferreira. Como de costume, cabe aos eleitores de primeiro grau escolherem os de segundo, cujos pré-requisitos oscilam de acordo com a natureza do emprego público. A inovação, todavia, está na formulação que o autor se propõe a fazer sobre a existência de hierarquias historicamente constituídas entre os homens, que gravitam em torno de três grandes “classes”, sendo proprietários de terras, homens ligados à indústria e funcionários públicos, que por sua vez podem se subdividir em doze categorias baseadas no universo profissional: 1.ª Agricultura; 2.ª Minas; 3.ª Artes e Ofícios; 4.ª Comércio; 5.ª Marinha; 6.ª Exército; 7.ª Obras Públicas: 8ª. Fazenda; 9.ª Justiça; 10.ª Instrução Pública; 11.ª Saúde Pública; 12.ª Secretaria de Estado e Negócios Estrangeiros.51 O artificialismo da categorização, mais tarde zombado por Proudhon52, é assumido pelo próprio autor, que reconhece a possibilidade de um cidadão estar inscrito simultaneamente em mais de uma classe. Entretanto, discernir as hierarquias sociais como um processo historicamente erigido é algo que se atrela ao empenho de Pinheiro Ferreira em validar as próprias distinções existentes dentro de cada grupo social a fim de, consequentemente, eclipsar a tentativa de ascensão político-social por homens ambiciosos e carentes de capacidade. Mais do que isso, há uma investida em coibir mudanças políticas bruscas, algo relativamente aceito em sistemas eleitorais desprovidos de mecanismos de contrapeso mais precisos.
A referida hierarquização também é uma forma de valorizar as diferenças de cada grupo social, cujos interesses requerem, para o autor, uma “representação especial”. Nesse sentido, o entendimento dado às eleições como um mecanismo regulador e legitimador se escora no olhar positivo por ele atribuído aos interesses individuais ou de grupos específicos nos regimes representativos. Se em autores como Bentham a supremacia dos interesses individuais é vista com reticência - ainda que seja indispensável a garantia deles e, primordialmente, da liberdade do indivíduo -, em Pinheiro Ferreira ocorre um esforço em ratificar o interesse individual e ordená-lo em categorias assentadas nas atividades humanas. Para assegurar autenticidade à representação, os representantes deveriam preservar familiaridade com os interesses - dessemelhantes, por óbvio - dos representados:
O fim de todo mandato é representar certas ordens de interesses. Daqui segue-se que a diversidade dos mandatos não pode provir senão da diversidade dos interesses que o mandatário é chamado a representar. Toda questão se reduz, pois, a saber em quantas sortes se devem dividir os interesses para serem bem representados.53
Essa cumplicidade de interesses ajuda a pensar o que Franco Venturi chamou de “restituir a criatividade intelectual”54 de um autor. Nesse caso, a entender um dos aspectos mais singulares das eleições em Pinheiro Ferreira, que se reporta à confiança atribuída pelos representados aos seus representantes:
[…] o atual método de votação não tem nada a ver com o que os eleitores tendem a exprimir através dos seus votos. De fato, o que se exige a cada eleitor é que designe o candidato que considera mais digno do cargo: e daí se conclui que a pessoa que obtém o maior número de votos deve ser considerada o representante eleito da nação. Esta conclusão é falsa, e para o provar basta considerar que, se se perguntasse a cada um dos eleitores cujos eleitos foram rejeitados qual dos candidatos lhe parecia mais digno depois daquele a quem acaba de dar o seu voto, talvez esses eleitores se pusessem todos de acordo a favor do mesmo candidato, que conseguiria assim obter uma maioria maior do que o preferido.55
Como forma de viabilizar essa ideia, o autor lança mão de um meticuloso procedimento de validação dos votos, em que cada “boletim de voto”56 registraria algum grau de apreço do eleitor com relação ao candidato - “superior”, “mediano”, “inferior”, “inibido”, “duvidoso” ou “inadmissível”, de modo que a soma da pontuação com relação à estima é que classificaria o pleiteante ao cargo público. Assim, os políticos seriam eleitos menos pela preferência individual de cada eleitor do que pela deferência consignada pela opinião geral do eleitorado, também levando em conta os índices de rejeição. Um processo “qualitativo de eleição”, nas palavras de Susana Videira.57
Pinheiro Ferreira reflete que nenhum desses dispositivos, ainda que essenciais, garantiria a projeção de homens realmente comprometidos com a coisa pública, em especial porque os processos de responsabilização de empregados públicos por seus atos eram quase sempre demorados e sujeitos a arbitrariedades e pressões políticas. Para o autor, a maioria dos teóricos constitucionalistas não tardou em reconhecer que a “única garantia real” do funcionamento pleno da representação seriam as próprias eleições, que enfim decidiriam sobre a “continuidade ou retirada dos mandatos aos titulares dos poderes”.
No entanto, pondera que a duração comumente adotada em parcela significativa dos regimes representativos, de quatro anos58, seria “incompatível com os princípios do direito constitucional”, seja em virtude do movimento crescente da população (a cada ano, novos jovens se tornam eleitores), seja pelo fato de que um empregado público não deveria permanecer no cargo caso houvesse perdido a confiança de quem o elegeu. Diante disso, a solução proposta por Pinheiro Ferreira é particularmente radical: um ano comportaria tempo suficiente para os eleitores avaliarem seus representantes, sendo fundamental, portanto, que eleições fossem convocadas anualmente para que os representados ratificassem ou não seu voto. Em suma, o processo eleitoral serviria como um momento de escolha e, em outra direção, de (re)validação de decisões tomadas anteriormente:
O objetivo das eleições não é apenas nomear para os lugares vagos, mas também determinar se se deve manter ou retirar dos empregados atuais a confiança que neles foi inicialmente depositada, de modo que em cada eleição estes empregados são incluídos entre os candidatos ao cargo que ocupam.59
Esboçados os pilares básicos do poder eleitoral, Pinheiro Ferreira passa a descrever seu exercício, o que na prática significa constituir um sistema eleitoral com regras e procedimentos específicos. Em linhas gerais, o percurso traçado pelo autor se decompõe em algumas etapas básicas. Primeiramente, fazia-se necessária a distribuição dos cidadãos ativos entre as doze graduações da hierarquia civil. Feito isso, os eleitores de primeiro e segundo grau seriam encarregados aptos a votar para determinados cargos públicos, havendo nesse ponto uma variação considerável de caso a caso. Depois, seriam definidos os candidatos, que poderiam ser de “1ª linha” (aqueles já pertencentes ao cargo pleiteado à época das eleições), “2ª linha” (aqueles em condições semelhantes à linha anterior, mas pertencentes a uma ordem hierárquica igual ou inferior à do emprego objeto da eleição) e “3ª linha” (cidadãos que não ocupantes de qualquer emprego público e partícipes de uma hierarquia igual ou inferior ao cargo pretendido). Sublinhe-se aqui que cada emprego público possuía pré-requisitos estipulados, havendo geralmente um afunilamento nas restrições de acordo com a escalada de importância dos cargos. Por fim, as eleições e nomeações - sempre anuais - atuariam tanto para escolher novos políticos como para ratificar ou rechaçar empregados públicos já em exercício. As regras mudam para as três linhas de candidatos, ainda que a pedra angular seja buscar um equilíbrio entre a confiança e o rechaço depositados aos postulantes aos cargos.
Não é preciso ir além para captar a prolixidade do autor nesse assunto, tamanho é seu apego aos mínimos detalhes do processo eleitoral. Tal postura é inclusive criticada por contemporâneos, como será visto logo a seguir. As particularidades são tantas que, ao terminar de ler a exposição de Pinheiro Ferreira, o leitor pode ficar com a impressão de se tratar de um programa tão completo quanto irrealizável. As normas diferem não apenas entre cada um dos poderes, mas também em relação aos cargos alocados em cada um deles. A combinação de pré-requisitos, hierarquias e mecanismos de ratificação do voto fazem do poder eleitoral um todo legal complexo e burocratizado, não apenas nos termos de um estado que detém para si o controle das malhas do processo eleitoral, mas sobretudo enquanto uma barreira cujo intuito era limitar mudanças político-sociais mais sensíveis oriundas do voto.
Esse último aspecto merece atenção, pois Pinheiro Ferreira nunca se furtou em criticar o potencial alcance político das eleições diretas ou sem mecanismos de contenção popular (não por acaso, Rousseau é alvo recorrente em suas obras, assim como a oclocracia), crendo assim que a concepção de poder eleitoral por ele elaborada carregava ao menos duas contribuições: um refinamento na definição de quem seriam os eleitores e os candidatos; e um aprimoramento do procedimento de escolha dos representantes da nação, mediados por um sistema eleitoral em contínuo funcionamento que, em tese, conseguia sopesar forças antagônicas (apreço versus rejeição) em relação aos pretendentes ao serviço público. Pontos esses significativos, pois embora refratário ao voto direto, Pinheiro Ferreira insistiu na importância da admissão do maior número possível de eleitores, desde que dentro de um sistema coerente e seguro segundo seus princípios.
Oscar Ferreira nota que o poder eleitoral de Pinheiro Ferreira pode soar, numa leitura apressada, como um corretivo contra eventuais maquinações de cortesãos e aristocratas pela tomada do poder, haja vista a situação portuguesa à época. Ainda que essa leitura possa conter elementos verdadeiros, observa o autor, o sistema silvestrino não deve ser confundido como mero produto dos dissabores vividos por Pinheiro Ferreira na administração pública portuguesa.60 Espécie de órgão simbólico ao qual é confiada a tarefa de garantir a aplicação dos direitos naturais dos cidadãos, o poder eleitoral emerge, portanto, na condição de promotor da coesão da nação e do envolvimento dos membros da sociedade na sua perpetuação.
Usos, diálogos e repercussões
Uma vez delineada, a concepção de poder eleitoral passaria a influenciar as análises de Pinheiro Ferreira sobre textos constitucionais da primeira metade do século XIX, uma das tarefas a qual o autor se dedicou no autoexílio na França. Em seu exame sobre a Carta brasileira de 1824, Pinheiro Ferreira sublinha que o artigo 11º, que fixou a divisão dos poderes do Império em legislativo, executivo, judiciário e moderador, incorre no problema de entrar em contradição com outras disposições do mesmo documento. Dentre os motivos está o fato de que, além dos quatro poderes “reconhecidos pela constituição”, subjaz em outros artigos do texto um “poder eleitoral” não explicitado na letra da lei, mas presente tacitamente nas passagens que tratam das “eleições populares” e das “nomeações” que competem “ao rei, às câmaras e a outras pessoas”.61 Situação análoga acontece nas observações a respeito da Constituição da Bélgica de 1831, em que Pinheiro Ferreira também entrevê a existência igualmente não expressa de um poder que origina todos os demais, qual seja o eleitoral, cujo exercício recairia sobre os cidadãos devidamente qualificados para tal. Contudo, a ausência de especificações sobre a capacidade dos eleitores, definição do alcance do poder eleitoral e de regras básicas para seu funcionamento tem por consequência tornar o texto constitucional um conjunto de disposições diametralmente opostas ao princípio do “espírito das eleições”, aponta o pensador luso.62 Aqui, como em outras obras do autor da década de 1830, investe-se na crítica à dissonância entre leis regulatórias e orgânicas, algo presente na maioria das constituições do período e que contaminava, em sua avaliação, o tratamento dispensado à questão eleitoral.
O poder eleitoral silvestrino não obteve muito êxito nos círculos intelectuais do período, sobretudo se compararmos aos comentários mais genéricos - e em boa medida positivos - sobre a obra de Pinheiro Ferreira feitos no curso do século XIX. Para William Belime, professor de direito romano da Faculdade de Direito de Dijon na década de 1840, as propostas do autor português sobre a estruturação e funcionamento do poder eleitoral, embora circunstanciadas, careciam de aplicabilidade prática.63 Em tom semelhante, o jornalista e editor suíço Joël Cherbuliez afirmou em resenha escrita sobre uma reedição do Cours de droit public interne et externe que a passagem do livro merecedora de censura era exatamente aquela referente ao poder eleitoral, cuja organização era demasiada complexa para ser operacionalizada.64 As categorias de cidadãos capazes de exercer o poder eleitoral, além de excessivas e de complicada delimitação, iam de encontro à concepção de liberdade individual que estribava o restante de obra. Ainda assim, e a despeito dos senões apresentados, Cherbuliez acreditava que o zelo de Pinheiro Ferreira sobre o tema deveria ser reconhecido e suas contribuições estudadas para o aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais. Aos olhos do jornalista fluminense José Carlos Rodrigues (1844-1922), que ainda jovem redigiu um estudo jurídico sobre a Carta Brasileira de 1824, as eleições anuais propostas por Pinheiro Ferreira causariam inconvenientes aos cidadãos se postas em prática, uma vez que votantes e eleitores não deveriam estar “sempre ocupados” com “repetidos processos eleitorais”.65 Sem lançar mão de uma apreciação necessariamente negativa, autores como o jurista Félix Berriat Saint-Prix e o filósofo e historiador Joseph Tissot, ambos franceses, priorizaram a questão de que o poder eleitoral concebido por Pinheiro Ferreira deslocava para si a função de escolher membros da magistratura, retirando-a da alçada do executivo, como era praxe na maior parte das monarquias constitucionais.66
Alguns comentários sobre o poder eleitoral silvestrino foram mais além, pondo em xeque sua própria validade teórica. Em seus comentários sobre o Cours de droit public interne et externe, Bartolomé Herrera se postou contra a ideia de autonomia do poder eleitoral por ela embutir, potencialmente, certo ensejo a uma “soberania absoluta” por parte dos detentores do poder de voto.67 Herrera não afirma literalmente, mas sugestiona que, nesse tópico, Pinheiro Ferreira se tornou um fiador das ideias rousseaunianas. Já Braz Florentino Henriques de Souza (1825-1870) reparou que as considerações do autor português não conquistaram muita adesão por questão de princípio: a despeito de os eleitores exercerem uma “função pública” ao eleger deputados e senadores, as eleições constituem “antes uma operação preliminar ao exercício dos poderes políticos do que o ato de um poder político propriamente dito”.68
É necessário um recuo no tempo para detectar que o poder eleitoral silvestrino recebeu algum acolhimento, ainda que disperso, ou que pelo menos impulsionou um debate cheio de meandros. Dois anos após a publicação do Cours de droit public interne et externe, José Ferreira Borges fez circular sua Cartilha do cidadão constitucional, texto que pretendia ser uma defesa irrestrita do constitucionalismo em Portugal com base na execução da constituição de 1826, tática adotada por muitos dos liberais portugueses que optaram pelo exílio diante da ascensão de D. Miguel ao trono.69 Em dado momento, o autor esclarece o que chama de “poder eleitoral”. O trecho é conhecido, mas vale a transcrição:
Na sociedade civil há um poder, geral, tronco de todos os outros, que não são na realidade mais do que suas dimensões e divisões. Este poder geral é o eleitoral, o político, o de escolha, nomeação e delegação da força individual do sócio. Eis-aqui o verdadeiro poder, que depois se ramifica por método e razão de ordem, e se reduz a fazer leis e a executá-las, porque quando a lei se aplica executa-se, como quando se administra, salvo simplesmente o modo. Portanto o grande, o único poder político constitucional é o eleitoral; e ele são a fonte de todos, e o princípio motor da organização social. Os demais poderes são instrumentos, são rodas, que derivam o merecimento e força daquele grande princípio: são verdadeiros modos.70
A princípio, a versão de Ferreira Borges muito se assemelha a de Pinheiro Ferreira, mas é preciso tomar cuidado pois, a rigor, não irrompe aqui uma reprodução automática dos postulados silvestrinos. A primordialidade do poder eleitoral e a emanação dos demais poderes por ele de fato fazem coro às ideias expostas no Cours de droit public interne et externe. Porém, essa identificação não avança para o campo da operacionalização prática, de modo a sobressair mais o uso retórico de um genérico poder eleitoral do que sua potencialidade política. Ora, o que se vê é a clássica junção entre sistema constitucional-representativo e voto como forma de consagrar a figura do cidadão politicamente participativo, o que fazia sentido se considerada a oposição liberal ao ambiente restauracionista português. Ferreira Borges não cita o nome de Pinheiro Ferreira, mas custa crer que ignorasse sua obra de 1830. Além de conterrâneos e exilados no estrangeiro, eram figuras que se conheciam bem, embora o mais provável seja que ainda persistisse o já citado desentendimento com Pinheiro Ferreira ocorrido por ocasião da disputa pelo trono português, em 1831. De qualquer forma, quando confrontada à concepção silvestrina de poder eleitoral, a de Ferreira Borges se mostra mais convencional e menos propícia a entendimentos divergentes ou extremados.
Custódio Rebelo de Carvalho, outro compatriota emigrado na Inglaterra, também destinou algumas linhas ao tema. Em texto ao mesmo tempo reflexivo e propositivo, o outrora radical vintista se preocupa em traçar um paralelo entre o sistema eleitoral inglês após o Reform Act de 1832 e aquele disposto na carta constitucional lusa de 1826, para extrair a partir daí possibilidades de enfrentamento da situação de Portugal sob D. Miguel I. No capítulo “Do poder eleitoral”, este é entendido como a “faculdade que compete aos povos nos governos representativos de nomear homens, que na qualidade de seus representantes advoguem e promovam os seus interesses”. A ênfase no interesse do eleitor é proposital, pois ali reside o cerne da exposição do autor, para quem a única forma de garantir o “cumprimento de suas [do candidato] observâncias e de sua profissão de fé” seria fazendo com que os cidadãos redigissem “procurações” repletas de “instruções” aos futuros representantes, para então ditar “os objetos de que primeiramente deveriam ocupar-se”.71
A solução encontrada por Rebelo de Carvalho recupera a posição dos radicais ingleses em meio ao Reform Act, os quais, diante do mandato de sete anos garantido pelo Septennial Act (1715), apostaram na feitura de instruções e procurações como estratégia (mesmo que momentânea) para tentar assegurar que os representantes dessem conta das esperanças depositadas pelos representados.72 Não se pode desprezar que a obra foi impressa durante os estertores do período miguelista, momento de intenso confronto entre diferentes horizontes de expectativa, mas o fato é que, em Rebello, o entendimento do poder eleitoral como garantidor dos interesses dos representados se agarra a uma ideia que Pinheiro Ferreira sempre quis afugentar: a dos mandatos imperativos. Sua proposta dos mandatos anuais constitui propriamente uma resposta a esse problema.
Os estudos jurídicos de Jean Paul Charnay e Fabrice Bin sugerem certa proximidade - quando não um parentesco sem o devido crédito dado - entre a formulação de Pinheiro Ferreira e a teorização do jurisconsulto Joseph Louis Ortolan (1802-1873) a respeito da existência de um quarto poder, o pouvoir électoral, feita à época do nascimento da Segunda República na França.73 Em Ortolan, que também não menciona Pinheiro Ferreira, o corpo de eleitores seria, durante o exercício do voto, a expressão de um suposto poder eleitoral que sustentaria todos os demais.74 O autor é econômico na conceituação do termo, que parece servir mais para justificar a relação entre protagonismo popular e sufrágio universal em meio às vicissitudes de 1848. Alguns contemporâneos inseridos no debate constitucionalista francês também chegaram a fazer uso da expressão, mas apenas esporadicamente e sem propor uma definição acurada.75
Outra ordem de receptividade se processou a partir das ideias de Pinheiro Ferreira. José Victorino Lastarria (1817-1888), importante expoente do pensamento liberal chileno da segunda metade do século XIX, fiou-se no autor luso para encorajar uma reforma política drástica e lastreada na elegibilidade de todas as funções públicas, tudo a partir da proeminência daquilo que rotulou poder electoral, a ser exercido por homens maiores de 21 anos e alfabetizados.76 No Brasil, onde as ideias do ex-ministro da corte joanina circulavam de diversas formas nos espaços letrados do Império77, a questão do poder eleitoral recebeu especial atenção durante a Regência Trina Permanente, quando Pinheiro Ferreira foi evocado por agrupamentos de diferentes matizes políticos. Ao conclamarem pela supressão de qualquer tipo de privilégio político, demanda baseada na discriminação entre monarquias democráticas e aristocráticas presente no Cours de droit public interne et externe, os chamados liberais “exaltados” enxergaram o poder eleitoral como um instrumento para remodelar o alicerce político-administrativo do Império, em grande medida composto por cargos não eleitos pelos cidadãos da nação.78 Em outra perspectiva, os intitulados liberais “moderados” recorreram à noção de poder eleitoral para tentar invalidar diplomas79 conferidos a deputados que supostamente se voltaram contra suas bases eleitorais, perdendo seu vínculo de representação.80
Não está no escopo deste trabalho percorrer, detidamente, as apropriações feitas por agentes históricos a respeito da concepção silvestrina de poder eleitoral.81 No entanto, os exemplos supracitados apontam para um fator instrutivo: a releitura da proposta de Pinheiro Ferreira por meio de outras chaves, mais audazes e interpeladoras do status quo político-jurídico, por sinal. Lastarria sugeriu a implantação de um poder eleitoral mais amplo justamente no contexto da chamada Revolução Chilena (1848-1852), quando os liberais se debateram contra quase vinte anos de predomínio político dos conservadores.82 No caso brasileiro, para alguns expoentes do dito liberalismo “exaltado”, o poder eleitoral se prestou à função de ferramenta para exprimir fragilidades do sistema monárquico-constitucional e, de quebra, ventilar de forma mais ou menos velada postulados do republicanismo. Quanto aos liberais “moderados”, grupo que se vangloriava de ostentar uma postura pretensamente mais equilibrada, o poder eleitoral foi instrumentalizado para justificar a “removibilidade” de alguns políticos eleitos, questão espinhosa que remontava ao período jacobino da Revolução Francesa - mais especificamente à ideia da vigilância dos cidadãos sobre os mandatários83 -, bem como à concepção dos mandatos imperativos, que atrelava os representantes a determinações prévias dos representados. Tal postura ia na contramão do que dizia a Carta de 1824 e da opinião que vinha se enraizando no debate político liberal desde o fim do século XVIII, que compreendia que o parlamentar não representava exatamente quem o elegia, mas a totalidade de cidadãos que formavam a nação. Em síntese, a demasiada luz colocada por Pinheiro Ferreira em cima daquilo que alcunhou de poder eleitoral acabou servindo a ressignificações no mínimo desviantes, distantes do pensamento original do autor e timbradas pelo calor da luta política, situação que não raramente promove o esmaecimento de distinções rígidas e o esgarçamento de conceitos, conforme aponta Charles Tilly.84 O que unia tais releituras era a tentativa de legitimar eventuais excessos políticos com base na exacerbação do alcance e das funções do voto, e dado que Pinheiro Ferreira não estabeleceu uma discussão categórica sobre as diferenças e/ou similitudes entre direito, função e poder, reinterpretações como essas se tornaram mais facilmente justificáveis.
Considerações finais
Ao longo das linhas acima, buscou-se dimensionar de que forma o conceito de poder eleitoral se inscreveu no pensamento de Silvestre Pinheiro Ferreira do início da década de 1830. A leitura das obras Cours de droit public interne et externe e Manual do cidadão levou à constatação de que, longe de constituir uma formulação teórica isolada, a ideia de poder eleitoral se entrecruzou com três pressupostos básicos da doutrina constitucionalista silvestrina: a interpenetração proposital entre leis “constitutivas” e “orgânicas”; o entendimento do voto como um elemento componente de toda a administração pública; e a publicidade de todo e qualquer ato político.
Nos parece que esse tratamento dispensado à matéria pelo pensador luso trouxe embutido um potencial efeito colateral que ia de encontro aos desígnios por ele pretendidos. O anseio por formular um constructo legal completo - o que frequentemente lhe conduziu à minúcia exaustiva no trato de determinados pontos - acabou por atravancar a aplicação prática de suas ideias, algo patente no caso do poder eleitoral. Em parte, isso explica o porquê das críticas assinaladas por leitores da época, mesmo se considerada a recepção em geral positiva de ambos os textos do autor.
Convém insistir no problema, que aliás extrapolou o terreno legal mais visível. Mais do que uma questão de inaplicabilidade ou hermetismo, o arranjo sugerido por Pinheiro Ferreira instigou, não obstante e involuntariamente, interpretações mais ousadas em relação ao poder eleitoral, uma vez que a autonomia atribuída a esse poderia ser apreendida como soberania. Tal percepção foi decerto refutada pelo autor, mas convinha a grupos políticos portadores de concepções mais avançadas acerca do liberalismo ou que precisavam legitimar ações virtualmente extremadas. Seja qual for o caso, há um flagrante descompasso entre o propósito inicial de Pinheiro Ferreira de estabelecer um mecanismo eleitoral ao mesmo tempo abrangente e dotado de dispositivos que coibissem mudanças sociais e políticas abruptas por meio do voto, e leituras póstumas que tiraram proveito do poder eleitoral silvestrino, distorcendo-o para fins utilitários. Nesse sentido, fica evidente que o autor criou uma armadilha para si mesmo quando optou por não oferecer uma fundamentação teórica que expusesse de forma contundente - o que não deixa de ser irônico - o verdadeiro lugar do poder eleitoral perante os demais poderes constitucionais, também mantendo vagas as relações entre eles.
Em termos mais amplos, é admissível afirmar que essa debilidade conceitual se enquadra no próprio horizonte de incertezas da política ocidental da primeira metade do século XIX, em que reflexões sobre as eleições abarcavam diferentes pontos de vista, quando não estabeleciam uma zona semântica indefinida que ora tomava o voto como direito, ora como função e ora como poder. Sob esse prisma, o poder eleitoral de Pinheiro Ferreira pode ser entendido não como uma quimera sem laços com o real, mas como exemplo de um repertório de tentativas pensadas por autores diversos para solucionar a questão dos limites e as condicionantes da participação política.
Mas não apenas isso. Como bem observou Nuno Gonçalo Monteiro85, a ordem jurídica que o liberalismo viria a consagrar em Portugal no século XIX teve que desmontar um “conjunto de direitos, relações e instituições decorrentes da indistinção entre público e privado, entre Estado e sociedade civil”, o que gerou soluções mais ou menos eficazes para cada problema surgido. Eis, pois, que o discurso normativo silvestrino ganha em densidade se percebido a partir do entranhamento com a história, de modo que o acompanhar da atribulada implantação do constitucionalismo em Portugal e outras nações torna seu projeto ainda mais significativo.
Fontes e bibliografia
- ABRAMSON, Pierre-Luc. Las utopias sociales en América Latina en el siglo XIX México: FCE, 1999.
- ALCORTA, Amancio. Cours de droit international public Paris/Buenos Aires, 1887.
- ARMITAGE, David. The international turn in intellectual history. In: MCMAHON, Darrin M.; MOYN, Samuel(orgs.). Rethinking modern european intellectual history Nova Iorque: Oxford University, 2014. p. 232-252.
- AULARD, Alphonse. Histoire politique de la Révolution française: origines et développement de la démocratie et de la République (1789-1804). Paris: Ligaran, 2014.
- (A) Aurora Fluminense, Rio de Janeiro, n. 59, 03/10/1838.
- BACZKO, Bronislàw. Les imaginaires sociaux Mémoire et espoirs collectifs. Paris: Payot, 1984.
- BELAUNDE, Domingo García. Bartolomé Herrera, traductor de Pinheiro Ferreira. Pensamiento Constitucional, n° 21, 2016, p.163-172.
- BELIME, William. Philosophie du droit ou cours d’introduction a la science du droit v. 1. Paris: A. Durant/Pedone-Lauriel, 1844, p. 352-353.
- BERBEL, Márcia; FERREIRA, Paula Botafogo. Soberanias em questão: apropriações portuguesas sobre um debate iniciado em Cádis. In: BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles (orgs.). Soberanias em questão: A experiência constitucional de Cádis - Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012, p.169-199.
- BIN, Fabrice. Le “pouvoir de suffrage” chez Hauriou et sa postérité doctrinal. Revue française de Droit constitutionnel, 108, 2016, p.807-830.
- BORGES, João Ferreira. Cartilha do cidadão constitucional dedicada à mocidade portuguesa Londres: Impr. T. C. Hansard, Peter-Noster Row, 1832.
- CARDOSO, Antonio Monteiro. A revolução liberal em Tras-os-Montes (1820-1834): o povo e as elites. Porto: Afrontamento, 2007.
- CARVALHO, Custódio Rebello de. Das Eleições em Inglaterra segundo o novo acto da reforma, comparadas com com as eleições feitas em Portugal segundo a lei de 1826, e accompanhadas de algumas observações sobre o poder eleitoral nos dous paizes Londres: Richard Taylor, 1833.
- CHARNAY, Jean Paul. Le suffrage politique en France: Élections parlamentaires, élection présidentielle, référendums. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2019 [1965].
- CHERBULIEZ, Joël. Revue critique des livres nouveaux Paris: Librairie J. Cherbuliez, 1838.
- COLÓN-RIOS, Joel. Constituent power and law Oxford: Oxford University Press, 2020.
- CONSTANT, Benjamin. Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties: dans une monarchie constitutionnelle Paris: Hachette, 2017 [1814].
- DURAN, Maria Renata. Ecletismo e retórica na filosofia brasileira: de Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) ao frei Francisco do Monte Alverne (1784-1858). Almanack Guarulhos, n.09, p.115-135, abr. 2015.
- DUTRA, Sandra Rinco. Política e letras: Silvestre Pinheiro Ferreira no Brasil dos tempos de d. João (1808-1821). 2010. (Dissertação de Mestrado) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010.
- FERREIRA, Oscar. Un Sieyès rouge? Regards sur le système politique de Silvestre Pinheiro Ferreira. Revue de la recherche juridique, n°146, 2013, p.91-131.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Cours de droit public interne et externe, Du droit public externe, ou droit des gens Paris: Rey et Gravier/J. P. Aillaud, 1830. 2v.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Projectos de ordenações para o reino de Portugal v.1. Paris: Casimir, 1831.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Manual do cidadão em um governo representativo, ou princípios de direito constitucional, administrativo e das gentes Paris: Gravier & Aillaud, 2 tomos, 1834.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Observações sobre a Constituição do Império do Brasil e sobre a Carta Constitucional do Reino de Portugal Paris: Tipografia de Casimir, 1835.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Observations sur la Constitution de la Belgique, décrétée par le Congrès National le 7 février 1831 Paris: Gravier & Aillaud, 1838a.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Projeto de código político para a nação portuguesa Paris: Tipografia de Casimir, 1838b.
- FERREIRA, Silvestre Pinheiro. Compendio de Derecho Publico Interno y externo Trad. de Bartolomé Herrera. Lima: Tipografia de Aurelio Alfaro, 1848 [1845].
- FONSECA, Silvia Carla Pereira de Brito. O conceito de república nos primeiros anos do Império: a semântica histórica como um campo de investigação política. Anos 90, Porto Alegre, v. 13, n. 23/24, p.323-350, jan./dez. 2006.
- GOUVEIA, Jorge Bacelar. Constitutional Law in Portugal Kluwer Law International, 2011.
- HERRERA, Bartolomé. Notas sobre el compendio de derecho publico interno y externo, por el Comendador Silvestre Pinheiro Ferreira. In: TAUREL, R. M. Colección de obras selectas del clero contemporáneo del Perú, con biografía de los autores y varios documentos interesantes sobre el estado actual de la Santa Iglesia del Perú Tomo segundo. Paris: Librería de A. Mezín, 1853.
- HESPANHA, António Manuel. Hércules confundido - sentidos improváveis e incertos do constitucionalismo oitocentista: o caso português. Curitiba: Juruá, 2009.
- HOMEM, Amadeu Carvalho. Jacobinos, liberais e democratas na edificação de Portugal contemporâneo. In: TENGARRINHA, José(org.). História de Portugal São Paulo: Unesp, 2001, p.341-359.
- HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa São Paulo: Companhia das Letras, 2007 [1984].
- (O) Jurujuba dos Farroupilhas, Rio de Janeiro, n.06, 03/10/1831.
- LASTARRIA, José Victorino. Elementos de Derecho Público Constitucional Santiago: Imprenta Chilena, 1848.
- LEFORT, Claude. Os direitos do homem e o Estado-providência. In: LEFORT, Claude. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991 [1986].
- LOPES, José Reinaldo de Lima. A Constituição moderna. In: BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (orgs.). A experiência constitucional de Cádis: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012.
- LYRA, Maria de Lourdes Viana. A Utopia do poderoso Império Portugal e Brasil: bastidores da política (1798-1822). Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994.
- MAILFER, Henri-Charles. De la démocratie en Europe, questions religieuses et juridiques, droit public interne Paris: Guillaumin, 1874.
- MANIN, Bernard. Los principios del gobierno representativo Trad. de Fernando Vallespín. Madrid: Alianza Editorial, 2008 [1995].
- MARTENS, Georg Friedrich von. Précis du droit des gens moderne de l’Europe Paris: Guillaumin, 1858.
- MARTIN, John Biddulp. Electoral Statistics: a review of the working of our representative system from 1832-1881. Journal of the Statistical Society of London , vol. 47, n. 1, mar. 1884, p. 75-124.
- MESQUITA, Antonio Pedro. O pensamento político português no século XIX Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006.
- MIRANDA, Jorge. Direito Eleitoral Lisboa: Almedina, 2018.
- MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A revolução liberal (1807-1834). In: PINTO, Atónio Costa; MONTEIRO, Nuno Gonçalo(orgs.). História Social Contemporânea - Portugal: 1808-2000. Lisboa: Fundación Mapfre/Objectiva, 2020, p.17-67.
- (A) Nova Luz Brasileira, Rio de janeiro, n.152, 09/07/1831.
- ORTOLAN, Joseph Louis. De la souveraineté du peuple et des principes du gouvernement moderne Paris: Joubert et Guillaume, 1848.
- PAIM, Antonio. Evolução histórica do Liberalismo Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
- PEREIRA, José Esteves. Silvestre Pinheiro Ferreira: o seu pensamento político. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1975.
- PINZON, Cerbeleon. Tratado de Ciencia Constitucional 2ª ed. Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1852.
- PORRÚA, Miguel Ángel(org.). Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones. Ciudad de México: Cámara de Diputados, LXIII Legislatura/Suprema Corte de Justicia de la Nación/ Senado de la República, LXIII Legislatura/Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/ Instituto Nacional Electoral/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016.
- PRÉLOT, Michel. Institutions politiques et droit constitutionnel Imprenta: Paris, Dalloz, 1961.
- PROUDHON, Pierre-Joseph. Qu’est-ce que la propriété? ou Recherches sur le principe du droit et du Paris: J.-F. Brocard, 1840.
- RODRIGUES, José Carlos. Constituição política do Império do Brasil seguida do acto adicional, da lei da sua interpretação e de outras, analisada por um jurisconsulto e novamente anotada com as leis regulamentares, decretos, avisos, ordens, e portarias que lhe são relativas Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1863.
- RODRIGUES, Manuel. Cidadão eleitor: o quarto poder democrático. Lisboa: CMV Edições, 1995.
- ROSANVALLON, Pierre. The Demands of Liberty: Civil Society in France since the Revolution. Harvard: Harvard University Press, 2007 [2004].
- SAINT-PRIX, Félix Berriat. Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d’un essai sur le pouvoir constituant et d’un précis historique des constitutions françaises Paris: Videcoq Fils Ainé, 1851.
- SARDICA, José Miguel. A Carta constitucional portuguesa de 1826. História Constitucional, n. 13, 2012, p.527-561.
- SILVA, Ana Rosa Coclet da. Inventando a nação: Intelectuais ilustrados e estadistas luso-brasileiros na crise do antigo regime português (1750-1822). São Paulo: Hucitec, 2006.
- SILVA, Ana Rosa Coclet da. Silvestre Pinheiro Ferreira. In: OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles; PIMENTA, João Paulo (orgs.). Dicionário da Independência do Brasil: história, memória e historiografia. São Pulo: Edusp/Publicaões BBM, 2022, p. 375-376.
- SILVA, António Martins. A Vitória Definitiva do Liberalismo e a Instabilidade Constitucional: Cartismo, Setembrismo e Cabralismo. In: MATTOSO, José. História de Portugal, vol. 5, O Liberalismo (1807-1890). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p.77-89.
- SILVA, Maria Beatriz da. Silvestre Pinheiro Ferreira: ideologia e teoria. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1975.
- (O) Sete de Abril, Rio de Janeiro, n.147, 27/05/1834.
- SOUSA, Paulino José Soares de. Ensaio sobre o direito administrativo Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1862.
- SOUZA, Belizario Soares de. O Sistema eleitoral no Brasil Como funciona e como tem funcionado, como deve ser reformado. Rio de Janeiro, 1872.
- SOUZA, Braz Florentino Henriques de. Do poder moderador: ensaio de direito constitucional contendo a análise do Tit. V, Cap. 1 da Constituição Política do Brasil. Tipografia do Universal, 1864.
- SOUZA, Iara Lis Carvalho. Pátria Coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831). São Paulo: Unesp, 1999.
- SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo Trad. port. São Paulo: Editora Unesp, 1999 [1998].
- SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno Trad. port. São Paulo: Companhia das Letras , 1996 [1978].
- TILLY, Charles. Regimes and repertories Chicago. University of Chicago Press, 2006.
- TISSOT, Joseph. Principes du droit public: Introduction philosophique à l’étude de droit constitutionnel. Paris: Marescq Ainé, 1872.
- VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo Trad. port. Bauru: Edusc, 2003 [1971].
- VEYNE, Paul. Como se escreve a história Trad. port. Lisboa: Edições 70, 2008.
- VIDEIRA, Susana Antas. Para a história do direito constitucional português: Silvestre Pinheiro Ferreira. Coimbra: Almedina, 2005.
- WEHLING, Arno. Silvestre Pinheiro Ferreira e as dificuldades de um império luso-brasileiro. In: FERREIRA, Silvestre Pinheiro. As dificuldades de um império luso-brasileiro Brasília: Senado Federal, 2012, p.09-32.
-
1
Este artigo é parte do resultado obtido em pesquisa de pós-doutorado realizada no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, entre agosto de 2023 e julho de 2024, sob supervisão do professor Paulo Jorge Fernandes, a quem deixo meus agradecimentos. A pesquisa foi financiada pela Capes, Programa PRAPG, Processo n. 88887.946505/2024-00.
-
3
Lopes, 2012, p.290.
-
4
Ferreira, 1830.
-
5
Cf. Gouveia, 2011; Rodrigues, 1995; Videira, 2005.
-
6
Não há, tanto na Carta de 1824 como na legislação eleitoral posterior, menções literais a um “poder eleitoral”. Mesma situação parece se dar nas principais obras de direito administrativo do período imperial, em que surge a expressão “sistema eleitoral”, referindo-se neste caso ao arcabouço legal regulador das eleições. Ver Sousa, 1862; Souza, 1872. A utilização do termo “poder eleitoral” ocorre, fundamentalmente, no universo da imprensa periódica e nos discursos parlamentares, notórios espaços do debate político.
-
7
Martin, 1884, p. 75-124.
-
8
Cardoso, 2007.
-
9
Colón-Rios, 2020.
-
10
Rosanvallon, 2007 [2004].
-
11
A Revolução Francesa impôs às palavras e expressões um grande poder de arrebatamento, potencial que também foi explorado nas décadas seguintes. Com isso, era comum que homens de letras tomassem precauções na difusão de determinados vocábulos, sobretudo aqueles conceitualmente dúbios. Cf. Hunt, 2007 [1984], p.42.
-
12
Em seus estudos sobre o direito constitucional francês, Michel Prélot se apercebe como a ideia - perfeitamente lógica, na ótica do autor - de que o povo, ao eleger, seria ele próprio um poder do Estado, teve grande dificuldade em emergir no debate político oitocentista e ser aceita como tal. Cf. Prélot, 1961, p.68.
-
13
Lefort, 1991 [1986], p.48-49.
-
14
Pinzón, 1852.
-
15
Miranda, 2018, p.14-15.
-
16
Ferreira, 1830 e 1834.
-
17
Skinner, 1999 [1998], p.94.
-
18
Ver, por exemplo, Paim, 1987.
-
19
Baczko, 1984.
-
20
Skinner, 1996 [1978].
-
21
Skinner, 1996 [1978].
-
22
Armitage, 2014.
-
23
Hespanha, 2009.
-
24
Em Portugal, sobretudo na segunda metade do século XX, foram publicadas obras referenciais sobre o pensamento filosófico, jurídico e político do autor que serviram de base para estudos posteriores preocupados em compreender os nexos entre sua obra política e o liberalismo oitocentista luso-brasileiro. Ver, por exemplo, Pereira (1975) e Silva (1975). No Brasil, a figura de Pinheiro Ferreira foi tratada quase sempre de maneira tangencial, não como objeto precípuo. Abundam referências pontuais ao pensador português no que se refere ao período joanino, bem como estudos voltados para o seu pensamento filosófico. Para Arno Wehling, a figura de Pinheiro Ferreira acabou ofuscada por personagens de maior projeção dentro da máquina pública luso-brasileira - a exemplo de D. Rodrigo de Sousa Coutinho -, recebendo assim menor atenção por parte dos historiadores preocupados com os conturbados anos 1810-1820. Cf. Wehling, 2012. De toda forma, é possível vislumbrar um paulatino salto qualitativo em termos de análise histórica nos últimos anos.
-
25
Lyra, 1994; Souza, 1999; Wehling, 2012; Silva, 2006.
-
26
Dutra, 2020.
-
27
Berbel; Ferreira, 2012.
-
28
Veyne, 2008 [1971].
-
29
Sardica, 2021.
-
30
Homem, 2001, p.341-359.
-
31
Silva, 2022, p.375-376.
-
32
Silva, 1975, p.58-71.
-
33
Mesquita, 2006, p.272.
-
34
Ferreira, 1834, t.1, p.VI.
-
35
Ferreira, 1830.
-
36
Cherbuliez, 1838, p.328-329; Martens, 1858; Mailfer, 1874; Alcorta, 1887.
-
37
Duran, 2015.
-
38
Ferreira, 1848 [1845].
-
39
Belaunde, 2016.
-
40
Constant, 2017 [1814].
-
41
Ferreira, 1830, p.x-xiii.
-
42
Ferreira, 1831.
-
43
Ferreira, 1838b.
-
44
Ver, do autor, Projetos de ordenações para o reino de Portugal (1831) e Projeto de código político para a nação portuguesa (1838).
-
45
O conceito de poder conservador em Pinheiro Ferreira é diretamente inspirado no poder real de Benjamin Constant, a quem o autor faz questão de prestar sua homenagem. Porém, diferentemente do pensador franco-suíço, a quem o poder real é um apanágio exclusivo da realeza, sendo, portanto, uma instância harmonizadora e moderadora dos demais poderes, o publicista português o considera inerente ao exercício dos demais poderes, cada um à sua maneira, e aos próprios cidadãos, por meio do uso do direito de petição, cf. Ferreira, 1834, t.3, p. 323-338.
-
46
Mesquita, 2006, p.152.
-
47
Ferreira, 1834, t.1., p.183.
-
48
Ferreira, 1830, p.353-367.
-
49
Ibid., p.355-358.
-
50
Ibid., p.358-59. Tradução do autor
-
51
Ferreira, 1834, t.3, p.32.
-
52
Proudhon, 1840, p.162.
-
53
Ferreira, 1834, t.1, p.106.
-
54
Venturi, 2003 [1971].
-
55
Ferreira, 1830, t.1, p.371. Tradução feita pelo autor.
-
56
Espécie de cédula.
-
57
Videira, 2005, p.331.
-
58
A questão da duração das legislaturas dividia opiniões entre os teóricos políticos do início do século XIX. A posição mais aceita era a de que períodos inferiores a três ou quatro anos tornariam os representantes excessivamente dependentes do eleitorado, que se deixava influenciar por vogas de momento, cf. Manin, 2008 [1995].
-
59
Ferreira, 1830, p.366-367. Tradução feita pelo autor.
-
60
Ferreira, 2023, p.117-188.
-
61
Ferreira, 1835 [1831], p. 115-117 A primeira edição do texto é de 1831. A de 1835 traz considerações do autor a respeito do Ato Adicional (1834) à Carta brasileira de 1824.
-
62
Ferreira, 1838a, p.04-05.
-
63
Belime, 1844, p. 352-353.
-
64
Cherbuliez, 1838, p. 328-329.
-
65
Rodrigues, 1863, p.22-23.
-
66
Saint-Prix, 1851, p.338; Tissot, 1872, p.104.
-
67
Herrera, 1853, p.177.
-
68
Souza, 1864, p.369.
-
69
Silva, 1998, p.89.
-
70
Borges, 1832, p.14.
-
71
Carvalho, 1833, p.26; 105-106.
-
72
Manin, 2008 [1995], p.202.
-
73
Charnay, 2019 [1965]; Bin (2016).
-
74
Ortolan, 1848, p.29-35.
-
75
São os casos dos já citados Barante e, mais tarde, de Saint-Girons, cf. Bin, 2016, p. 812.
-
76
Lastarria, 1848, p. 147-150.
-
77
Anúncios publicados em jornais entre as décadas de 1830 e 1870 contém fartos indícios de que as principais obras de Pinheiro Ferreira eram vendidas em livrarias ou estavam disponíveis para consulta em bibliotecas públicas.
-
78
A Nova Luz Brasileira, Rio de janeiro, n.152, 09/07/1831; O Jurujuba dos Farroupilhas, Rio de Janeiro, n.06, 03/10/1831. Sobre a apropriação das ideias de Pinheiro Ferreira pelos liberais exaltados, ver Fonseca, 2006.
-
79
Em termos atuais, equivaleria à cassação de mandato parlamentar.
-
80
A Aurora Fluminense, Rio de Janeiro, n. 59, 03/10/1838; O Sete de Abril, Rio de Janeiro, n.147, 27/05/1834.
-
81
A apropriação das ideias de Silvestre Pinheiro Ferreira a respeito da questão eleitoral não se limitava à adoção ou não da sua concepção mais ampla de poder eleitoral. Considerações do pensador português foram acionadas por grupos políticos em contextos os mais diversos. No México, as ideias de Pinheiro Ferreira sobre o perfil do candidato ideal foram evocadas em meio ao debate sobre a reforma da Constituição de 1824, ao final da década de 1840, cf. Porrúa, 2016.
-
82
Abramson, 1999, p.91.
-
83
Aulard, 2014.
-
84
Tilly, 2006.
-
85
Monteiro, 2020, p.19.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
31 Mar 2024 -
Aceito
24 Out 2024
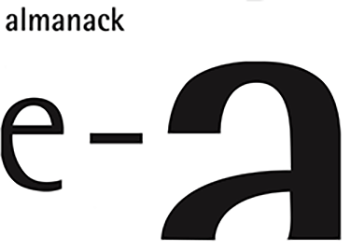
 CONSTITUCIONALISMO E PODER ELEITORAL EM SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA
CONSTITUCIONALISMO E PODER ELEITORAL EM SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA