Resumo
O presente artigo busca analisar a produção de escritos de queixas e denúncias contra os empregados públicos no primeiro constitucionalismo brasileiro. Atendo-nos às discussões sobre o exercício do poder público que foram desencadeados ao se produzir queixas e denúncias contra a má condução dos cargos públicos, intentamos aqui recuperar certos aspectos da materialidade do questionamento da conduta dos juízes no século XIX brasileiro. Este exercício possibilita-nos compreender sob novas dimensões a primeira experiência constitucional brasileira.
Palavras-chave:
Primeiro Constitucionalismo; Empregado Público; Queixas e Denúncias; Brasil Império
Abstract
This article seeks to analyze the production of writings of complaints and denunciations against public employees in the first Brazilian constitutionalism. By focusing on the discussions about the exercise of public power that were triggered by the production of complaints and denunciations against the misconduct of public officials, we try to recover certain aspects of the materiality of the questioning of the conduct of judges in the nineteenth century in Brazil. This exercise allows us to understand the first Brazilian constitutional experience in a new light.
Keywords:
First Constitutionalism; Public Employee; Complaints and Denunciations; Empire Brazil
1. Introdução
“[Q]uando o procedimento de um empregado público é estranhado pelo seu superior, é forçoso, que esse se justifique produzindo seus fundamentos”.3 São nesses termos que, em 1830, o então presidente da Câmara Municipal de Paracatu, Francisco Antônio de Assis, compreendeu a necessidade de esclarecer os questionamentos levados ao conhecimento do governo provincial sobre a sua atuação.
Esse pequeno fragmento levanta algumas questões importantes acerca do exercício do cargo público no século XIX brasileiro. O primeiro refere-se ao fato de que se os procedimentos dos empregados públicos no exercício de suas funções são questionados por autoridades superiores, cabia aos mesmos respondê-las fundamentando a sua atuação. Outro ponto é que os empregados públicos não exerciam sua autoridade em um vazio de questionamento e/ou possibilidade de um processo disciplinar, quando não desempenhasse bem suas funções. Ou seja, ser titular de um cargo público nas localidades do Brasil oitocentista não é apenas dispor de amplos poderes, mas igualmente estar sujeito a queixas da população local contrária à sua condução do cargo.
Esse ponto é tido aqui como central, pois coloca em cena o objeto de observação das páginas seguintes: as queixas e denúncias contra os empregados públicos. As reflexões postas em curso nestas páginas estão inseridas em uma investigação mais ampla, em desenvolvimento, que visa analisar a administração da justiça nas primeiras décadas do século XIX brasileiro, por meio do processo de responsabilidade dos juízes de paz.
Desse modo, as questões aqui apresentadas foram formuladas tendo como objeto de observação a administração da justiça local posta em curso na província de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XIX. O que faz com que sejam permeadas por certos particularismos da região mineira. Contudo, esse olhar mais localizado, ainda que sujeito a certas clivagens, não impossibilita ampliar o debate para o restante do “funcionalismo público”4 imperial. Como bem vem demonstrando a historiografia nas últimas décadas, voltar o olhar para as províncias do Império não implica seu isolamento da realidade nacional, mas o reconhecimento de identidades e dinâmicas próprias e a forma como elas se articularam à experiência da construção do Estado nacional brasileiro.5
Nesses termos, em meio ao variado conjunto documental utilizado para construção de nossos argumentos - queixas e denúncias, processos judiciais, debates parlamentares, manuais, atas das sessões das instituições de administração provincial,6 ofícios e normativos do período -, ainda que não exclusivas, as situações envolvendo autoridades judiciais foram privilegiadas na construção da reflexão posta em curso nestas páginas.
Isso também, pois, as queixas e denúncias realizadas contra os agentes da justiça local, nas primeiras décadas do século XIX brasileiro, têm sido encaradas pela historiografia7 como manifestações da precariedade do judiciário oitocentista. Esvaziando-as de sua dimensão de controle das condutas das autoridades públicas, e de instrumentos de abertura de processos disciplinares.
Na presente investigação, partimos do princípio de que “petição” se constitui em uma nomenclatura mais genérica que visa enquadrar escritos que levavam a distintos espaços de poder queixas, pedidos e proposições de diversos setores da sociedade.8 Ao mobilizarmos o termo “petição” deve-se levar em conta que nos referimos a escritos fundados no direito de representar: queixas ou denúncias contra titulares de cargos públicos, na grande maioria dos casos, aqui, aquelas realizadas contra juízes.
Segundo Beatriz Rojas, o direito de representar era um direito que dispunham os súditos nas monarquias de Antigo Regime, e que seguiram exercendo ininterruptamente baixo a implementação do constitucionalismo. Esse direito possibilitava um contato direto da sociedade com as autoridades constituídas, sem passar pelas instâncias representativas existentes. Um direito mobilizado de forma individual ou coletiva, e que se materializava por meio da prática peticionária.9
Dessa forma, ao longo do Antigo Regime, bem como de boa parte do século XIX, vigorava nas formações sociais uma concepção ampliada de expressão cidadã.10 Essas ainda não haviam sofrido (ou, ao menos, não estava sedimentado) o progressivo processo de monopolização, ou, segundo Rosanvallon, o atrofiamento da expressão cidadã, no qual o contato direto da sociedade com as instâncias de poder seria alvo de constantes críticas.11
Ao longo desse período histórico, as petições constituíram-se a ferramenta mais utilizada contra os excessos cometidos por quem detinha autoridade de qualquer nível; era o direito que tinham os súditos de dirigir-se diretamente ao rei e denunciar os abusos e injustiças padecidas.12 Logo, o exercício do cargo público conviveu intimamente com queixas e denúncias, demonstrando que, para a sua compreensão, é imprescindível tomarmos em conta a prática peticionária.
Mais do que isso, na grande maioria das vezes, foram petições que desencadearam a abertura dos processos de responsabilidades contra os juízes. Como argumenta Renata Silva Fernandes, esses escritos tinham a capacidade de ativar “mecanismos de sindicâncias”, colocando em cena “a existência de formas mais difusas de recurso e de controle sobre as condutas dos oficiais”.13 Para Cecilia Nubola, quase todos os processos, decisões, sentenças ou concessões de graça tinham em sua origem uma petição ou súplica, constituindo-se em instrumentos eficientes para desencadear, intervir ou retificar a tramitação de procedimentos judiciais.14
Nos últimos anos, a prática peticionária vem sendo motivo de grande atenção em meio aos historiadores. Não que seu uso como fonte histórica seja de agora, pelo contrário, há tempos esse tipo de documento figura em meio às pesquisas historiográficas,15 todavia, cada vez mais vem tomando corpo um movimento de pensar essa documentação por si própria, trazendo à luz uma série de formas de trabalhá-la e refleti-la .16
Contudo, cabe destacar que as páginas seguintes não se tratam de um estudo estrito sobre a prática peticionária, ainda que, sem dúvida, guarde pontos de interseção com essa problemática. Interessa-nos, aqui, recuperar certos aspectos da materialidade do questionamento da conduta dos juízes, buscando revelar normas e configurações relativas ao ato de queixar-se contra as autoridades públicas nas primeiras décadas do século XIX. Compreender tais características oferece informações de como essa sociedade lidava com os excessos cometidos pelos juízes na condução da justiça, bem como amplia o entendimento do universo jurídico oitocentista.
Desse modo, as interrogações que nos ocupamos estão menos relacionadas à natureza da prática de peticionar e mais preocupadas com o debate sobre o exercício do poder público que pode ser desencadeado ao se produzir queixas e denúncias.
Outro ponto que merece esclarecimento é a forma como operacionalizamos os termos “queixa” e “denúncia” no decorrer destas páginas. Para o Código do Processo Criminal de 1832, “queixa” estava relacionada à parte ofendida ou a alguém com vínculo consanguíneo ou jurídico que a representasse: “a queixa compete ao ofendido, seu pai ou mãe, tutor ou curador, sendo menor; senhor ou cônjuge”.17 Já a “denúncia” estava relacionada à autoridade pública competente, bem como a qualquer um do povo: “a denúncia compete ao promotor público, e a qualquer do povo”18. Isso quer dizer que no âmbito jurídico, esses dois termos tinham fronteiras que os delimitavam e os tornavam instrumentos jurídicos com identidades próprias. Porém, seu objetivo último, no mundo constitucional, acabava por coincidir, isto é, instaurava um processo criminal. Em um universo jurídico marcado pela lógica da querela e devassa, as diferenças entre os dois instrumentos eram ainda mais latentes, uma vez que as denúncias se desdobravam em devassas e as queixas, em querelas.19
Porém, na linguagem cotidiana utilizada fora dos tribunais (por exemplo, nas petições), nem sempre tais termos são mobilizados com distinções muito marcantes, fazendo com que, muitas vezes, “queixa” e “denúncia” fossem tidas como sinônimos pelos coetâneos. Ilustra bem essa questão a crítica que o deputado Vergueiro realizou aos seus companheiros, em 1826, no âmbito da discussão da lei de responsabilidade dos ministros, na Câmara dos Deputados:
Foi neste espírito, que se concebeu o projeto: quando a manifestação do crime é feita pela parte chama isto de queixa, quando é feita pelo povo chama-se isso de denúncia, e não tem nenhum destes nomes, quando vem o crime por simples notícia ao conhecimento do juiz. O projeto original trazia essas diferenças, nele se falava em queixa, denúncia, e proposta de qualquer dos membros da câmara, porém entrando em discussão, reduziu-se tudo a denúncia, ou deu-se nome de denúncia a tudo, à queixa, à notícia, e finalmente a toda manifestação do delito.20
Dada a capilaridade dessa prática linguística em meio à documentação, optamos por não realizar uma diferenciação sistemática entre “queixas” e “denúncias”, ao menos quando tratamos das petições, que são instrumentos extrajudiciais. Na documentação analisada nestas páginas, tais termos por vezes foram empregados pelos coevos como equivalentes, aplicando-os muitas vezes de forma concomitante, sem marcar distinções.
Como mencionado, as reflexões postas em curso partem de uma pesquisa em desenvolvimento, assumindo a forma de resultados parciais; desse modo, pretendemos apresentar e abrir para debate uma discussão pouco explorada pela historiografia e que, a nosso ver, possibilita-nos compreender a primeira experiência constitucional brasileira sob novas dimensões, aprofundando nosso conhecimento sobre esse complexo período da história brasileira.
Por último, cabe destacar que o presente texto foi dividido em quatro momentos: num primeiro, este que o leitor está prestes a finalizar, buscamos traçar um breve panorama das questões e dos objetivos que permeiam estas páginas; no seguinte, tratamos do debate político em torno das queixas e denúncias contra os empregados públicos desencadeado na primeira experiência constitucional ibérica; no terceiro, abordamos tal questão no âmbito do Império do Brasil, analisando legislações do período e as petições encaminhadas às intuições de administração provincial; por fim, tecemos algumas considerações finais.
2. Uma discussão transatlântica
Para iniciar o debate, retomemos uma discussão que teve lugar nas Cortes Ordinárias Portuguesas, em 1823,21 no âmbito do debate parlamentar do projeto de responsabilidade dos empregados públicos.22 Nesse momento, o projeto de criação de uma constituição para os dois lados do Atlântico luso, que mantivesse a integridade do Império português, já havia demonstrado sua debilidade frente a divergências de interesses entre portugueses e americanos no âmbito da constituinte portuguesa. Revelando as leituras conflitantes que os dois grupos realizavam do projeto que visava manter a integridade do Império português, cada um deles arrogando para si a preeminência; até que se tornou possível enunciar o separatismo como uma opção.23
Enquanto o Brasil, recém-independente, vislumbrava a difícil tarefa de pôr em execução a construção de um Estado unitário com sede no Rio de Janeiro, em um extenso território, em que pouca coesão havia entre suas partes, as quais detinham grupos que não partilhavam o mesmo projeto de futuro,24 deflagrou-se, em Portugal, uma questão que posteriormente também iria se converter em um ponto de tensão no direito de representação no constitucionalismo brasileiro.
Eram 8 de janeiro de 1823, entrou em discussão nas Cortes Ordinárias o projeto de responsabilidade dos empregados públicos “Da Responsabilidade dos Funcionários Públicos, e da Maneira de a Fazer Efetiva”, de autoria de João de Sousa Pinto de Magalhães.25 Nesse projeto, que visava disciplinar o procedimento de responsabilidade dos empregados públicos, dois artigos promoveram uma discussão sobre o exercício do cargo público no mundo constitucional que, a nosso ver, transcendem as Cortes portuguesas e levantam questões que mais tarde marcaram presença na cultura de produção de escritos de queixas e denúncias da antiga colônia portuguesa na América.
Isso não por acaso. Devemos recordar que os primeiros debates constitucionais (incluindo a produção de leis e códigos) postos em curso na Europa serviram de base de observação/inspiração para os emergentes Estados constitucionais que surgiram nas Américas com o processo de descolonização.26 Essas experiências constitucionais serviram como horizonte de expectativas para os emergentes Estados americanos, que, mimetizando tais experiências, construíram saídas constitucionais próprias, tendo em vista seus respectivos contextos particulares.27 Todavia, existiam questões e problemáticas que acabavam sendo compartilhadas por essas distintas experiências constitucionais (basta ver os constantes exercícios de história constitucional comparada).
No caso de Brasil e Portugal, tal ponto é de grande importância. Afinal, se quando da discussão do projeto de responsabilidade nas Cortes fazia alguns meses que havia deflagrado a Independência, e o Brasil rompido politicamente com Portugal, os mesmos compartilharam séculos não só debaixo da mesma coroa, mas também da mesma cultura jurídico-política. Assim, a experiência constitucional portuguesa foi observada pelos legisladores brasileiros e inspirou formulações legislativas no Brasil, daí a pertinência em recuar o olhar um pouco mais distante para levantar uma questão central acerca das queixas contra os empregados públicos no século XIX.
Dois artigos do projeto de “responsabilidade dos funcionários públicos” norteiam o debate aqui em curso, o art. 12 e o art. 17. A problemática foi instaurada pelo art. 12, mas, devido às cláusulas vinculativas que os conteúdos dos dois artigos tinham, estes foram constantemente invocados de modo concomitante. Tais artigos marcavam que:
Art. 12. A proposição, o ofício, ou a petição, em que se proponha ou requeira a formação de culpa, não poderá ser atendida uma vez que não venha acompanhada de documentos, ou instrumentos necessários para fazerem acreditar a existência do delito. Nos casos, porém que parecendo o fato duvidoso, a causa pública correria risco, se ele se não prevenisse, proceder-se-á oficialmente a averiguação dele com o possível resguardo, ainda que não venha suficientemente documentado.
[...]
Art. 17. Logo que a Comissão tenha circunspectamente examinado a proposição, ofício, ou petição, seus motivos e documentos (artigo 12) apresentará às Cortes o seu parecer, sobre se há ou não lugar a formação de culpa; o qual depois de lido, será depositado sobre a mesa, onde poderá ser examinada por todos os deputados.28
Tão logo se iniciou a discussão de tais artigos, delineou-se em meio aos deputados um antagonismo acerca da questão da apresentação de documentos para que as queixas fossem atendidas. Alguns defenderam a doutrina produzida nos artigos de que, para que fossem atendidos a proposição, o ofício ou a petição feitos contra o “funcionário público”, seria necessário que viessem conjuntamente os documentos comprovatórios da prevaricação ou delitos do “funcionário público”; outros, por outro lado, argumentavam que não seriam precisos mais do que a proposição, o ofício ou a petição contra o empregado público.
Frente a essa problemática, o deputado Serpa Machado sustentou que na mente do autor do projeto a exigência de documentos está vinculada à necessidade de verificar a existência de delito; nesse sentido, aqueles que buscassem se queixar de uma autoridade pública deveriam apresentar “documento ou sejam testemunhais ou de outra espécie: o que são princípios gerais de jurisdição criminal. [...] não deve fazer-se uma acusação sem fundamento algum”.29 Foi nessa direção que o senhor Trigoso orientou seu voto, argumentando que toda divergência da questão se fundava na palavra “documento”, e que estava persuadido de que “os documentos são necessários” e a razão era clara, uma vez que “[u]ma petição que não prove coisa alguma do que diz quando ela acusa de crime quaisquer autoridades, não se deve fazer caso algum dela”.30 Logo, todo requerimento que não provasse aquilo que alega (que não tem documentos) não deveria ser atendido; pois “[a] Constituição diz que todo cidadão tem o direito de fazer petições e queixas, sem dúvidas, mas elas devem ser examinadas, e só sendo críveis é que devem ser atendidas”.31 Aqui, a ausência de documentos que fundamentassem as queixas presentes nas petições era deixar o campo aberto para os caluniadores que, movidos por sua perversidade, incomodavam os empregados públicos.
Por outro lado, deputados como Barreto Feio argumentavam que “[e]m todo o governo bem constituído qualquer cidadão tem o direito inauferível de acusar perante o magistrado, ou tribunal competente, e mesmo perante ao Congresso a qualquer funcionário público, que atenta contra as leis, e de ser atendida a sua acusação”.32 Do mesmo modo, o deputado argumentava que “todo o funcionário acusado tem obrigação de se justificar, que assim o pede a sua honra, e o interesse público, portanto todas formalidades que tendão a inutilizar, ou retardar as acusações, são prejudiciais à sociedade”.33 Logo o senhor Brandão Pereira alertava aos seus companheiros que se “‘a petição, ofício, ou proposição de queixa contra o funcionário cessa desde que não há motivos, e documentos, que as instruam’. Que perigosa doutrina! Se passa tal dependência, passa também a responsabilidade, e impunidade do funcionário”.34
Nessa perspectiva, a doutrina que sustentava que as queixas ou denúncias contra os empregados públicos viessem necessariamente documentadas era entendida como uma forma de privar os cidadãos do direito de queixa e reclamação (o direito de representação); por conseguinte, era uma proposta inconstitucional. Como sustentou o senhor Derramado, a Constituição (1822) estabelecia que “os cidadãos portugueses têm o direito de peticionar, e expor às Cortes; e esta obrigação de examinar as petições e exposições sem restrição alguma”,35 portanto, “o que pretende impor o artigo do projeto como condição sine qua non, é anticonstitucional”, porque restringe preciosos direitos do cidadão.36
O deputado José Bento Pereira reforça ainda mais o argumento da inconstitucionalidade ao lembrar que “querer-se que um representante da nação querendo fazer uma queixa contra um empregado público, ande a mendigar provas”,37 porque como era sabido por todos “que muitas, e infinitas vezes será impossível a qualquer queixoso o juntar documentos; nem também se pode sempre extrair certidões, ou justificar as prevaricações do empregado, e muito menos em sítios remotos”.38 A demanda por documentar as representações contra os empregados públicos aparecia nessas falas como uma forma de “agrilho[ar] a liberdade dos cidadãos”.39
Procurava-se vincular o ato de se queixar dos empregados públicos à apresentação de comprovatório para que a representação pudesse se tornar digna de atenção; ou considerar que a queixa por si só já seria o suficiente para mobilizar algum tipo de indagação acerca da forma como vinha sendo exercida a jurisdição por uma dada autoridade.
A discussão da doutrina estabelecida pelos artigos se prolongou por várias sessões, o que se converteu em motivo de questionamento para alguns deputados.40 No transcurso desse debate, colocou-se em manifesto como a apresentação de documentos para admissão de queixa foi um ponto polêmico em meio aos legisladores portugueses. Não somente entre eles, ao que tudo indica. Marta Lorente demonstra que, anos antes, essa questão já havia sido motivo de dissenso entre os deputados de Cádiz.41
Isso exemplifica a fala do deputado Dueñas em março de 1811, em que declarava: “[…] oigo con espanto que cuando un tribunal está obrando con arreglo a las leyes se quiera interrumpir sus funciones deteniendo el curso ordinario de una causa sin más fundamento que una mera queja del delincuente, desnuda de justificaciones y documentos […]”.42 García Herreros, em sentido contrário, argumentou: “Se dice que debe venir con justificación; ¿cuál ha de presentar un reo?, ¿quién dará ese testimonio de que no se obedecen las leyes?, ¿vendrá con un visto bueno del tribunal que le juzga? […] El pedir que los reos documenten es privarles de que recurran”.43 Segundo Lorente, uma das questões que se colocava era: se as denúncias de infração da constituição dirigidas às Cortes denunciavam a atuação dos poderes públicos, não se podia esperar que estes mesmo cedessem documentos que comprovassem sua má atuação.
Por trás desse embate de documentar ou não as petições de queixas, o que se colocava em pauta era o próprio direito de representação no constitucionalismo moderno. Pois ao levantar a questão da exigência da apresentação de documentos para que as queixas ou denúncias contra os empregados públicos fossem consideradas, criou-se uma formalidade que acabou por regular o direito da representação. No entanto, isso era contrário ao disposto em suas respectivas Cartas constitucionais, que, no art. 16, no caso da monarquia portuguesa, marcava: “Todo português poderá apresentar por escrito às Cortes e ao Poder Executivo reclamações, queixas ou petições que deverão ser examinadas”;44 e no art. 373, para a monarquia espanhola, estabelecia: “Todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución”.45
O que pretendemos elucidar com essa breve mirada a esse debate é que, no primeiro constitucionalismo ibérico, a problemática de admitir as representações documentadas, ou recusá-las por defeito na ausência de documentos, foi uma questão que permeou o direito de os cidadãos apresentarem queixas e reclamações no âmbito do constitucionalismo (ao menos quando essas fossem dirigidas contra os empregados públicos). É importante ter em conta que não estamos falando que durante o Antigo Regime as representações contra os oficiais régios não tinham documentos ajuntados a elas de forma a corroborarem com a narrativa nelas contidas. De todo o contrário, essas petições, por vezes, traziam juntos documentos, porém isso não se colocava como obrigação marcada no ordenamento do período para aqueles que buscassem queixar-se dos oficiais régios.
Como argumenta Arndt Brendecke, ao observar a dinâmica do governo posta em curso pelo Império Espanhol, frente à necessidade de dominar extensos e longínquos territórios, o conhecimento do que se passava nos domínios de além-mar era fundamental. O domínio colonial criou a necessidade de produzir descrições das realidades distantes, para que, por meio dessas, fossem tomadas decisões a partir do centro do império. O processo que promoveu o aumento dos domínios imperiais implicou também a redução do contato direto com o rei e o aumento da importância da mediação por parte das pessoas (funcionários, visitadores) e meios (informantes, testemunhos e mapas). A Coroa sempre deveria estar aberta a escutar. Nesses termos, todos os súditos se convertiam em um possível informante acerca das ações e omissões dos outros, pois eles se observavam mutuamente entre si, julgavam-se e eventualmente faziam comunicações à Coroa por meio das petições. Essa vigilância social constante era fundamental para o domínio dos territórios além-mar, pois alicerçava-se na lógica de uma “liberdade de escrever” dos súditos; isto é, a liberdade de toda e qualquer pessoa que quisesse, pudesse escrever e enviar qualquer escrito ao centro do império sem impedimento algum. Logo, no governo a distância, dificultar a possibilidade de escrita (independente do conteúdo) era algo altamente criticável.46
Embora as demandas contidas nas petições pudessem transmutar-se em processos judiciais, ou mesmo fossem capazes de produzir modificação, reconsideração ou anulação de sentenças e punições,47 essas se tratavam de instrumentos extrajudiciais. No que toca aos trâmites judiciais, desde muito estava instaurada uma sólida noção de prova. Pablo Rissi demonstra isso em opúsculo publicado em 1787, dirigido aos jurisconsultos e magistrados. Nele, o autor se levanta contra a tortura e a produção de tormento como meio para obtenção de provas que fundamentassem as decisões judiciais, bem como contra as penas cruéis e desmedidas aos delitos. Realizando uma interessante leitura de textos e manuais48 que orientaram a atividade judicial no âmbito da “cultura jurídica do ius communes”,49 Rissi sustenta que “no deben los Tribunales pronunciar juicio alguno en punto de delitos, sin que lo apoyen sobre pruebas tan evidentes que igualen, y aún excedan, como dicen los Jurisconsultos, la misma claridad del sol. Probationes luce clariores”.50 Uma vez que já advinha como princípio da cultura jurídica romana que todos os acusadores, quando formam acusações públicas, deveriam prová-las com testemunhos suficientes, ou com documentos convincentes, ou apoiá-las em indícios que as provem, e que estes sejam mais claros que o dia.51
Sendo assim, o argumento que desenvolvemos aqui é que foi no âmbito do constitucionalismo moderno que a presença ou ausência de documentos nas petições de queixas ou denúncias contra os empregados públicos se constituiu em uma questão problemática que acompanhou o direito dos cidadãos apresentarem queixas e reclamações no século XIX. E não qualquer problemática, mas uma que tinha como centro da questão a restrição ao acesso de um direito assegurado nas Cartas Constitucionais (o direito à representação, muitas vezes também expresso como: direito à queixa e à reclamação). Dessa forma, se a presença de documentos em petições não era uma novidade, certamente era o fato de ter se convertido em um debate parlamentar, e se apontada como uma forma de disciplinar as petições e restringir direitos constitucionalmente assegurados. Essa problemática foi uma identidade daquelas queixas e denúncias realizadas no âmbito do constitucionalismo; que muito podem nos informar acerca da relação dessa sociedade com aqueles que exercem o cargo público.
3. Queixas e denúncias contra os empregados públicos no Brasil do século XIX
Longe de tal debate ficar restrito ao constitucionalismo Ibérico, a análise das queixas contra os empregados públicos nas primeiras décadas do século XIX brasileiro sugere que tal problemática também fez parte da cultura de produção de escritos de queixas e denúncias no Brasil. Observamos instituições oscilando entre recusar ou aceitar petições não documentadas, coetâneos se esforçando para ajuntar documentos em suas queixas e uma constante tensão entre o direito de representação e as legislações que buscaram disciplinar as queixas contra os empregados públicos no Brasil Império.
Como sabido, com as revoluções liberais, ocorre um processo de constitucionalização do antigo direito de representar, implicando em sua frequente associação à ideia de direito de petição. A historiografia que observa a prática peticionária no século XIX vem defendendo que esta sofreu um progressivo processo de politização, assumindo significados como representação cidadã e vontade popular.52 Contudo, se novos significados e linguagens (destaque aqui para a questão dos direitos civis) podem ter sido incorporados por essa prática secular de interação entre governados e governantes frente à sua inserção nos fóruns políticos inaugurados em fins do século XVIII, esta estava muito distante de ter sido descaracterizada, conservando sua função tradicional de demanda e reparação de justiça.53
Tamanha centralidade que, no ano de 1838, na província de Minas Gerais, o direito de se expressar por meio de representação se converteu no centro da questão de uma disputa judicial. Francisco Luiz Soares de Carvalho, ex-juiz de paz do distrito da Saúde, justamente se utilizava desse argumento para conseguir demonstrar a nulidade de um processo instaurado contra ele, devido a sua atuação quando exercia o cargo de juiz de paz.54
Segundo Francisco Luiz Soares de Carvalho, um processo foi instaurado contra ele e uma pronúncia emitida sem que lhe fosse dado direito de responder às acusações que lhe foram feitas. Nesse sentido, na busca de conseguir a anulação do processo, ele invocava em sua defesa o direito de representação, uma vez que:
[...] como empregado público devia primeiro ser ouvido por escrito na conformidade do Art. 159 do Código do Processo Criminal, que neste juízo se usurpava, foi o suplicante arbitrariamente preterido deste sagrado direito de petição, porque não se quis consentir que [?]55 escrevesse [...].56
O recurso a esse argumento não se deu por acaso, uma vez que o direito de representar no Brasil foi assegurado no título 8° da Carta Constitucional de 1824 (“Das disposições gerais, e garantias dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros”), que marcava no art. 179 que todos os cidadãos poderiam apresentar por escrito reclamações, queixas ou petições, ou até expor qualquer infração da constituição; o que seria reiterado em distintas legislações do período, vide o caso do art. 159 citado anteriormente.57 Contudo, tal como no debate encenado nas Cortes Ordinárias em Portugal, pouco meses após o Brasil deixar de ser parte do Império português, o direito à representação seria permeado pela problemática de documentar as queixas contra os empregados públicos. Tal questão fica manifesta ao observarmos a legislação do período.
A Lei de 15 de outubro de 1827, que tratava da responsabilidade dos Ministros e Secretários de Estado e dos Conselheiros de Estado, no capítulo III, seção I (“Da denúncia e decreto de acusação”), marcava no art. 8 que todo cidadão pode denunciar na forma do art. 179 da constituição. A mesma lei, no artigo seguinte (Art. 9) marcava que “[a]s denúncias devem conter a assinatura do denunciante, e os documentos, que façam acreditar a existência dos delitos, ou uma declaração concludente da impossibilidade de apresentá-los”.58
Formulação similar aparece na Lei de 29 de novembro de 1832, que promulgou o Código do Processo Criminal, que no capítulo V (“Da denúncia dos crimes de responsabilidade dos empregados públicos, e a forma do processo respectivo”), reitera no art. 150 que “todo o cidadão pode denunciar, ou queixar-se perante a autoridade competente, de qualquer empregado público, pelos crimes de responsabilidade”. No art. 152, a mesma lei estabelecia que
[A] queixa, ou denúncia só se admitirá por escrito, e deve conter: 1° a assinatura do queixoso, ou denunciante, reconhecida por tabelião, ou escrivão do juízo, ou por duas testemunhas; 2° os documentos, ou justificação, que façam acreditar a existência do delito, ou uma declaração concludente da impossibilidade de apresentar algumas destas provas.59
A questão que se coloca é que se a constituição, no art. 179, assegurava o direito aos cidadãos apresentarem queixas e reclamações, sem mencionar a necessidade de apresentar documentos que as corroborem, as duas legislações aprovadas posteriormente acabavam por disciplinar a prática de se queixar das autoridades públicas, colocando em cena a demanda por documentação.
Deve-se perceber, nessas instruções legais, documentar para se queixar era uma questão central, basta ver que, mesmo que se possibilitem certas exceções quanto à documentação, as queixas ainda deveriam vir acompanhadas de uma justificativa convincente sobre os motivos da ausência dos documentos. Em outras palavras, esperava-se que todas as queixas contra os empregados públicos viessem com documentos e, na ausência destes, era necessário ter um outro documento que justificasse a ausência de documentação na queixa. Ao fim e ao cabo, ao menos no que toca aos reclamos direcionados contra os empregados públicos, o direito de apresentar reclamações, queixas ou petições era fortemente tensionado frente à demanda por documentar.
Essa situação também é possível de observar ao se analisar a forma como as instituições da administração provincial lidavam com as diversas petições que chegavam às suas sessões desde as mais diversas partes da província. Essas entidades oscilavam entre aceitar ou recusar queixas não documentadas, mas sempre reiterando quando possível a preferência por queixas documentadas.60
Exemplifica esse cenário a queixa recebida pelo Conselho de Governo de Minas Gerais, em 1830. Nesta, o sargento-mor Joaquim Pires de Miranda, em conjunto com outros moradores de Sete Lagoas, queixou-se contra as “injustiças, arbitrariedades e procedimentos despóticos do juiz de paz José Inocêncio Pereira”. Alegava “que o juiz de paz é absoluto e déspota, no exercício de sua jurisdição, que é arbitrário na imposição das penas e ultrajador e perseguidor de todos que não seguem seu partido [...]”. A ausência de documentos nessa queixa fez com que a resposta do responsável pelo parecer fosse: “[p]ortanto parece-me que se deve indeferir o requerimento dos queixosos por falta de prova, deixando-se lhes o direito salvo”.61
Em 1832, foi a vez de Faustino Matias Souza, morador do Tabuleiro Grande, se queixar do juiz de paz de sua localidade, Manoel Borges. Segundo o queixoso, o juiz havia dado ordem para que o prendessem e o matassem. O parecer recebido por essa queixa foi: “mas por que o queixoso não prova a existências de semelhante ordem de maneira que a faça acreditável, e por outra parte o juiz de paz negue que houvesse dado tal ordem. Parecesse-me que deve ser indeferido o requerimento do queixoso”.62
Em fevereiro de 1835, foi apresentada à Assembleia Legislativa Provincial a queixa dos moradores da Passagem do termo da cidade de Mariana, que se queixavam da Câmara Municipal daquela cidade de cobrar foros de suas casas, que dizem os moradores estarem fora das sesmarias. A queixa dos moradores da Passagem logrou despertar a atenção da Assembleia Provincial, fazendo com que a Câmara fosse questionada (possivelmente o fato de ser uma representação coletiva auxiliou nesse ponto), contudo, frente à resposta da Câmara afirmando estarem as casas dentro dos limites das sesmarias, a comissão responsável pelo apreciação do caso fez o seguinte parecer: “como nenhum só documento apresentam os peticionários que possa justificar sua exigência, e destruir os sólidos fundamentos, em que a Câmara se estriba, é de parecer da Comissão que se indefira aos mesmos”.63
Por fim, em março de 1836, a Assembleia apreciou a queixa de João Bernardino Alves Neiva, contra o juiz de paz de Catas Altas da Noruega, Luís Nunes de Carvalho por excesso de jurisdição. A Comissão de poderes e infração de lei dentre os motivos arrolados para se abster de tratar da questão sustentou que “o suplicante não ajuntou documentos, que acreditassem a sua queixa”.64
Observando essas situações que tiveram curso no âmbito das instâncias da administração provincial de Minas Gerais, é possível perceber que as queixas contra os empregados públicos não documentadas eram dotadas de certa debilidade. Primeiro, tinham muito mais chances de serem rejeitadas de imediato (sendo consideradas infundadas), tal como por vezes tiveram dificuldade de acionar os mecanismos de averiguação (autoridade que as instâncias provinciais tinham de exigir documentos e respostas). Por outro lado, ainda quando conseguiam acionar o mecanismo de averiguação, o vazio documental da queixa era facilmente atacado por qualquer documento ou declaração apresentada pelo acusado. Nesses termos, as chances desse tipo de queixa obter sucesso na causa pretendida ficavam significativamente reduzidas, ainda que não impossíveis.
Frente à ausência de documentação nas denúncias contra os empregados públicos, ficava a critério, não muito claro, dos incumbidos de analisar a questão, sanar a carência de documentos, exigindo respostas e certidões dos envolvidos, ou recusá-la, usando do argumento de infundada. Tratando de evitar esse cenário, possivelmente muitos coevos embarcaram na difícil tarefa de reunir documentos ou, como diziam nas Cortes Ordinárias, saíram “a mendigar provas”.65 Possivelmente, depararam-se com uma realidade de pretextos, atrasos e negação de suas solicitações por documentos. Ao menos é isso que sugere a correspondência do oficial arquivista, José Rodrigues Duarte, datada de março de 1838, dirigida ao secretário da província de Minas Gerais.
Ninguém melhor do que V. S.a conhece o estado [?] desta repartição, o atraso, em que se acham muitos trabalhos, a urgência com que são exigidos outros, já para se satisfazerem as multiplicadas exigências da Assembleia Legislativa Provincial, e já finalmente para se dar andamento aos diversos ramos do expediente, e do serviço público. A tudo isso acresce que sou obrigado a dar a V. S.a e aos meus colegas todas as informações que dependerem do Arquivo para bem do mesmo expediente, em que também me tenho empregado, atestando a afluência de trabalho, que nos tem sobrecarregado. É nesse estado que muitas partes têm aparecido pedindo certidões, e entre estas Joaquim Antônio de Azevedo e Silva, que quer uma das maiores que tenho lido, e que dê certo ocupará um empregado por dois ou três dias. Consulto pois a V. S. a se devo por de parte o serviço público para se passar esta certidão, ou se devo adiá-la até que o expediente de lugar a que ela se passe.66
Seguir com o trabalho ordinário do arquivo, ou parar e atender às partes que solicitavam por documentos (certidões, cópias de pareceres, dentre outros); que difícil escolha afligia o cotidiano de trabalho dos “funcionários” do arquivo da secretaria da presidência da província. Também em março de 1838, José Rodrigues Duarte informa ao secretário da presidência que se negou a emitir uma certidão que lhe foi solicitada, pois
[N]ão se achando com a devida clareza o incluso requerimento de Pe Zeferino Henriques de Souza, duvidei passar a certidão no mesmo pedida; e por que o dito Pe insta por ela julguei do meu dever submeter esse negócio ao conhecimento de V. S.a, que resolverá o que for justo”.67
Se essa era a realidade da busca por documento no âmbito provincial, podemos inferir que a tarefa devia ser ainda mais desafiadora nas localidades. Retomando o argumento enunciado pelo deputado José Bento Pereira nas Cortes: “que muitas, e infinitas vezes será impossível a qualquer queixoso o juntar documentos; nem também se pode sempre extrair certidões, ou justificar as prevaricações do empregado, e muito menos em sítios remotos”.68
Ao analisarmos trabalhos que tratam das petições na segunda metade do século XIX brasileiro, como o de Tiago da Silva Cesar, nos parece que, com o passar do tempo, a problemática da documentação nas petições pode ter vindo a se constituir uma questão central nos mais diversos tipos de representações e não apenas naquele observado nestas páginas (nominalmente, queixas e denúncias realizadas contra os empregados públicos).69 Ao analisar o “movimento peticionário” advindo dos cárceres do Brasil Império, de forma mais específica da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, na segunda metade do século XIX, o autor põe em cena a aflição pela busca de documentos para fundamentar as representações. O Decreto nº 2.566, de 28 de março de 1860, que disciplinava a forma como os pedidos de perdão deveriam ser apresentados ao Poder Moderador, nos casos em que a pena imposta não fosse de morte, obrigava a apresentação de documentos na petição de graça. Em vista disso, muitos presos escreveram às autoridades provinciais solicitando o envio de documentos para compor suas petições de graça. Todavia, a conquista dos documentos solicitados por vezes poderia demandar boas doses de paciência e insistência, passando por extensos períodos à espera dos documentos que lhe permitiriam solicitar o pedido de perdão ao Poder Moderador.70
É preciso ter em conta que, se a autoridade competente por realizar a apreciação da queixa considerasse que a petição estava fora da forma como deveria ser apresentada, isso poderia fazer com que fosse reduzida consideravelmente sua possibilidade de ser tomada em consideração. Como veio lembrar o Decreto de 31 de julho de 1841, que disciplinava a forma como deveriam ser apresentadas as petições por remuneração por serviços, para evitar que demandas justas deixassem de ser escutadas, em outras palavras, evitar a “falta de observância de suas saudáveis disposições, ou a remuneração de serviços graciosamente atestados, ou negar-se a bons servidores do Estado, por falta de legal justificação de seus serviços, o prêmio que justamente merecem”.71
Observando as instâncias da administração provincial de Minas Gerais (Conselho de Governo e Assembleia provincial) entre os anos de 1827-1841, percebe-se o fato de ser constantemente reiterada pela legislação do período, e mesmo pela prática institucional, a desejável presença dos documentos nas queixas e denúncias contra os empregados públicos. Esses elementos não foram suficientes para extinguir a prática de se queixar sem apresentar documentos que possibilitem ver a culpa do acusado. Contudo, a ausência de documentos tendeu cada vez mais a reduzir significativamente a capacidade da queixa de promover sensibilidade em meio aos seus destinatários ou, como bem formulou João Adolfo Hansen, dificultava a captação da benevolência dos ouvintes para causa pretendida.72
Em reposta à Câmara Municipal, o juiz de fora de São João del-Rei, Francisco de Paula Monteiro de Barros, em novembro de 1830, sintetiza muito bem esse desconforto crescente com as queixas sem provas:
É muito trivial, e da ordem do dia, fazer-se público, que esta, ou aquela autoridade tem infringido a lei, sem contudo apontá-la, imputar-se crimes, mas não prová-los, deprimindo-se desta maneira a boa reputação de muitos empregados públicos, e cidadãos particulares, dignos de todo o conceito, e respeito; como se a reputação destes, assim assoladas, fosse uma coisa indiferente, aos quais apenas restava o recurso do sofrimento, ou de se defenderem de semelhantes arguições; entretanto que o detrator, remetendo-se depois, impunemente, ao silêncio, só acusava e nada provava: mas mil graças sejam dadas a Assembleia Geral, sobre a qual chovam bênçãos do céu, pelas sábias providências, decretadas na Lei de 20 de setembro de 1830, que de certo hão de reprimir, e punir a tais abusos!73
4. Considerações finais
Nos limites destas páginas, buscamos discorrer acerca de algumas discussões sobre o exercício do poder público que foram desencadeadas ao se produzir queixas e denúncias contra os empregados públicos. Intentamos recuperar certos aspectos da materialidade do questionamento da conduta dos juízes no século XIX brasileiro. Tal exercício nos demonstrou que o direito de petição garantido na Carta constitucional de 1824 foi frequentemente tensionado frente à constante demanda por documentar as queixas e denúncias.
Isso quer dizer que, nascida na esteira do processo revolucionário de fins do século XVIII, a “Constituição Política do Império do Brasil” de 1824 materializava os elementos do constitucionalismo moderno: formulada pela vontade humana e expressa sobre forma escrita.74 A constituição brasileira assegurava, sem nenhuma previsão de restrição, o direito de representação para toda população brasileira, todavia a constante demanda por documentos nas queixas e denúncias contra os empregados públicos acabou por produzir dificuldades e, em alguns momentos, limitou o acesso a tal direito.
Essa tensa relação entre direito de representar e necessidade de documentar, direito tradicional constitucionalizado e racionalidade legalista, talvez seja uma das identidades das petições nas primeiras décadas do século XIX. “Momento de transição”, no qual ocorre o processo de transformação de um mundo em outro, um tempo que tem identidade própria, distinta do ponto de partida e do ponto de chegada.75
Ficam então visíveis algumas complexidades que atravessavam o processo de formulação de queixas e denúncias contra empregados públicos no século XIX. Mas essa constatação, de forma alguma, pode ser interpretada como a decadência da tradicional cultura jurídica de denúncia76 existente ao longo do Império português; de todo o contrário, a historiografia vem indicando que foi elevado o número de petições que chegavam no âmbito das instituições no mundo constitucional,77 o que demonstra que frente ao terreno árido que era produzir uma queixa contra empregados públicos, ainda assim, os coevos optaram por se lançarem nesse desafio e levar adiante seus questionamentos à atuação das autoridades constituídas. Assim, seguiria operante na sociedade oitocentista, ainda que com marcantes diferenças, a cultura jurídica na qual as denúncias de abuso de poder eram centrais no controle das condutas das autoridades públicas.78
Como falado, estas páginas derivam de uma investigação mais ampla, e é pensando nisso que tecemos nossa última consideração; isto é, ainda que tais queixas e denúncias pudessem ao final não alcançar suas demandas, elas não devem ser lidas como representativo de uma sociedade passiva e refém dos desmandos das autoridades.79 A nosso ver, elas são representativas de um esforço hercúleo dessa sociedade em não se calar frente aos atropelos e abusos das autoridades. Esse argumento nos parece ser uma chave de leitura interessante para melhor compreensão da administração da justiça local, especialmente aquela posta em curso pelos juízes de paz no Brasil oitocentista.
Bibliografia
- BARATA, Alexandre Mansur. A revolta do Ano da Fumaça. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, ano L, n° 1, p. 79-91, jan./ jun., 2014.
- BERBEL, Márcia Regina. A nação como artefato: deputados do Brasil nas Cortes portuguesas 1821-1822. São Paulo: Hucitec, 1999.
- BERBEL, Márcia Regina; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (Org.). A experiência constitucional de Cádis: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012.
- BRENDECKE, Arndt. Imperio e información: funciones del saber en el dominio colonial español. Madrid: Iberoamericana, 2012.
- CERUTTI, Simona. Archaeology of rights: petitions and mercy in early modern societies. Columbia University, The Italian Academy, 2018.
- CESAR, Tiago da Silva. A visita de “sua magestade o Imperador” e os pedidos de perdão de presos da cadeia civil de Porto Alegre. Almanack, Guarulhos, n. 27, p. 1-54, 2021.
- COSTA, Pietro. La “transizione”: uno strumento metastoriografico?. Diacronìa, Pisa, v.1, p. 13-42, 2019.
-
CRUZ, Miguel Dantas da. O Movimento peticionário do primeiro liberalismo português e a parlamentarização da vida política em Portugal (1820-1823). Almanack, Guarulhos, n. 30, p. 1-27, 2022. doi: https://doi.org/10.1590/2236-463330ed00622
» https://doi.org/10.1590/2236-463330ed00622 - DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.
-
FERNANDES, Renata Silva. O Conselho Ultramarino e as queixas e agravos do ultramar português (Minas Gerais, 1750-1808). Revista de História, São Paulo, n. 181, p. 1-34, 2022. doi: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2020.183693
» https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2020.183693 - FERNANDES, Renata. As províncias do Império e o governo por “Conselhos”: o Conselho de governo e o Conselho Geral de Minas Gerais (1825-1834). 2018. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2018.
- FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado en el Brasil Imperial, 1808-1871: control social y estabilidad política en el nuevo Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- FREIRE, Pascal José de Melo. Código Criminal intentado pela Rainha D. Maria I. Lisboa: Tipografo Simão Thaddeo Ferreira, 1823.
- GARRIGA, Carlos. Prólogo. In: AGUERO, Alejandro; SLEMIAN, Andréa; SOTELO, Rafael Diego Fernández (Org.). Jurisdicciones, soberanías y administraciones: configuración de los espacios políticos en la construcción de los Estados nacionales en Iberoamérica. Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, 2018. p. 9-18.
- GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América Ibérica. (C.1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 181-221, jul./dez, 2013.
- HANSEN, João Adolfo. A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. São Paulo: Ateliê Editorial, Campinas: Editora da Unicamp, 2004.
- KRAAY, Hendrik. Muralhas da independência e liberdade do Brasil: a participação popular nas lutas políticas (Bahia, 1820-25). In: MALERBA, Jurandir (Org.). A independência brasileira: novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 303-341.
- LEIVA, Pilar Ponce. Mecanismos de control de la corrupción en la monarquía hispánica y su discutida eficacia. In: LEIVA, Pilar Ponce; CASTILLO, Francisco Andújar (Orgs.). Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018. p. 341-352.
- LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-1842. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1992.
- LORENTE, Marta. Las infracciones a la constitución de 1812. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
- LORENTE, Marta; VALLEJO, Jesús (Org.). Manual de Historia del derecho. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.
-
LOPES, José Reinaldo de Lima. Do ofício ao cargo público: a difícil transformação da burocracia prebendaria em burocracia constitucional. Almanack, Guarulhos, n. 03, p. 30-35, 2012. doi: https://doi.org/10.1590/2236-463320120303
» https://doi.org/10.1590/2236-463320120303 - MELLO, Evaldo Cabral de. A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817-1824. São Paulo: Editora 34, 2004.
-
MOREIRA, Vital; DOMINGUES, José. No bicentenário da contrarrevolução antiliberal de 1823 em Portugal. A vindicta contra o sistema político constitucional vintista. Araucaira, Sevilla, n. 55, v. 26, p. 37-60, 2024. doi: https://doi.org/10.12795/araucaria.2024.i55.02
» https://doi.org/10.12795/araucaria.2024.i55.02 - NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves. Corcundas e Constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revan: FAPERJ, 2003.
- NUBOLA, Cecilia. Supplications between politics and justice: the northern and central Italian states in the Early Modern Age. Cambridge University Press, Cambridge, n. 46, p. 35-56, 2001.
- PALTI, Elías. O Tempo da política: século XIX reconsiderado. São Paulo: Autêntica, 2020.
- PEREIRA, Vantuil. Ao Soberano Congresso: direitos do cidadão na formação do Estado Imperial brasileiro (1822-1831). São Paulo: Alameda, 2010.
- RISSI, Pablo. Sobre las pruebas necesarias para fundar las sentencias criminales; la proporción entre los delitos, y las penas, y la competencia de los tribunales. Madrid: Imprenta de Benito Cano, 1787. (Biblioteca Nacional de Espanha).
- ROJAS, Beatriz. El derecho de petición y el sistema representativo mexicano. Istor, México, n. 61, p. 159-186, 2015.
- ROSANVALLON, Pierre. El buen gobierno. Buenos Aires: Manantial, 2015.
- SILVA JUNIOR, Eduardo da. Em nome da “boa administração da justiça”: a relação entre governo provincial e juízes de paz na província de Minas Gerais (1827-1834). 2019. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019.
- SILVA, Ana Rosa Cloclet da. A aplicação da justiça nas Minas Gerais: tensões e controvérsias em torno da lei (1827-1831). In: VÊNANCIO, Renato Pinto; GONÇALVES, Andréa Lisly; CHAVES, Cláudia Maria das Graças (Org.). Administrando Impérios: Portugal e Brasil nos séculos XVIII e XIX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. p. 291-316.
- SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-brasileiros na crise do Antigo Regime português, 1750-1822. São Paulo: Hucitec, 2006.
- SLEMIAN, Andréa. Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil. 2006. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
-
SLEMIAN, Andréa. Entre graça e direito: apontamentos sobre como entender as petições na América portuguesa (século XVIII). Almanack, Guarulhos, n. 34, p. 1-38, 2023. doi: https://doi.org/10.1590/2236-463334ed00223
» https://doi.org/10.1590/2236-463334ed00223 -
SLEMIAN, Andréa; FERNANDES, Renata Silva. “Na forma que com tanta justiça se requer”: o direito de petição no contexto da Independência do Brasil. Antítese, Londrina, v. 15, n. especial, p. 146-181, nov. 2022. doi: https://doi.org/10.5433/1984-3356.2022v15nEspecialp146-181
» https://doi.org/10.5433/1984-3356.2022v15nEspecialp146-181 - SOUSA, Joaquim José Caetano Pereira e. Esboço de um Dicionário Jurídico, Theorico e Prático: Remissivo às Leis, Compiladas e Extravagantes. Tipografia Rollandiana: Lisboa, 1827.
- SOUSA, Joaquim José Caetano Pereira e. Primeiras linhas sobre o processo criminal. Lisboa: Tipografia Rollandina, 1820.
-
STUMPF, Roberta. Recorrer aos soberanos: notas sobre as denúncias dos vassalos das capitanias auríferas. Almanack, Guarulhos, n. 34, p. 1-37, 2023. Doi: https://doi.org/10.1590/2236-463334ed00323
» https://doi.org/10.1590/2236-463334ed00323 - SUBTIL, José. O projeto sobre responsabilidade dos funcionários públicos: abordagem estrutural e análise da discussão nas Cortes Ordinária de 1823. In: 1° Jornada sobre a forma de organização e exercício dos poderes na Europa do Sul, século XIII e XVIII. Lisboa: História e Crítica, 1988. p. 615-627.
- VELLASCO, Ivan de Andrade. As seduções da ordem: violência, criminalidade e administração da justiça, Minas Gerais - século 19. São Paulo: Edusc, 2004.
-
3
Arquivo Público Mineiro. PP 1/33. Cx. 169, Doc. 33.
-
4
Cabe reiterar que, tratamos aqui de um Estado em construção, logo, partimos do entendimento de que nas primeiras décadas do século XIX, ainda não havia triunfado a burocracia liberal (impessoal, treinada, hierarquizada e paga); mas tampouco estamos diante do antigo oficialato régio, pois é possível observar o progressivo desenvolvimento de uma nova estrutura de administração pública (Lopes, 2012). Sinalizamos, então, para o fato de que o exercício da autoridade pública é marcado por historicidade e suas distintas nomeações ao longo do tempo (oficial, empregado ou funcionário), trazendo consigo formas distintas de organização e do exercício do poder. Nas fontes consultadas, o termo frequentemente utilizado para designação daqueles que ocupam cargos públicos foi “empregados públicos”, que utilizamos de forma central ao nos referimos às autoridades do período. Contudo, em alguns momentos, por falta de um sinônimo melhor ou quando aparecem esporadicamente na documentação (mais especificamente, no debate das Cortes Ordinárias), utilizamos o termo “funcionário público” ou “funcionalismo público”. Todavia, quando os mencionamos aqui, devem ser compreendidos esvaziados de sua frequente associação com a ideia de burocracia estatal liberal. Para marcar essa diferenciação no emprego dessas palavras, sempre que oportuno, serão marcadas com aspas nas páginas seguintes. Marcando o fato de que tratamos aqui de um “momento de transição” (Garriga, 2018).
-
5
Barata, 2014; Fernandes, 2018; Lenharo, 1992; Vellasco, 2004; Dolhnikoff, 2005; Slemian, 2006.
-
6
No decorrer do texto, ao falarmos “instituições de(a) administração provincial”, nos referimos ao Conselho de Governo (1827-1834) e à Assembleia Provincial (1835-1841).
-
7
Flory, 1986; Silva, 2012.
-
8
Rojas, 2015.
-
9
Rojas, 2015.
-
10
Rosanvallon, 2015.
-
11
Rosanvallon, 2015.
-
12
Leiva, 2018.
-
13
Fernandes, 2022, p. 4.
-
14
Nubola, 2001.
-
15
Cerutti, 2018; Slemian, 2023.
-
16
Destaco o Dossiê Circuitos Oceânicos publicado na revista Almanck (n. 34, 2023), ver: https://periodicos.unifesp.br/index.php/alm/issue/view/896 Destaco. Acesso: 02 abr. 2024. Também merece menção o II Seminário Internacional Dinâmicas Imperiais: Circulação e Trajetória no Mundo Ibero-americano. Ocorrido na Universidade Federal de São Paulo, no ano de 2024, o evento reuniu diversos pesquisadores nacionais e internacionais para debaterem a questão da comunicação política no Atlântico Ibérico, ver: https://sites.google.com/unifesp.br/circuitos-oceanicos/ii-semin%C3%A1rio-din%C3%A2micas-imperiais?authuser=0. Acesso: 02 abr. 2024.
-
17
Lei de 29 de novembro de 1832. Art. 72.
-
18
Lei de 29 de novembro de 1832. Art. 74.
-
19
Sousa, 1820 e 1827; Freire, 1823.
-
20
Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. 1874, t. 3, p. 201. Sessão de 17/07/1826, grifos nossos.
-
21
As Cortes Ordinárias foram instauradas em Portugal após aprovação e decretação da Constituição de 1822 (elaborada pelas Cortes Constituintes 1821-1822). Sua primeira sessão ocorreu em dezembro de 1822, e sua dissolução em junho de 1823, marcando o fim do triênio liberal em Portugal (Moreira; Domingues, 2024).
-
22
Interessa-nos, aqui, desenvolver uma reflexão mais ampla em torno de uma questão que foi levantada pelo projeto de responsabilidade; para uma discussão global de tal projeto, ver: Subtil, 1988.
-
23
Silva, 2006; Berbel, 1999; Neves, 2003.
-
24
Mello, 2004; Kraay, 2006.
-
25
Diário das Cortes da Nação Portuguesa. 1822, t. 1, p. 374-386. Sessão de 8/01/1823.
-
26
Berbel; Oliveira, 2012; Garriga; Slemian, 2013.
-
27
Palti, 2020.
-
28
DCNP. 1822, t. 1, p. 375. Sessão de 8/01/1823, grifos nossos.
-
29
DCNP. 1822, t. 1, p. 505. Sessão de 17/01/1823.
-
30
DCNP. 1822, t. 1, p. 523. Sessão de 20/01/1823.
-
31
DCNP. 1822, t. 1, p. 523. Sessão de 20/01/1823.
-
32
DCNP. 1822, t. 1, p. 505. Sessão de 17/01/1823.
-
33
DCNP. 1822, t. 1, p. 505. Sessão de 17/01/1823.
-
34
DCNP. 1822, t. 1, p. 521. Sessão de 20/01/1823.
-
35
DCNP. 1822, t. 1, p. 522. Sessão de 20/01/1823.
-
36
DCNP. 1822, t. 1, p. 522. Sessão de 20/01/1823.
-
37
DCNP. 1822, t. 1, p. 527. Sessão de 20/01/1823.
-
38
DCNP. 1822, t. 1, p. 527. Sessão de 20/01/1823. Tal proposição foi reiterada por Sousa Castelo Branco, que sustentou que “a dificuldade de passar documentos contra o juiz, contra o escrivão, e ainda às vezes, contra um oficial menor, é de experiência cotidiana; e que será quando se trata dos altos funcionários! [...] Logo impor como condição sine qua non a necessidade de juntar os documentos, é dificultar o recurso, por não dizer impossibilitá-lo” (DCNP. 1822, t. 1, p. 528. Sessão de 20/01/1823).
-
39
DCNP. 1822, t. 1, p. 528. Sessão de 20/01/1823.
-
40
DCNP. 1822, t. 1, p. 527. Sessão de 20/01/1823.
-
41
Lorente, 1988.
-
42
Lorente, 1988. p. 140-141.
-
43
Lorente, 1988. p. 141.
-
44
Constituição Política da Monarquia Portuguesa, 1822.
-
45
Constitución Política de la Monarquía Española, 1812.
-
46
Brendecke, 2012.
-
47
Nubola, 2001.
-
48
Dentre os textos arrolados pelo autor para construção de seu argumento, figuram nomes como Justiniano, Santo Agostinho, Quintiliano, Cícero, Platão, Ulpiano, Demóstenes, Séneca, dentre outros.
-
49
Lorente; Vallejo, 2012.
-
50
Biblioteca Nacional de Espanha. Rissi, 1787, p. 2-3.
-
51
BNE. Rissi, 1787, p. 94-95.
-
52
Pereira, 2010; Cruz, 2022.
-
53
Slemian; Fernandes, 2022.
-
54
Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana. 1º ofício, códice 338, auto 7469.
-
55
No decorrer destas páginas, diante desse símbolo, deve-se ler: trecho da documentação ilegível.
-
56
AHCSM. 1º ofício, códice 338, auto 7469, grifos nossos.
-
57
Constituição Política do Império do Brasil, 1824.
-
58
Lei de 15 de outubro de 1827, grifos nossos.
-
59
Lei de 29 de novembro de 1832, grifos nossos
-
60
Essa reflexão se fundamenta na análise das atas e livros de pareceres do Conselho de Governo (1827-1834) e da Assembleia Provincial (1835-1841) de Minas Gerais, nos quais buscamos localizar e, posteriormente, sistematizar em um banco de dados as queixas e denúncias contra os juízes locais recebidas por essas instituições.
-
61
APM. SP-76, p. 116-117.
-
62
APM. SP-93, p. 34.
-
63
APM. AL002, n. 41, doc. 79. 23/02/1835.
-
64
APM. AL016, n. 189, doc. 314. 19/03/1836.
-
65
DCNP. 1822, t. 1, p. 527. Sessão de 20/01/1823.
-
66
APM. PP 3/1, cx. 03, doc. 52, grifos nossos.
-
67
APM. PP 3/1, cx. 03, doc. 51.
-
68
DCNP. 1822, t. 1, p. 527. Sessão de 20/01/1823.
-
69
Dado o foco de nossa investigação, não podemos fazer aqui uma afirmação, mas apenas levantar uma hipótese frente à observação da bibliografia sobre petições no período posterior ao analisado aqui. A comprovação desta exigiria analisar os diversos gêneros de petições e verificar a constância da questão da documentação nos mesmos, o que não está no escopo da pesquisa apresentada. Assim, trata-se de uma hipótese aberta ao debate.
-
70
Cesar, 2021.
-
71
Coleções de leis do Império. Decreto 89. 31/07/1841.
-
72
Hansen, 2004.
-
73
APM. PP 1/33, cx. 270, doc. 49, grifos nossos.
-
74
Lorente; Vallejo, 2012.
-
75
Garriga, 2018; Costa, 2019.
-
76
Stumpf, 2023.
-
77
Fernandes, 2018; Slemian; Fernandes, 2022; Pereira, 2010; Silva Júnior, 2019.
-
78
Stumpf, 2023.
-
79
Flory, 1986; Silva, 2012.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
06 Maio 2024 -
Aceito
13 Ago 2024
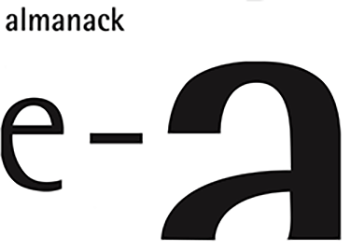
 UMA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL: AS DENÚNCIAS CONTRA OS EMPREGADOS PÚBLICOS NO PRIMEIRO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO (1824-1841)
UMA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL: AS DENÚNCIAS CONTRA OS EMPREGADOS PÚBLICOS NO PRIMEIRO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO (1824-1841)