Resumo
O artigo trata de como as constituições bolivianas, entre as décadas de 1820 e 1860, foram instrumentalizadas para suas relações internacionais com o Império do Brasil, especialmente ao tratar dos escravizados negros. Partimos da ideia de que após as independências, os dois países, mais cedo ou mais tarde, iriam acordar oficialmente sobre seus limites territoriais, o que englobava outros assuntos, como a “extradição” ne negros escravizados. Este último foi de importância fulcral à política externa do Império por boa parte do século XIX, pois poderia acarretar a devolução ou indenização dos escravizados evadidos para outros territórios. Por outro lado, a Bolívia, em determinado momento, apontava em suas leis que seriam livres os que se abrigassem na República, mas não os negros e negras que já estivessem em seu território. Com isso, cumprindo ou não suas leis, inclusive as constitucionais, a Bolívia pretendia ter alguma vantagem ou diminuir a desvantagem ao negociar os limites com o Império brasileiro. Suas constituições eram feitas também visando a sua política externa.
Palavras-chave:
Escravidão; Constituição; Bolívia; Império do Brasil; Limites territoriais; Relações Internacionais
Abstract
This article examines how Bolivian constitutions between the 1820s and 1860s were used in international relations with the Brazilian empire, particularly in relation to enslaved blacks. We assume that sooner or later, after independence, the two countries would formally agree on their territorial boundaries, which included other issues such as the ‘extradition’ of enslaved blacks. The latter was central to the Empire’s foreign policy for much of the 19th century, as it could lead to the return or compensation of enslaved people who had fled to other territories. On the other hand, Bolivia did at one point enshrine in its laws that those who sought refuge in the republic would be free, but not black men and women who were already in its territory. Thus, whether or not Bolivia followed its laws, including its constitutional ones, it wanted to have some advantage or reduce its disadvantage when negotiating boundaries with the Brazilian empire. Its constitutions were also designed with its foreign policy in mind.
Keywords:
Slavery; Constitution; Bolivia; Empire of Brazil; Territorial Borders; International Relations
Este artigo trata das sete primeiras constituições bolivianas que antecederam o primeiro tratado oficial com o Império do Brasil (1867), especialmente nas que se referiam aos escravizados afrodescendentes. Mostramos como, a partir de dado momento, os artigos constitucionais, ladeados de novas leis, foram instrumentalizados em suas relações com o Brasil. Partimos da ideia de que após as independências os dois países, mais cedo ou mais tarde, fariam um acordo sobre limites, o que também acarretaria tratar de outros assuntos como “amizade” - o que significaria ausência de conflitos armados -, comércio, navegação e extradição. Este último foi de importância fulcral à política externa do Império durante boa parte do século XIX, pois os brasileiros aspiravam a englobar os escravizados fugidos para a república boliviana.
Se as Constituições, símbolos das novas soberanias que surgiam na América Ibérica3, eram feitas dentro de disputas políticas internas, favorecendo grupos de antigos criollos da época de colônia4, elas também podiam ser sancionadas visando sua política internacional do momento. Como argumentamos aqui, foi o caso das constituições bolivianas, ao tratarem dos escravizados evadidos que chegavam à República, na tentativa de a Bolívia dispor de cartada em eventual negociação de ajustes de fronteira com o Império brasileiro, entre outros assuntos.
A Bolívia e o Império do Brasil, com longa faixa de fronteira entre si, somente depois de várias interlocuções, manobras, tensões diplomáticas e militares e situações conflitivas vividas na própria área de fronteira, estabeleceram seus limites em 1867. Nessa década de 1860, os representantes brasileiros já tinham desistido de reivindicar a devolução ou reparação aos “senhores” dos escravizados evadidos à República, como fizera de maneira veemente em décadas anteriores. Antes desse acordo oficial, a Bolívia, por seu turno, havia reiteradamente abordado em suas constituições, e em outras leis, sobre os escravizados negros em seu território. Nelas, a partir da década de 1830, passou a tratar especialmente da liberdade possível de ser adquirida aos que fugissem para a República, e não necessariamente aos escravizados que lá estivessem.
Independentemente do governo do momento, ao nosso ver, a formulação e a possibilidade da aplicação ou não de suas leis foi uma maneira substancial de a Bolívia fazer frente ao grande vizinho escravagista que se expandia a oeste, o Império brasileiro, para o que antes era considerado “solo boliviano”, notadamente a partir da década de 1830, e onde deveriam vigorar as leis bolivianas.
Já durante as guerras de independência na América hispânica, aceitar ou não a Constituição de Cádiz (1812) havia sido um dos proeminentes exercícios de soberania nas localidades, como as que vieram a compor a Bolívia5. Após as independências, ao elaborar internamente e sancionar suas próprias constituições - embora com muitas influências exógenas e manutenção casuística de leis da época colonial, corroborando com o poderio dos senhores criollos6- acabaram por ser uma das marcas das novas soberanias adquiridas pelos países Ibero-americanos. Igualmente marcante aos novos países, era a concepção sobre seu próprio território, símbolo das novas nacionalidades que se forjavam7.
Eram nos limites desses territórios que suas constituições e demais leis teriam validade espacial, sendo suas linhas fronteiriças o símbolo tangível da nova soberania8. Esses limites pós-independência deveriam ser ajustados (por acordos ou por guerras) com os países vizinhos, não mais pelas antigas metrópoles. É aqui que a Bolívia, com uma população escravizada considerada relativamente pequena à época, entrelaça seus artigos constitucionais e outras leis sobre escravizados às negociações e perspectivas de tratado oficial sobre as bordas territoriais com o Império do Brasil.
Este artigo, portanto, trata da ligação entre a elaboração boliviana de suas leis, mas sobretudo a faculdade de aplicá-las ou não, com as suas relações referentes ao maior país escravagista do hemisfério ocidental, o Império do Brasil, nesse momento de formação dos Estados nacionais nas Américas, quando as bordas territoriais ainda estavam por se definir oficialmente.
Dessa maneira, partimos da ideia de que em dado momento os limites deveriam ser ajustados entre os dois países, como característica da época. Ao lado da pouca possibilidade de a Bolívia envidar maiores esforços em sua fronteira oriental, fez com que seus dirigentes instrumentalizassem suas legislações sobre negros escravizados que viessem fugidos do Império. Neste texto, portanto, dividido em três partes, ao lado das análises sobre o que se referia aos escravizados negros nas constituições e outras leis bolivianas, tratamos das relações internacionais em jogo, baseado tanto na literatura específica quanto em fontes da época, produzidas por encarregados diplomáticos, ministros, secretários de Estado e governantes provinciais. Esses documentos estão depositados no Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolívia (ABNB), na cidade de Sucre, no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APMT), em Cuiabá, e no Arquivo do Itamaraty (AHI), no Rio de Janeiro.
Na primeira parte, em “Ficarão de direito livres, mas...”, abordamos as duas primeiras constituições bolivianas, de 1826 e a de 1831. A primeira, no rastro das lutas de independência na América, sinalizava que o fim da escravidão estaria próximo no território boliviano, quando houve a exclusão da designação “esclavo”, substituída pela de “liberto”, ainda que a lei complementar estabelecesse restrições ao último, como também estabelecia uma data para o ventre-livre. Já a Constituição de 1831 voltava a figurar o termo “esclavo” e, entre outras medidas, prorrogava a escravidão na República. Ainda nessa parte, tratamos dos levantamentos populacionais das pessoas escravizadas na Bolívia e no Império do Brasil, e começamos a indicar como elas influenciariam em suas políticas externas.
Na segunda parte, recuperamos estudos que mostram a influência da defesa da escravidão na política externa brasileira com os países da região do Prata, e apontamos como isso se ligaria à Bolívia, em especial quando a República passou a vetar a prática - antes incentivada - de entrega de escravizados ao Brasil, o que causou protestos e tensões na fronteira e nas respectivas capitais. A proposta de um acordo da Bolívia ao Brasil, em 1839, mostrava como os bolivianos sabiam do apego dos brasileiros aos seus escravizados.
Na terceira parte, “os pontos cardeais e o norte da bússola”, ao tratar dos dispositivos legais bolivianos da década de 1840 em diante, podemos dizer que já havia um “caminho” da República sedimentado para suas relações com o Brasil. Desse modo, em geral, as constituições rezavam que quem pisasse em território boliviano, vindo de outro país, estaria “livre” da escravidão, mas isso não queria dizer que acabaria com a instituição escravagista de uma vez para os que estivessem lá. Ao final da década de 1840 e início da de 1850, a República mostrava, peremptoriamente, que devolveria os escravizados quando bem entendesse, como maneira também de defender onde seriam seus limites territoriais e aceder aos grandes rios que ao final desaguariam no Atlântico. Assim, na segunda metade do século XIX, os representantes do Império praticamente desistiram de requisitar a restituição dos escravizados que fugiam para a República boliviana. Quando finalmente assinado o tratado entre os dois países, em 1867, a devolução de escravizados estava, na prática, fora de questão para figurar no texto contratual.
Ficarão de direito livres, mas...
A primeira constituição boliviana, promulgada em novembro de 1826, reservou artigo único para tratar da escravidão de africanos e seus descendentes, de certa forma, cumprindo promessas das campanhas independentistas na Ibero-américa9, ao sinalizar, à primeira vista, que não se tardaria para o fim do trabalho escravizado. Assim, o artigo 5° estipulava: “Todos los que hasta el día han sido esclavos y por lo mismo quedarán de derecho libres”. Entretanto, o mesmo artigo dizia: “pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos señores, sino en la forma que una ley especial lo determine”10. Essa lei especial foi publicada logo no mês seguinte. Dispunha, essencialmente, sobre as “indenizaciones” ao ex-proprietário, agora chamado “patrono”, a quem o “liberto” deveria pagar. Também afirmava que o tráfico e todo contrato de venda estariam “para siempre prohibidos”. Ficariam isentos de pagar indenização somente os nascidos a partir do início de 1813. Ainda assim, a genitora deveria permanecer na “casa del señor de ella”11.
Dessa maneira, entre as várias restrições impostas para saírem do domínio do “el patrón”, podemos destacar que os dispositivos indenizatórios, como observa Secreto, eram mais a compra da própria liberdade individual pelo escravizado do que a promoção da alforria no país12. Nesse sentido, a mesma lei especial apregoava que não existiriam mais escravizados, mas devedores. O “liberto” que atingisse (sobrevivesse) a idade de 55 anos estaria isento da dívida13. Em todo caso, a polícia se encarregaria da “conducta y entretenimiento de todos los libertos”14.
Sobre o ano de 1813 ter sido escolhido para a data do “ventre-livre”, ou seja, para o nascido de mãe escravizada não dever “indenização”, não há nenhuma especificação no texto constitucional, como veio a estabelecer a constituição de 1831. Provavelmente, podemos dizer, essa referência de data se relacionava às disposições de 1813, de Buenos Aires - também conhecidas como da “Assembleia do Ano XIII” que tiveram bastante impacto na época15. Elas estabeleceram, na ocasião, o ventre-livre e “solo livre da escravidão” em todo o vice-reinado do Prata, visto que enfraqueceria os potenciais ou já efetivos opositores. Tais medidas geraram protestos de portugueses/brasileiros, além de proprietários da região, inclusive dos que apoiavam a nova soberania platina independente que estava sendo forjada. Então, sob pressão, em pouco tempo, os dispositivos relativos aos escravizados negros foram suspensos na capital portenha16.
Interessante notar que a audiência de Charcas, que forneceu a base territorial para a República da Bolívia, fundada em 1825, pertencia ao Vice-Reinado do Prata, desde 1776. Nominalmente, foi transferida para o Vice-Reinado do Peru, em 1809. Tropas independentistas saídas de Buenos Aires (composta por muitos afrodescendentes, aos quais havia a promessa de alforria) procuraram obter Charcas como espaço da nova soberania política emanada da capital portenha, mas foram repelidas seguidamente. Também houve movimentos de Lima para anexar Charcas. Com idas e vindas, a Bolívia surge como país independente em movimento não só contra os representantes da monarquia espanhola na região, mas também contra as forças anexionistas de Lima e de Buenos Aires17.
De toda forma, as leis de ventre livre, conforme mostram as análises de Caroline Sousa, eram marcadamente feitas para mostrar que a escravidão era transmitida pela mãe. Se seu filho poderia ficar “livre”, como aconteceram em momentos das guerras de independência, ela continuava escravizada. As leis de “ventre-livre” eram, sobretudo, uma forma de não interromper abruptamente a escravidão, podendo garantir, ao menos, uma geração dessa forma de trabalho18, como aconteceu na Bolívia, conforme lei complementar à constituição.
Entretanto, a força do texto constitucional, ao dizer que toda pessoa na República seria livre, apesar das condicionantes e restrições da lei complementar, provavelmente fez com que, em 1827, Joseph Pentland - irlandês que serviu de cônsul à Grã-Bretanha - mostrasse entusiasmo pela proximidade do fim da escravidão negra em território boliviano. Sendo próximo a governantes, recebeu dados paroquiais e, então, pôde fazer uma estimativa extraoficial de que a Bolívia possuiria cerca de 7 mil pessoas africanas e afrodescendentes no país, das quais 4.700 seriam escravizadas nessa época, diante de uma população total estimada em 1.100.000. Para ele, e provavelmente para muitas outras pessoas, parecia estar próximo o findar da instituição escravagista negra na República19.
Com a queda da presidência do marechal venezuelano Antonio José de Sucre e seu grupo e a ascensão, em 1829, do general Andrés de Santa Cruz e seus seguidores, logo, novos dispositivos legais sobre a escravidão negra foram estabelecidos. Em 1830, foi decretada mudança na data da lei do ventre-livre, e logo incorporada à nova constituição de 1831. Nelas, a “alforria” dos neonatos passaria de 1813 para o dia de aniversário da independência do novo país, 25 de agosto de 1825. Na carta, também voltava a categoria de “esclavos”, no lugar de “libertos” da lei complementar, o que fez Alberto Crespo, em seu estudo fundamental, considerar que houve uma “restauração da escravidão”20. No entanto, o trabalho compulsório não havia desaparecido apesar do nome “liberto” nas normas de 1826. De toda forma, interessante notar que, em 1830 e 1831, os nascidos em 1813 estariam fazendo 17 ou 18 anos. Na constituição de 1831, portanto, reforçando a nova data de ventre-livre, os escravizados permaneceriam nessa condição, a depender das leis por, pelo menos, mais 12 anos e meio.
Prolongar a escravidão por dispositivos legais não era exclusividade da Bolívia. Andrews apresenta um quadro da América Ibérica, após as promessas de alforria na época das lutas de independência, demonstrando que foi especialmente nos lugares onde os escravizados eram considerados vitais para a economia que os senhores procuraram prolongar o trabalho escravizado. Daí, por exemplo, o Chile, (1820) ter findado logo no rastro da independência à escravidão, ao passo que lugares como Colômbia (1851), Venezuela (1854) e Peru (1855), apesar das promessas iniciais, procuraram estender para mais de uma geração o cativeiro negro21.
No entanto, por que a Bolívia - tendo poucos escravizados negros em comparação a outros países e tendo sua economia e relações sociais baseadas amplamente no trabalho indígena - estenderia a escravidão negra, entrando na década de 1850 com ela a olhos vistos? Nossa hipótese para isso é que, protelando o fim da escravidão ao mesmo tempo em que fornecia guarida para os que fugissem para lá pelas áreas de fronteira, por meio de suas leis e ações diplomáticas, a Bolívia teria elementos para fazer frente ao grande vizinho escravagista, o Império do Brasil, tendo em vista o futuro estabelecimento de limites territoriais e as negociações prévias a ele.
Dessa maneira, podemos considerar que a situação da instituição escravagista negra era bastante distinta entre a República e o Império, o que influiria nas suas relações exteriores, nas movimentações, inclusive militares, na zona de fronteira e, no caso da República, na elaboração, cumprimento ou vistas grossas às suas próprias leis, inclusive as constitucionais.
A começar pela diferença demográfica entre o Império e a República. Em que pese os diversos problemas relativos aos levantamentos estatísticos, na Bolívia, em 1846, eram contabilizados cerca de 1.391 escravizados africanos ou afrodescendentes, ante uma população calculada de 2.133.896 habitantes, considerando as várias classificações de indígenas; logo, os escravizados representavam cerca de 0,05% desse total22. O Império, por sua vez, de acordo com pesquisas recentes, em 1850, teria aproximadamente uma população escravizada de quase 1,5 milhão de indivíduos, ante o total estimado de aproximadamente 6 milhões de habitantes23. Ou seja, somente a população negra escravizada no Brasil corresponderia a cerca de 3/4 de toda a população boliviana, além de o Império apresentar uma proporção entre livres e escravizados maior do que a de qualquer outro país do subcontinente sul-americano. Mato Grosso, a província que fazia divisa com a Bolívia, de acordo com o levantamento do presidente Joaquim José de Oliveira, em 1849, de uma população de 32.833 pessoas, teria perto de 22 mil pessoas livres, sendo cerca de 11 mil escravizadas, ou seja, a proporção de quase um cativo para dois livres24.
Na Bolívia, os cálculos estatísticos que mais interessavam aos dirigentes na época eram sobre a proporção entre a “raza blanca” e a “índia”. Excluindo os 760 mil indígenas “infieles”, a população seria de 1.374.896 habitantes. Desses, “eran procedentes de la raza blanca 649.398”, e a maioria indígena seria de 701.558, segundo o levantamento de Dalence. Por outro lado, o cálculo de escravizados afrodescendentes em proporção à população não era feito, segundo o mesmo estatístico, por ser considerado pouco expressivo. Daí, perfazia-se o cálculo de proporção nas diferentes províncias bolivianas, mostrando as variações, como, por exemplo: La Paz teria 295.442 indígenas para 90.662 brancos, ou seja, “un blanco por 4 aborígenes”; e, inversamente, em Chuquisaca, onde estava a capital Sucre, haveria 117.503 brancos e 34.897 indígenas, o que daria uma relação de “un aborígena por 3 blancos”25.
Ainda que as contagens pudessem estar equivocadas e excluíssem, peremptoriamente, as mestiçagens nessas proporções, fazendo parte, ao nosso ver, do largo processo de tentativas de “assimilação” indígena, o que cabe reforçar é que a mão de obra predominante era a de “índios”, em suas várias modalidades, notadamente a não assalariada, a jornaleira e a proveniente dos enganchados pela pongueaje26. Na verdade, toda a visão social e política da Bolívia se vinculava aos indígenas, em suas variadas matizes, e os criollos, sendo subsumido os descendentes de escravizados africanos27. Por outro lado, no Império do Brasil, era a manutenção do trabalho de africanos e africanas e seus descendentes que, de certa forma, uniriam muitas de suas elites nas províncias, mas que, sobretudo, não deixaria de refletir em suas relações exteriores.
Escravidão além-fronteiras, suspenção das devoluções bolivianas
Estudos recentes sobre a política internacional, notadamente os que abordam a região do Prata, vêm mostrando o peso da escravidão na política exterior do Império28. Inclusive, a deflagração do maior conflito bélico da América do Sul, a “Guerra do Paraguai”, teria seu estopim na defesa da escravização negra pelos brasileiros em solo uruguaio, culminando com a invasão brasileira, o que colocou em cheque a posição do Paraguai no quadro dos países platinos29. Quando se deu a contraofensiva paraguaia no Prata a esse avanço brasileiro no Uruguai, seus possíveis aliados da região platina, como os líderes do “litoral” do Rio Paraná e os blancos uruguaios, abandonaram seu apoio à república Guarani - o que, no entanto, não a fez recuar; ao contrário, o conflito se estenderia até 1870, praticamente aniquilando o Paraguai30.
Nas décadas anteriores à “Guerra do Paraguai”, a manutenção e defesa da escravidão já dava sentido à atuação brasileira no Uruguai, como podemos ver em Carla Menegat. As alforrias de escravizados, as declarações de solo livre da escravidão e o engajamento de negros em tropas nas guerras entre os dois partidos uruguaios, Blanco e Colorado, já vinham mobilizando grupamentos armados do Império. A par dos declarados interesses na navegação pelo estuário do Prata e de delimitações territoriais, a direção para os conflitos na região eram os escravizados negros de brasileiros31. Enfim, o Império procurava, ainda que, por vezes, de maneira não declarada, agir internacionalmente na defesa de seu regime escravocrata, além de suas próprias fronteiras.
Com a Bolívia não seria diferente, apesar de haver situações fundamentais bastante diversas entre o sul e o oeste do Império. Na fronteira oeste, não havia fazendeiros brasileiros em quantidade apostando nas terras do interior da República boliviana, menos ainda que os fizessem requerer ou ambicionar deslocamentos frequentes de escravaria negra para o interior boliviano, como acontecia no sul do Império. Os grandes proprietários de Mato Grosso também não possuíam um produto que competisse fortemente com outros das repúblicas sul-americanas no mercado brasileiro, como os sulistas tinham o charque e os muares, sobre os quais pediam proteção ao governo central, especialmente ao primeiro produto32.
No entanto, havia em Mato Grosso uma quantidade considerável de escravizados, tanto nas plantações como na criação de gado e em trabalhos urbanos, que, não raras vezes, viam no país vizinho, caso cruzassem a fronteira, uma possibilidade de se livrar de seus antigos senhores, independentemente do “grau de liberdade” que pudessem ter no país vizinho ou da sua procedência anterior, se de alguma parte do Brasil ou da África, tal qual acontecia no sul do Império do Brasil.
Na verdade, desde a época de colônia, a fuga de pessoas escravizadas de uma área para outra dos impérios ibéricos na América sempre foi uma possibilidade. Os escravizados podiam se valer da situação fronteiriça, onde as soberanias, muitas vezes, estavam em desacordo a respeito de até onde iriam seus domínios e sobre quem seria qualificado como extraditável, como escravizado ou como fugido da justiça. Ao mesmo tempo, as autoridades dos impérios ibéricos podiam achar vantajoso receber prófugos do vizinho, em meio às rivalidades políticas. Assim, por exemplo, não foi incomum nos domínios de Espanha concederem “asilo” aos que para lá fugissem, não apenas dos domínios portugueses33.
Agora com os Estados nacionais, a fronteira deveria ser delimitada entre os países. Uma característica dos Estado nacionais do século XIX. A Bolívia e o Brasil tinham a extensa fronteira a ser delimitada, o que envolveria outros assuntos, como a desejada extradição de escravizados que fugissem para a Bolívia. Talvez fosse coincidência que estando em Chuquisaca o primeiro representante brasileiro, os dirigentes bolivianos começassem a modificar a lei sobre os escravizados negros. Mas na década de 1830, na zona de fronteira, o Império também avançava, sem muito alarde, sobre áreas antes tidas por bolivianas, de certa forma, ocupando o acesso ao Rio Paraguai e Jauru, pretendido pela república. A justificativa momentânea era a evasão de escravizados, como veremos.
Em 1834, com a Bolívia ainda sob o governo de Andrés de Santa Cruz, foi aprovada nova carta constitucional. No que se referia aos escravizados, praticamente trazia as mesmas considerações da anterior: ninguém seria escravizado tendo nascido a partir do dia 6 de agosto de 1825, e ficava proibida, novamente, a introdução de cativos em território boliviano. Nesse mesmo ano de 1834, era aprovado o Código Penal boliviano, que também trataria de escravizados e escravizadas, tendo, sem dúvida, relação com a política externa do país, no caso aqui, com o Império do Brasil. O Código previa que o “território boliviano” era “asilo inviolável” para os escravos, sendo livres desde o momento em que pisassem nele, ou seja, os que viessem de outro país. A República seria asilo, também, para os que fossem procurados pela justiça de outros Estados, contanto que seguissem as leis bolivianas. Caso houvesse algum tratado colonial ou anterior a esse sobre extradição, eram, imediatamente, considerados inválidos. Entretanto, abria a possibilidade de um acordo entre países para a entrega de escravizados ou outras pessoas que eventualmente tivessem cometido crimes no país de origem. Sem tratado, valia o que estava no código e na constituição. Portanto, mesmo existindo escravidão negra na Bolívia, o “asilo inviolável” era para os que fossem para a república, não significava alforria para os que já estivessem lá. E, na prática, somente com um acordo entre o Império e a Bolívia se entregariam os fugitivos34. Antes disso, penas duras eram estipuladas a quem entregasse ou participasse na entrega de escravizados em território boliviano, especialmente se funcionário público da República35.
Apesar da Constituição e leis bolivianas vigentes, na década 1830, autoridades e particulares da República se empenhavam na entrega de escravizados fugitivos, para depois, como forma de política exterior boliviana, cessarem as “extradições” - o que causou forte indignação dos representantes brasileiros. Fontes de chancelarias, dos ministérios e das províncias deixam perceber essa dinâmica que começaria a traçar a política boliviana em relação ao Império para os próximos anos, também como respostas às pretensões territoriais brasileiras.
Em resposta a uma carta de dezembro de 1835, o ministro das relações exteriores da Bolívia, José Ignacio de Sanjinés, escrevia ao representante do Império do Brasil afirmando que, antes mesmo de receber a carta dele, já havia dado ordens para que fossem “restituidos los esclavos que fugaren del territorio brasilero al de la Republica”. O ministro havia enviado as ordens especificamente aos governadores de Chiquitos e Moxos e ao prefeito do departamento de Santa Cruz, para que publicizassem essa disposição a fim de que “todos los esclavos que se encontren” nessas jurisdições fossem entregues aos brasileiros, e para evitarem que continuasse a acontecer esse “arbítrio”36. A exceção seria “unicamente” para aqueles que tinham sido vendidos a bolivianos, agora seus “legítimos señores”. A proibição da entrada de escravos, prevista nas constituições de 1831 e 1834, em nada era considerada pelo ministro, nem as penas do Código Penal para quem os entregasse a outro país, menos ainda havia qualquer tratado entre Bolívia e Brasil que possibilitasse isso.
Em janeiro de 1837, por ocasião da chegada de novo encarregado de Negócios do Brasil, Duarte da Ponte Ribeiro, Sanjinés mandou cópias de novas ordens para a “restitución de los esclavos pertenecientes a súbditos brasileros y que hayan fugado”, como uma mostra de apreço e “distinguida consideración” ao novo representante brasileiro na capital boliviana, Chuquisaca37. Por sua parte, os brasileiros, de acordo com autoridade boliviana, se comprometeriam que os escravizados devolvidos ao Brasil não seriam castigados nem molestados, podendo se aproveitar “al menos en esta parte” a “inmunidad” do “asilo” a que recorreram, logo, reconhecendo que havia leis que deveriam protegê-los38.
Em Mato Grosso, lugar onde se recebiam os “devolvidos” e de onde partiam muitos escravizados em fuga, foi organizada uma expedição para adentrar a Bolívia, comandada por um “capitão do mato”, Mariano Ribeiro de Apinajé, com as devidas autorizações internacionais (ao menos aparentemente), daí chamado “comissionado”. Nos povoados e localidades bolivianas, para incentivar as entregas, seria ofertada a execução de trabalhos públicos pelos próprios escravizados nos lugares onde estavam, antes de irem para o Brasil39. No final de 1838, Apinagé retornava ao Brasil, provavelmente devido a uma circular, de 30 de janeiro, que ordenava a não entrega de escravizados a brasileiros. Na prática, seria para aplicar as leis já existentes, e qualquer extradição seria somente por tratado oficial entre países.
A circular de janeiro de 1838 fez efeito. A reação dos representantes do Império na província fronteiriça de Mato Grosso, na capital boliviana e na Corte do Rio de Janeiro foi imediata, com protestos veementes e emissão de notas. No entanto, proprietários de Mato Grosso teriam ido além das reclamações. O comandante militar de Vila Maria foi acusado de penetrar o território boliviano acompanhado de força armada, em perseguição de um escravo fugido da principal fazenda da região, a Jacobina. Também se prontificaria a matar qualquer um “que asilasse o dito escravo”. O presidente da província, José da Silva Guimarães, ante tensão crescente e temendo maiores conflitos, negou a veracidade da ida de grupo armado à Bolívia. Mas não deixava de protestar contra a cessação da entrega dos escravizados, posto que anteriormente isso acontecia, inclusive com ordens oficiais do governo boliviano40.
Acontecia que uma área que dava acesso aos rios Jauru e, principalmente, ao Paraguai, chamada à época de “Salinas do Jauru”, estava sendo ocupada por tropas brasileiras, retirando a possibilidade de acesso ao grande rio platino que, em última instância, ligaria essa parte interiorana da América ao oceano Atlântico. Uma das primeiras justificativas do governo de Mato Grosso era que estava guarnecendo o lugar contra a fuga de escravizados. Na década de 1840, ainda na zona fronteiriça, soldados de Mato Grosso tomam lugarejos, e governantes e diplomatas brasileiros passam a reivindicar o lado direito dos rios Jauru e Paraguai, de maneira que impossibilitaria o acesso direto de bolivianos e possíveis embarcações aos grandes rios platinos. Ao mesmo tempo, protestavam contra a não devolução dos escravizados prófugos.
De fato, o grande foco das disputas políticas e militares na Bolívia eram voltadas para a região andina, que possuía o grosso da população, e os vizinhos que mais requeriam atenção, Peru e Chile, embora houvesse movimentações hostis também de Buenos Aires. Em 1836, Andrés de Santa Cruz e líderes peruanos formaram a confederação Peru-Boliviana, como tentativa de ter primazia interna e externamente, sendo, desde o início, hostilizada dentro e fora da nova entidade política41. Em 1839, a situação estava se tornando insustentável, e Santa Cruz chegou a ter nova Constituição, basicamente, como forma de legitimar seu mandato. Nesse momento, quando a Confederação estava se esfacelando, com tropas composta por chilenos, peruanos e mesmo bolivianos, mobilizadas contra o governo, Andrés de Santa Cruz chamou o representante do Brasil em Chuquisaca para, finalmente, fazerem um tratado42.
Os representantes da Confederação propuseram os limites pretendidos pelo Império e a entrega dos escravizados, em troca de dois barcos de guerra, o que foi tentador para o representante do Império na capital boliviana. O brasileiro chegou a esboçar uma minuta do tratado, mas a Confederação Peru-Boliviana se desmoronou sem que nada fosse concretizado, com o seu líder, Andrés de Santa Cruz, fugindo para o exterior43.
Com novo governo estabelecido, a proposta do tratado foi deixada de lado, o que não impediu que os novos representantes da Bolívia continuassem a tratar com o Brasil baseado no apego do Império aos escravizados negros. Assim, no início da década de 1840, entre outras medidas, foi criado um “Juizado Territorial”44, ponto avançado na região fronteiriça onde os brasileiros se expandiam a oeste dos rios Jauru e Paraguai. Nessa jurisdição, procurariam aplicar as leis bolivianas frente à expansão brasileira, o que poderia considerar livre o escravizado que para lá se refugiasse. Claro, houve vários protestos e ameaças dos brasileiros com os posicionamentos bolivianos na ampla área das Salinas do Jauru.
Em 1843, foi promulgada nova Constituição. Ela procuraria marcar a diferença do governo ascendente ao de Andrés de Santa Cruz, líder que ainda possuía seguidores, enquanto chancelava a nova presidência do General José Ballivián. Apesar da Constituição estabelecer a nulidade completa da anterior, de 1839, assim como atos governamentais precedentes, posto que “ilegítimos”, no que se referia à escravidão negra repetia, praticamente, o que havia nas duas últimas cartas, incorporando, mais uma vez, partes do Código Penal, que continuava em vigor. Ainda assim, fazia algumas alterações que, ao nosso ver, facilitaria sua política internacional com o Império.
Então, a nova carta magna repetia: são “libres en Bolivia los nacidos de madre esclava” desde o dia 6 de agosto de 1825. Por outro lado, no lugar da condenação do tráfico, comércio e proibição da introdução de escravizados, presentes nos dispositivos anteriores, dispunha, simplesmente, que eram “libres los esclavos” que tivessem “pisado el território boliviano” por qualquer motivo. Mas havia uma ressalva para isso. O texto condicionava a uma data a entrada na Bolívia, no caso, a da promulgação de outra constituição, a de 1831. Somente os que tivessem entrado a partir da data de sua publicação seriam considerados livres. Recordemos, a de 1831 era a mesma que havia trazido novamente a figura jurídica do “esclavo”, no lugar do “liberto”45, que figurava na de 1826.
Os pontos cardeais e o norte da bússola
Um ano antes da carta magna boliviana de 1843 - a qual ratificava praticamente o “solo livre da escravidão”, não aos que estivessem nele, mas a quem viesse de fora -, foi quando chegou novo encarregado de negócios do Brasil na Bolívia, Rego Monteiro, na capital Chiquisaca. Este expressava que a primeira e principal tratativa a fazer seria sobre “a restituição dos escravos fugidos do Brasil para o território da República”. Para isso, estava munido de “documentos comprobatórios”, como o que a República determinava a entrega de escravizados aos brasileiros, em 1836. Assim, defenderia que a Bolívia teria contraído “obrigação” para com o Brasil antes da circular que proibiria tal devolução. Assim, pelos “princípios de justiça” que caracterizariam o ministro das Relações Exteriores da Bolívia, rogava que fosse derrogada a circular de 1838 e voltassem as restituições dos escravizados fugidos. 46 Em seguida, o representante boliviano respondeu que não devolveria os escravizados e que isso era assunto concluído e consumado47. O encarregado de Negócios brasileiro não se deu por vencido e, então, teve início uma série de comunicações entre o representante boliviano e o brasileiro sobre os “direitos” ou “não” das devoluções dos escravizados.
A argumentação mais óbvia para o brasileiro era a do “direito de propriedade”, tão cara a esse século e expressa amiúde nas constituições dos novos países americanos, cuja validade, frisava o representante brasileiro para o caso de escravizados fugidos, continuaria fora de seu território48. Os representantes da Bolívia, por sua vez, entendiam que, sendo seu país uma entidade soberana, tinha a faculdade inalienável de fazer suas próprias leis, com validação inconteste em seu próprio território, como se poderia depreender em diversos autores do direito das Gentes. Logo, nada obstava em proibirem a entrega de escravizados a país estrangeiro49.
Rego Monteiro insistia na Constituição boliviana, que garantiria a propriedade privada, e também citava autores de Direito que valeriam internacionalmente, os quais referendavam a continuidade da propriedade em outro território, além de argumentar que a escravidão era salvadora aos africanos por tirá-los de seu continente50, praticamente seguindo na esteira das teses cristãs dos séculos XVI e XVII, como Las Casas e o padre Antônio Vieira51, nas chamadas Américas espanhola e portuguesa, respectivamente. O representante da Bolívia, então, escreveu verdadeiros libelos sobre quão vil era a escravidão de um ser humano a outro, e fazia apologética da liberdade humana, contrária aos antigos princípios sombrios da época de colônia52. Então, o representante do Império rebatia dizendo ainda existir escravidão negra na Bolívia, o que fazia a discussão quase correr em círculos, pois o boliviano voltava à validade das leis da República, inclusive mencionando a vigência do Código Penal de 1834, ao citar, por exemplo, que: “El territorio boliviano es un asilo inviolable para los esclavos, los cuales son libres desde el momento en que pisem na república...”53. Por sua vez, o representante brasileiro procurava centrar a argumentação, além do “direito de propriedade”, na criminalidade do próprio escravizado, que, ao fugir, já era um ladrão, pois roubava consigo a propriedade de outrem54.
Enfim, depois de fartas arguições de ambos os lados, os governantes bolivianos continuaram a não ceder ao Brasil, mesmo sob ameaças de o Império findar as “relações amigáveis”. A ocasião de várias pessoas passarem fugidas do Brasil para a Bolívia, em 1845, ilustra as defesas da República e do Império em relação aos escravizados e a aplicação instrumental da lei para a política exterior. Rego Monteiro, praticamente tendo desistido de requerer a entrega de escravizados, recebe a notícia do capitão-do-mato Apinajé sobre a fuga de cativos negros do Pará que estariam no departamento boliviano do Beni. Então, o encarregado brasileiro reclamou a devolução de “desertores”, evitando dizer que seriam escravizados. A resposta do ministro da Bolívia foi que iria averiguar se havia desertores entre os prófugos. Havendo (ao menos) um, devolveria todos os evadidos, ao mesmo tempo que aproveitava para protestar sobre os limites, que deveriam ser de acordo com o tratado de 1777, reclamando, também, por terem barrado um comerciante boliviano de passar ao Brasil. Ao terminar a “averiguação”, relatou que homens, mulheres e crianças seriam todos “escravos”, e nenhum desertor. Logo, não os entregaria. Em nada adiantou ao representante brasileiro contra-argumentar sobre quem seriam55.
Nesse momento, portanto, entre meados da década de 1830 e de 1840 - apesar de um governo ter substituído outro por “revolução” ( como se chamava à época a troca abrupta de governantes), de algumas leis de governos anteriores terem sido suspensas e da existência de um novo ordenamento político interno a partir de 1839, com a dissolução da Confederação Peru-Boliviana -, em relação à política externa com o Império do Brasil, os governantes bolivianos mostravam que autorizavam ou desautorizavam as devoluções de escravizados quando bem entendessem. E isso a despeito ou utilizando-se de suas leis internas, como a própria constituição, mas colocando tal possibilidade (a devolução ou não de escravizados negros) como o principal trunfo nas negociações para eventual tratado.
A República da Bolívia, com idas e vindas, defendia, na maior parte do tempo, que seus limites iam até os rios platinos Paraguai e Jauru, e o amazônico Guaporé, como teria sido o tratado preliminar de 1777 entre as ex-metrópoles. Na área platina, ou próxima a ela, os brasileiros avançavam, desde 1837, na zona de fronteira com a Bolívia, pelo menos, controlando, cada vez mais, os terrenos que poderiam acessar os rios que dariam no Rio Paraguai. Como observou um dos primeiros historiadores das relações internacionais do Brasil, Pandiá Calógeras56, e como também era percebido pelos dirigentes brasileiros, tanto em Mato Grosso quanto na Corte, se fosse adotado o que estipulara o antigo tratado de Santo Ildefonso (1777), o Império perderia lugares como Casalvasco (estratégico para acesso terrestre às vias fluviais amazônicas), o forte Príncipe da Beira, construído à esquerda do Rio Guaporé, a vila de Albuquerque e o forte Coimbra, à direita do Rio Paraguai. Assim, era necessário desqualificar os tratados coloniais, como se de nenhum valor pudessem ser considerados57.
Já para os governantes bolivianos, voltados, principalmente, para as contendas internas e, internacionalmente, às constantes perspectivas de problemas com os vizinhos do Oceano Pacífico, ainda assim, não podiam deixar de ter atenções para a sua fronteira oriental, que contava com diminuta população civil e militar, nos departamentos de Santa Cruz de la Sierra e do Beni, como já visto. Nesse sentido, Ballivián, em sua mensagem ao congresso de 1846, no dia do aniversário da República, reconhecia seu silêncio em relação à “importante frontera” com o Brasil, na qual havia questões pendentes “de grave interese”, e, mais ainda, de “interese mui esencial à la prosperidad de la República”. Então, na “vasta frontera”, deveria fazer os ajustes de limites e os de “la navegación de los ríos” que corriam em direções distintas. Assim, estaria a caminho do Rio de Janeiro um encarregado boliviano para tratar disso58. Em nada comunicava que os escravizados eram elementos essenciais para esses ajustes e, por outro lado, também não atiçava a população sobre as áreas que o Império avançava para além dos rios Jauru e Paraguai, logo, sobre o que era considerado território boliviano nessa região, talvez para não provocar os seguidores em sentidos diferentes59.
Para os representantes da Bolívia tentarem guarnecer a região de fronteira e evitar o avanço do Brasil na área do Jauru/Paraguai destacam-se, nessa década de 1840, a criação da Villa del Marco del Jauru, da Comandancia General del Occidente del Río Paraguai e do Juizado Territorial de las Salinas e a fundação do povoado de San Matías em frente a um estabelecimento militar brasileiro. Tais iniciativas eram feitas ao lado das leis, inclusive constitucionais, que assinalavam para a liberdade dos escravizados que pisassem em solo boliviano.
Os representantes do Império, como não poderia deixar de ser, reclamavam das novas jurisdições, pois atrairiam os escravizados do Brasil, tornando difíceis as relações com a República. Nessa mesma época, militares e senhores do Império avançavam até pontos ou perto de locais considerados bolivianos, com a justificativa de estarem em busca de prófugos escravizados. O que fazia representantes da Bolívia reclamarem que gente armada do Brasil entrava em seu território, cuja desculpa de estarem atrás de escravizados não justificaria ocuparem ou estarem em áreas bolivianas60.
Para solver essas tensões crescentes, parecia necessário que finalmente assinassem um tratado oficial entre os dois países. Em 1842, o ministro das Relações Exteriores boliviano já havia contatado o encarregado brasileiro Rego Monteiro, em Sucre, mas depois se esquivou de qualquer tratativa, argumentando serem “tão sérios os negócios com o Peru” que “não podia distrair um momento a sua atenção”. Em todo o ano de 1843, Rego Monteiro lamentava, em nada conseguira adiantar sobre um acordo e, notadamente, sobre a ansiada devolução de escravizados61, sua principal missão.
Até que, em outubro de 1844, o encarregado do Brasil escrevia que fora “fortemente instado” pelo ministro das Relações Exteriores da Bolívia para que fizessem um tratado sobre “limites”. O dirigente boliviano, então, propunha “aceder na indenização dos escravos asilados e extradição dos que venham fugidos à Bolívia”, em troca, o Império permitiria à Bolívia a navegação fluvial em seus rios e se comprometeria com o reconhecimento dos limites pelo que rezava o tratado de 177762, ou seja, o território boliviano iria até os rios Paraguai e Jauru, além do Guaporé.
Rego Monteiro confessou estar desnorteado com a proposta boliviana, pois pareciam saber “perfeitamente os pontos cardeais de nossas questões”, o que o fazia recear dar um passo em falso. Sendo assim, esperaria instruções da corte brasileira sobre a proposta, enquanto isso dissimularia viagens e outras atividades para não ter que tomar decisão imediata. De forma resumida, podemos dizer que as coordenadas do Império eram avançar a oeste dos rios Jauru e Paraguai, assegurar as ocupações ou posses à esquerda do Rio Guaporé, como o posto militar de Casalvasco, controlar o acesso presumidamente navegável aos grandes rios que chegassem ao Atlântico, e, de forma especial, a defesa do contingente de escravizados do Império.
Ao nosso ver, o ponto cardeal mais norteador da política externa nesse momento era a defesa da escravidão, inclusive além-fronteiras, o que incluía a devolução dos escravizados que fugissem pelas áreas fronteiriças. Assim, o representante diplomático do Império deveria batalhar em suas tratativas para que os escravizados prófugos fossem devolvidos, sem concessão de nenhuma espécie de asilo e, se fosse o caso, avançar para que os proprietários brasileiros garantissem o “direito” às suas “propriedades”, inclusive quando entrassem no país vizinho. De certa forma, era o que estava acontecendo no sul do Brasil em relação ao Uruguai, onde donos de escravizados tinham apoio do governo central para manter seus cativos em terra estrangeira, independentemente de qual grupo político estivesse prevalecendo, com ou sem guerra civil, como as de 1839-1851 e 1864-1865, ocasiões em que a intromissão de corpos armados oriundos do Brasil foi decisiva nas disputas locais63.
Na Bolívia, enquanto esperava alguma resposta da Corte, o diplomata brasileiro exprimia sua opinião sobre a proposta boliviana de maneira positiva, principalmente em relação aos escravizados. Além da permissão de navegação fluvial aos bolivianos, “alguma cousa das nossas pretensões de território em recompensa da entrega dos escravos” seria vantajosa. O Império não necessitaria “de tal território” se comparado ao que ganharia. Assim, para que, no acordo formal, não parecesse que cederiam ao “Tratado de 1777”, colocariam seus “limites” sem mencioná-lo, para que outras repúblicas não o alegassem também como parâmetro64.
Novamente, a tentativa de um tratado não prosperou; dessa vez, ao que parece, por ambos os lados terem deixado de prosseguir nas tratativas. Sem um acordo entre os dois países, Rego Monteiro, vendo-se perto de finalizar sua estadia como encarregado do Império na capital Sucre, afirmava sentir muito “dizer a V. Exa (ao ministro dos Negócios Estrangeiros) “que os nossos reclames” não foram “atendidos porque, além de que eles só poderão” ser “ajustados por um Tratado”, também teriam o conceito de que o Brasil é “débil”65. A sua missão se via definitivamente frustrada.
O substituto de Rego Monteiro, Antônio Lisboa, representando o Brasil na Bolívia, já não reclamava diretamente sobre os escravizados fugidos para a República, como seu antecessor. Ainda que os dirigentes diplomáticos do Império e muitos de suas elites políticas fizessem de si uma imagem representativa de padrão civilizatório “superior” ao de seus vizinhos republicanos, supostamente portadores de instituições anarquizadas66, inclusive pelo número de constituições estabelecidas, enquanto o Império, supostamente, gozaria de estabilidade política67, o encarregado do Império praticamente sugeria que se usassem pessoas armadas para resolver o problema na fronteira de uma vez por todas, considerada violada com a presença de bolivianos (os quais atraiam a fuga de escravizados). Assim, dizia: “enquanto o governo Imperial” não se convencer de “que gente desta laia, não é com palavras e boas maneiras que deve ser convencida, mas sim com força e arreganho”68.
Nesse mesmo ano, 1847, os brasileiros passaram a ocupar, com soldados e particulares, o lugar de Tremedal, na ampla região das Salinas, até então considerado “boliviano”. A justificativa era que estariam atrás de escravizados fugidos69. O que realmente poderia ser. Mas era mais um passo para afastar bolivianos da possibilidade de acesso aos grandes rios platinos. As reclamações bolivianas se intensificaram. Houve notícias de movimento de tropas, mas acabou se deixando de lado qualquer ação militar para retomar Tremedal. Por outro lado, por ocasião de brasileiros entrarem na parte amazônica boliviana e saquearem vila e sítios, as autoridades brasileiras, imediatamente, pediram desculpas, afirmando que era um caso isolado70. Mas na fronteira platina, o Império não se retraia, continuando a conjugar o avanço territorial com a defesa de seu contingente de escravizados.
De certa forma, pode ter colaborado para a não ação boliviana na fronteira o fato de ter havido uma insurreição militar em 1846, e que, a partir de então, somente cresceu a oposição ao presidente. Somava-se a isso a possibilidade de conflito com o Peru, aparentemente devido às taxas comerciais e utilização dos portos peruanos. Porém, tal perspectiva pareceu desvanecer em meados de 1847. De toda forma, em 1848 o governo de Ballivián caiu definitivamente, assumindo uma comissão temporária, para, em seguida, sair como presidente o general Manuel Isidoro Belzu, de La Paz, como único líder no Executivo.
No comando da presidência, Belzu imprimiu perseguição a seus inimigos bolivianos e desterrou estrangeiros. Também impôs taxas específicas a forâneos e desterrou opositores e estrangeiros71. Em relação às instâncias da fronteira, inicialmente, deixou-as praticamente desguarnecidas, ainda que seu governo continuasse a reclamar da tomada de Tremedal e outros posicionamentos brasileiros na região fronteiriça. Os representantes do Império do Brasil, por sua vez, protestavam contra a facilitação da evasão de escravizados. Mas, se um horizonte de conflito armado, de certa forma, não teve continuidade, como fora na tomada de Tremedal, ou em outras movimentações brasileiras na fronteira, um acordo entre as partes, ao que tudo indica, não tomou corpo nessa época.
Os escravizados continuaram a figurar na nova constituição, promulgada no terceiro ano do governo de Belzu. A carta de 1851, já em seu primeiro artigo, rezava: “Todo hombre nace libre en Bolivia: todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él.”72 Nesse momento, já aparecem várias diferenças em relação às constituições anteriores. Um tratado específico entre países não era aventado para possível devolução de escravizados (o que não excluiria sua possibilidade). Já não determinava a data dos nascidos a partir do dia de la patria, em 6 de agosto de 1825, como nas cartas anteriores (os quais já teriam 26 anos ou mais os nascidos desde aquele marco). Tampouco houve referência a uma constituição anterior como balize temporal para serem considerados livres os escravizados que pisassem em solo boliviano, como a carta de 1831 inscrita na constituição de 1843. Por outro lado, mesmo com a quantidade contabilizada relativamente exígua de escravizados afrodescendentes e a letra constitucional da carta de 1851, na qual a “escravidão não existe nem pode existir”, referências mostram que a forma vil de trabalho por pessoas negras continuava a existir a olhos vistos e com participação de autoridades73, o que não impedia de o território boliviano ser visto como uma grande área de solo livre para os que fugissem para lá, ou para os proprietários que não teriam seus escravizados devolvidos, ao menos, em função da vigência da lei constitucional.
Em agosto de 1861, perto de seis anos após a queda do general Belzu, em 1855, e a passagem de outros pela presidência, nova assembleia constituinte foi reunida na Bolívia. Ela sancionou a presidência de então, de José María Achá, e uma nova Constituição. No que se referia à instituição escravagista negra, repetia em artigo único e conciso sobre o assunto, o que existia na constituição anterior: “La esclavitud no existe ni puede existir en Bolivia”74.
Nessa primeira metade da década de 1860, o Império invadiu o Uruguai para depor seu presidente, sem explicitar que era também em defesa de uma política dos proprietários brasileiros de escravizados além-fronteiras75. Isso corrobora com a ideia de que o Império do Brasil já não encontrava ambiente para defender internacional e francamente as propriedades escravizadas de seus senhores. As crises na região platina passaram a demandar mais esforços militares, onde logo, em dezembro de 1864, começaria a chamada “Guerra do Paraguai”, após um navio destinado a Mato Grosso ser apreendido em Assunção, com o presidente designado para essa província a bordo preso.
Foi em plena guerra que o primeiro tratado de “Amizade, Limites, Navegação, Commercio e Extradição” foi assinado, em março de 1867, pelos representantes dos dois países. No que se referia à extradição de escravizados, ou seja, no que, nas tratativas de décadas anteriores, os representantes do Império esperavam inscrever em acordo alínea para restituir os prófugos afrodescendentes ou indenizar os “proprietários”, houve espaço apenas ao quase contrário. Entre outros crimes previstos para extradição de ambos os lados, como homicídio e deserção, havia o de “reduzir pessoa livre a escravidão”, mesmo os indocumentados, o que, minimamente, assumia na letra do acordo internacional que seria vil a escravidão, e bastante afastado de expressar qualquer ideia salvacionista ou de direito transfronteiro à propriedade de humanos das décadas anteriores.
Concluindo
Se as constituições dos novos países que surgiam na América Ibérica eram uma marca de suas soberanias e do próprio ordenamento interno, no caso da Bolívia, elas também serviam para sua política exterior, em especial para com o Brasil, quando tratava dos escravizados afrodescendentes. Entretanto, não foi um caminho linear dos dirigentes bolivianos adotarem leis e sancionarem constituições - as sete que antecederam o primeiro acordo diplomático com o Império, em 1867-, nas quais chegaram a, praticamente, facultar a alforria para os escravizados que fugiam do Brasil para o território boliviano.
Com a primeira Constituição, nada indicava que as leis bolivianas poderiam ser feitas em relação aos governantes e senhores do Império brasileiro. Publicada em 1826, no rastro das guerras de independência, à primeira vista, parecia encaminhar para o fim da escravidão negra, mas, logo em seguida, por lei complementar, as condicionantes mantinham o cativeiro, pois os então libertos deveriam trabalhar para pagar indenização aos senhores, e seriam livres somente os nascidos a partir de 1813.
A segunda, de 1831, mudava a data do ventre-livre para 6 de agosto de 1825, praticamente, estendendo por mais 12 anos o cativeiro, praticamente mais uma geração de trabalhadores. Por outro lado, incorporava no texto constitucional a proibição de introdução e comércio de escravizados - talvez em conformidade com a campanha Atlântica antitráfico desde 1807 promovida principalmente pelo ex-império escravagista, a Grã-Bretanha, enriquecida anteriormente por “negócios” envolvendo africanos76, mas também dizia respeito ao coetâneo Império brasileiro, escravagista por excelência.
A constituição de 1834 repetiu o mesmo dispositivo, mas agora acompanhado do Código Penal do mesmo ano, que estipulava que os escravizados ganhariam liberdade assim que pisassem em seu território e teriam nele abrigo inviolável e haveria pena para quem participasse na entrega de escravizados a outro país.
Ainda assim, na prática, essas leis não impediam que escravizados fugidos do Império fossem entregues por bolivianos aos brasileiros, inclusive com a ajuda de autoridades da República. Com a cessão dessas entregas, a partir de 1838, os brasileiros protestaram veementemente, colocaram em xeque as relações com a Bolívia e fizeram movimentos armados. Então, os bolivianos demonstraram sua óbvia autonomia em fazer suas leis, acima do pretenso direito de propriedade brasileira extraterritorial. A aplicação ou não dos dispositivos legais, como o que proibia a entrega de escravizados para o exterior, nesse momento, mostrava endereço certo, o Império do Brasil, seu apego à escravidão e a indefinição da linha de fronteira. Assim, por duas vezes, a Bolívia propôs a entrega ou indenização dos escravizados fugidos em troca de territórios e navegação em rios. Essas tratativas não vingaram, mas mostravam o que estava em jogo nas negociações antes de um tratado oficial assinado.
Interessante notar, se os batalhões que lutaram pelas independências ofereciam “liberdade” aos escravizados que guerreassem ao seu lado, após a criação da Bolívia, nas guerras civis que depuseram presidentes ou outras disputas entre os grupos políticos, ao que tudo indica, não houve chamamento específico aos escravizados negros por troca de sua liberdade. No Peru, por exemplo, isso acontecia nas guerras intestinas, e foi decisivo para a queda de governo, sendo estabelecida a alforria geral para os afro-americanos em 185477.
De toda forma, cada vez ficava mais claro que o Império do Brasil procurava conjugar o avanço territorial a oeste, e o controle da navegação nos grandes rios que dessem no Atlântico, com a defesa de seu contingente de escravizados. A Bolívia, por sua vez, se via forçada a concentrar seus esforços na área andina, onde havia maior população e vizinhos mais conflituosos, enquanto a área oriental boliviana era considerada pouco povoada e, por vezes, como se fosse um lado “a parte” do mesmo país78. Ainda assim, procurava estabelecer jurisdições na zona de fronteira, as quais, de certa forma, serviriam de entrada ou chamariz aos escravizados fugitivos do Brasil. Isso acontecia, não pelo anseio de alforria aos afrodescendentes pela República, mas como maneira de se contrapor ao grande vizinho escravagista, o Império do Brasil, notadamente, entre as décadas de 1830 a 1850, ou seja, nos momentos fulcrais da formação dos Estados nacionais na Ibero-américa.
Quando, finalmente, se deu a assinatura do primeiro tratado, em 1867, havia a recente experiência da Guerra Civil nos Estados Unidos (1861-1865), e a condenação crescente à escravidão institucionalizada ganhava espaço no hemisfério, de maneira que não havia ambiente para se requerer, como antes, devolução ou indenização pelos que fugiam para a República boliviana. Nem a Bolívia poderia negociar tais devoluções por territórios e navegações pretendidas. As conjunturas mais específicas desse tratado e o que ele estabeleceu diante dos pleitos vários, como a navegação e o próprio traçado de limites, serão assunto de outro trabalho. De toda forma, as constituições bolivianas, sendo cumpridas ou ignoradas, foram uma forma incisiva de sua política exterior com o Império brasileiro.
Bibliografia
- ACRUCHE, Hevelly F. Dimensões da propriedade no contexto das guerras pela Colônia do Sacramento (1762-177). Estudios Históricos, Uruguay, año VIII, n. 16, Julio 2016
- ACRUCHE, Hevelly F. O rio da Prata, a independência e a abolição: perspectivas de liberdade dos escravos no além-fronteira. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 32, n. 66, p. 53-78, jan./abr. 2019.
- ANDREWS, G. R. América afro-latina - 1800-2000 São Carlos: EdUFSCar, 2007.
- ARAÚJO, T. L. Para o outro lado da linha: as fugas de escravos para o além-fronteira (século XIX). In: GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América Rio de Janeiro: 7 Letras; Faperj, 2013.
- BLANCHARD, P. Under the flag of freedom: slave soldiers and the wars of independence in Spanish South America. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2008.
- BOTELHO, T. R. A população brasileira em 1850: uma estimativa. Economia e Políticas Públicas, Montes Claros, v. 7, n. 2, p. 135-165, 2019.
- CALÓGERAS, João Pandiá. A política exterior do Império Brasília: Senado Federal, 1998. Edição fac-similar. 3 v. S/d.
-
Constituiciones y leyes Bolivianas - 1826 a 1861 http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/bolivia_constituciones
» http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/bolivia_constituciones - CRESPO, A. R. Esclavos negros en Bolivia. La Paz: Editorial G.U.M., 1977.
- DALENCE, J. M. Bosquejo estadístico de Bolivia [1853]. Sucre: ABNB, 2013. Edición Facsimilar
- FOUCHER, M. Obsessão por fronteiras São Paulo: Radical Livros, 2009.
- GARRIGA, C.; SLEMIAN, A. “EM TRAJES BRASILEIROS”: JUSTIÇA E CONSTITUIÇÃO NA AMÉRICA IBÉRICA (C. 1750-1850) Revista de História, n. 169, julho/dezembro de 2013, p. 181-221.
- GONZALO D. M. La Asamblea del Año XIII y el problema de la esclavitud. Aequitas Virtual - Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, v. 7, n. 20, 2013.
- GONZALO M., D. La Asamblea del Año XIII y el problema de la esclavitud. Aequitas Virtual - Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Buenos Aires, v. 7, n. 20, 2013.
- GRINBERG, Keila. Escravidão e liberdade na fronteira entre o Império do Brasil e a República do Uruguai: notas de pesquisa. Cadernos do CHDD, ano 5, 2007. FERREIRA, Gabriela. Conflitos no rio da Prata. In: GRINBERG, Keila; SALLES, R. O Brasil imperial (1808-1831) - Vol I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
- GRINBERG, Keila. Escravidão, relações internacionais e as causas da Guerra do Paraguai. In: ENCONTRO ESCRAVIDÃO E LIBERDADE NO BRASIL MERIDIONAL, 9, 2019, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2019.
-
GRINBERG, Keila; PEABODY, Sue. Escravidão e liberdade nas Américas Rio de Janeiro: FGV, 2013. MENEGAT, Carla. Escravidão, cidadania, recrutamento militar e liberdade: brasileiros no Estado Oriental do Uruguai (1838-1864). Revista de História, São Paulo, n. 178, p. 1-28, 2019. Disponível em:Disponível em:https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/144029 Acesso em: 2 fev. 2022.
» https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/144029 - DORATIOTO, F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. MENEZES, A. M.. Como construímos o conflito - Guerra do Paraguai. São Paulo: ed. Contexto, 1997.
- KLEIN, H. Cambios sociales em Bolivia desde 1952. Temas Sociales, La Paz, n. 24, 2003 e CAMARGO, A. C. J. Bolívia - A criação de um novo país: a ascensão do poder político autóctone das civilizações pré-colombianas a Evo Morales. Brasília: Funag, 2006.
-
Legislación Boliviana- Compendio de leyes de 1825-2007, CD elaborado por la Biblioteca y el Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional. In: In: https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/bolivia_constituciones Acesso, 25/2/2021.
» https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/bolivia_constituciones -
Legislación Boliviana. Ley de 19 de diciembre de 1826.- Compendio de leyes de 1825-2007. Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional. Pode ser encontrado em: Pode ser encontrado em: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-18261219-1.xhtml Acesso:2 de maio de 2023.
» https://www.lexivox.org/norms/BO-L-18261219-1.xhtml - LOPES, J. R. L. “Iluminismo e jusnaturalismo no ideário dos juristas da primeira metade do século XIX.” In: Brasil: formação do Estado e da Nação São Paulo: Hucitec, 2003, p. 195-218.
-
MENEGAT, Carla. Escravidão, cidadania, recrutamento militar e liberdade: brasileiros no Estado Oriental do Uruguai (1838-1864). Revista de História, São Paulo, n. 178, p. 1-28, 2019. Disponível em:Disponível em:https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/144029 Acesso em:2 fev. 2022.
» https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/144029 - MITRE, A. Estado, nação e território na Bolívia oligárquica., 1850-1914. In MÄDER, M. E.; PAMPLONA,M. A. Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas: Peru e Bolívia São Paulo: Paz e Terra, 2010.
- PAES, Mariana A. d. Escravidão e Direito São Paulo: Alameda, 2019. A volta da categoria “escravo” na Bolívia, na prática, não surtiria efeito para os pagadores de indenização.
- PAMPLONA, Marco A.; DOYLE, D. H. (org). Nação e nacionalismo no novo mundo - A formação de Estados-nação no século XIX RJ/SP: Record, 2009.
- PENTLAND, J.B. Informe sobre Bolivia. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, [1827], 2017
-
PERALTA RUIZ, Víctor. La precariedad constitucional. El gobierno virreinal del Cusco y los gobiernos independizados en Lima (1820-1824).Signos históricos, México, v. 23, n. 46, p. 120-153, dic. 2021. Disponible en <Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-44202021000200120&lng=es&nrm=iso >. accedido en 17 mayo 2024. Epub 04-Oct-2021.
» http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-44202021000200120&lng=es&nrm=iso - PEREA, Natalia S. Andrés de Santa Cruz: caudilho de los Andes. Lima: IEP, 2016
- ROCA, José L. Ni con Lima ni con Buenos Aires: La formación de un Estado nacional en Charcas. La Paz, IFEA/ Plural editores, 2011.
- RODRIGUEZ PASTOR. H. Abolición de la esclavitud en el Perú y su contitnuidad. Investigaciones Sociales Año IX, n. 15, pp. 441-456, Lima, 2005.
- RODRIGUEZ, Jaime O. La organización política de los Estados. In: VÁZQUEZ, J.; GRIJALVA, M. La Construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870. Madrid: Trotta/UNESCO, 2007.
- SANTOS, C. A. B. P. A fábrica de escravos: a escravidão negra no sul de Mato Grosso (1718 - 1888). ACENO, Vol. 3, N. 6, p. 52-70. Ago. a Dez. de 2016. ISSN: 2358-5587
- SANTOS, C. O ativismo político da Confederação Abolicionista antes e depois do 13 de maio de 1888. In: LIMA, Ivana Stolze; GRINBERG, Keila; REIS, Daniel Aarão (org.). Instituições nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018.
- SANTOS, L. C. V. G.. O Brasil entre a América e a Europa: o Império e o interamericanismo (do Congresso do Panamá à Conferência de Washington) São Paulo: EdUnesp, 2004.
- SCALAN, P. X. Slave Empire - How slavery built modern Britain. London: Robinson/ Hachette, 2022.
- SECRETO, M. V. Soltando-se das mãos: liberdade dos escravos na América espanhola. In: RAMINELLI, Ronald; AZEVEDO, Cecília.Historia das Américas Novas perspectivasRio de Janeiro: FGV , 2011.
- SECRETO, Maria Verónica. Asilo: direito de gentes. Escravos refugiados no Império Espanhol. Revista de História, São Paulo, n. 172, p. 197-219, jan./jun., 2015.
- SENA, E.C. Vieira e o jogo católico reformista. Brasília. CCB, 2003.
-
SOUSA, Caroline P.. Escravidão, abolição e gênero: mulheres negras, corpo e reprodução nas Américas. Revista Eletrônica da ANPHLAC, v. 21, n. 31, p. 188-222, 2021. DOI: https://doi.org/10.46752/anphlac.31.2021.4032.
» https://doi.org/10.46752/anphlac.31.2021.4032 - SOUZA, Juliana Beatriz A. de. Las Casas, Alonso de Sandoval e a defesa da escravidão negra. Topoi, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, jun. 2006.
- TONELLI, O. J. Reseña histórica, social y económica de la Chiquitania Santa Cruz de la Sierra: El País, 2004.
- YRUROZQUI, Marta. “Las metamorfosis del Pueblo - Sujetos políticos y soberanias en Charcas a través de la acción social (1808-1810)”Las independencias hispano-americanas In: HÉBRARD, V; VERDO, G. V, Madrid. Casa de Velázquez, 2013, p. 213-227.
- SOUZA FILHO, C. F. M. Gênese Anticolonial do Constitucionalismo Latino- Americano. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, Vol. 12, N. 01, 2021, p. 16-47.
-
3
Símbolo que, segundo Souza Filho, não impedia que os novos países da América, que veio a ser chamada de “Latina”, preferissem, no século XIX, publicar novas constituições no lugar de reformar a existente. Souza Filho, 2021.
-
4
Ver Garriga; Slemian, 2013.
-
5
Yrurozqui, 2013. Peralta, 2021.
-
6
Lopes, 2003. Rodriguez, 2007. Garriga; Slemian, 2013.
-
7
Pamplona:Doyle, 2009.
-
8
Foucher, 2009.
-
9
Blanchard, 2008. Acruche, 2019.
-
10
As constituições citadas podem ser encontradas na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/bolivia_constituciones?
-
11
Legislación Boliviana. LB. Ley de 19 de diciembre de 1826.
-
12
Secreto, 2011.
-
13
Para a indenização do ex-proprietário, também estavam previstos os gastos com alimentação e vestuário dos libertos e, por outro lado, os ganhos destes fora da residência do patrão.
-
14
Legislación Boliviana. LB. Ley de 19 de diciembre de 1826.
-
15
Ver Gonzalo, 2013.
-
16
Acruche, 2019.
-
17
Ver Roca, 2011.
-
18
Sousa, 2021.
-
19
Pentland, 2017
-
20
Crespo, 1977.
-
21
Andrews, 2007.
-
22
Dalence, 2013.
-
23
Ver Botelho, 2019.
-
24
Santos, 2016.
-
25
Dalence, 2013, p. 222. Eram feitos muitos outros cálculos proporcionais, como o número de habitantes por área quadrada, comparando diversos lugares.
-
26
ver Klein, 2003. Camargo, 2006.
-
27
Conforme indica Lisocka-Jaegermann (2010), o pensamento social boliviano foi constante e profundamente vincado na relação entre indígenas e “criollos”. As pesquisas sobre os descendentes de africanos são muito poucas.
-
28
Entre outros, ver Araújo, 2013.
-
29
Grinberg, 2019.
-
30
Ver Doratioto, 2002. Menezes, 1997.
-
31
Menegat, 2022.
-
32
Ferreira, 2009.
-
33
Ver Secreto, 2015; Acruche, 2016. Grinberg, 2013.
-
34
LB. Código Penal de 1834. Artículo 172o
-
35
LB. Código Penal de 1834. Artículo 174.
-
36
Arquivo Histórico do Itamaraty. AHI. 212/02/04. Anexo. Cochabamba, 27 de junio de 1836. Ministerio de las Relaciones Exteriores al Encargado del Brasil.
-
37
AHI. 212/02/04. Anexo. Chuquisaca, 7 de enero de 1837. Ignácio Sanjinés al Encargado del Brasil.
-
38
AHI. 212/02/04. Anexo. Chuquisaca, 12 de febrero de 1837. Ignácio Sangínés al Encargado del Brasil.
-
39
Arquivo Público de Mato Grosso. APMT. Registro de Correspondências Presidentes com Províncias e Bolívia. (RCPPB). Cuiabá, 11 de maio de 1838. J. A. Pimenta Bueno para General José Miguel de Velasco.
-
40
APMT. RCPPB. Cuiabá, 11 de outubro de 1841. J. S. Guimarães para D. João Baca, Governador da Província de Chiquitos. Cuiabá, 11 de outubro de 1841.
-
41
Perea, 2016.
-
42
AHI. 212/02/05. Lima, 19 de janeiro de 1839. Ponte Ribeiro para Maciel Monteiro.
-
43
AHI. 212/02/05. Lima, 26 de abril de 1839. Ponte Ribeiro para Maciel Monteiro.
-
44
Toneli, 2004.
-
45
No Brasil, por exemplo, Mariana Paes (2019) mostra que o “liberto”, em comparação com o “escravizado”, poderia ter o “alargamento da personalidade jurídica”, ou seja, com a possibilidade de alguns direitos, mas também, e sobretudo, dependendo de cada caso e circunstâncias. Paes, 2019.
-
46
AHI. 211/01/18. Anexo. Sucre, 26 de novembro de 1842. Rego Monteiro para Ministro das Relações Exteriores da República da Bolívia.
-
47
AHI. 211/08/18. Sucre, 29 de dezembro de 1842. Rego Monteiro para ministro dos Negócios Estrangeiros do Império.
-
48
AHI. 211/08/18. Sucre, 26 de novembro de 1842. Rego Monteiro para Ministro das Relações Exteriores da República Boliviana. E ver Sucre, 1o de dezembro de 1842. Rego Monteiro para Ministro de Relações Exteriores da Bolívia.
-
49
Ver AHI. 211/08/18. Sucre, 29 de noviembre de 1842. Manuel de la Cruz Mendez para Encargado de Negocios del Brasil.
-
50
AHI, 211/01/18. Sucre, 3 de dezembro de 1842. Rego Monteiro para Ministro de Relações Exteriores da República da Bolívia.
-
51
Ver Souza, 2006. Sena, 2003.
-
52
Ver, especialmente, AHI. 211/01/18. Sucre, 14 de diciembre de 1842. Manuel de la Cruz Mendez al Encargado de Negocios del Brasil.
-
53
AHI. 211/01/18. Anexo. Sucre, 29 de noviembre de 1842. Manuel de la Cruz Mendez al Encargado de Negocios del Brasil.
-
54
AHI. 211/01/18. Anexo. Sucre, 3 de dezembro de 1842. Rego Monteiro para o Ministro de Relações Exteriores da Bolívia.
-
55
AHI. 211/01/18. 22 de novembro de 1845. Rego Monteiro para Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros.
-
56
Calógeras, 1998.
-
57
APMT. RCPB. Cuiabá, 10 de junho de 1837. Pimenta Bueno a Ponte Ribeiro.
-
58
Era o general Eusebio Guilarte, mas que não chegou a se apresentar no Rio de Janeiro, como previsto. Ver AHI. 211/01/19. Sucre, 21 de fevereiro de 1847. A. Lisboa para o Ministro de Relações Exteriores do Império.
-
59
AHI. 211/01/19. Anexo. Mensagen al Congreso de Bolivia. José Ballivián. Sucre, 6 de agosto de 1846.
-
60
Por exemplo - AHI. 211/01/19. Sucre, 31 janeiro 1847. A. José Lisboa para Ministro das Relações Exteriores do Império.
-
61
AHI. 211/01/19. Sucre, 27 de janeiro de 1844. Rego Monteiro para Secretário de Negócios Estrangeiros.
-
62
AHI. 211/01/18. Sucre, 20 outubro de 1844. Rego Monteiro para Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.
-
63
Menegat, 2019. Grinberg, 2007.
-
64
AHI. 211/01/18. Sucre, 20 outubro de 1844. Rego Monteiro para Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros.
-
65
AHI. 211/01/18. Sucre, 25 de outubro de 1846. Rego Monteiro para Ministro e Secretário dos Negócios Estrangeiros.
-
66
Por exemplo, Monteiro dizia estar “cercado de repúblicas, isto é, de associações de homens que não têm nada a perder”. AHI. 211/01/18. Sucre, 20 outubro de 1844. Rego Monteiro para Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiro. Ver também Santos, 2003.
-
67
Ideia que prevaleceu por muito, na explicação da formação do Império em uma suposta contraposição à América hispânica, como se ambos não fossem parte do mesmo processo carregado de fortes conflitos internos e violências. Ver Garriga; Slemian, 2013, p. 185.
-
68
AHI. 211/01/19. Sucre, 24 de abril de 1847. A. José Lisboa para Ministro do Império.
-
69
AHI. 211/01/19. Sucre, 24 de julho de 1847. A. José Lisboa para Ministro das Relações Exteriores da Bolívia.
-
70
AHI. 410/02/11. Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1851. Paulino José de Souza para Ponte Ribeiro.
-
71
Ver AHI. 211/1/19. Anexo. Sucre, 4 de dezembro de 1848. Antônio josé Lisboa para Ministro e Secretário dos Negócios Estrangeiros do Império.
-
72
L.B. Constituición Política de 1851. Artículo 1.
-
73
Revilla, 2014; Sena; 2013. Sem entrarmos em maiores discussões, podermos dizer que na Bolívia não existiu uma data específica que marcasse o fim da escravidão de afrodescendentes.
-
74
LB. Constituición Política de 1861. Artículo 3.
-
75
Grinberg, 2019.
-
76
Scanlan, P. X. 2022.
-
77
Ver Rodriguez Pastor, 2005. Andrews, 2007, p. 97.
-
78
Ver Mitre, 2010.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
15 Jun 2024 -
Aceito
03 Dez 2024
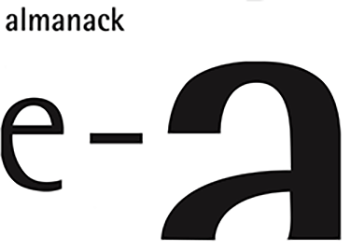
 “HAVENDO UM, DEVOLVERIA TODOS” - ESCRAVIZADOS NEGROS E AS CONSTITUIÇÕES BOLIVIANAS COMO INSTRUMENTO PARA AS RELAÇÕES COM O IMPÉRIO DO BRASIL
“HAVENDO UM, DEVOLVERIA TODOS” - ESCRAVIZADOS NEGROS E AS CONSTITUIÇÕES BOLIVIANAS COMO INSTRUMENTO PARA AS RELAÇÕES COM O IMPÉRIO DO BRASIL