Resumo
O objetivo deste artigo é empreender uma reflexão acerca do gênero na escravidão, por meio da realização de um balanço historiográfico, tendo como elementos norteadores alguns aspectos sobre a maternidade e o trabalho no Império do Brasil. Após uma breve introdução do debate sobre gênero e escravidão no Brasil oitocentista, as produções analíticas são examinadas, indicando alguns dos principais temas e questões investigados. Essa historiografia, que tem crescido sobremaneira nos últimos 20 anos, mostra a importância dos estudos sobre gênero na escravidão para a compreensão das sociedades escravistas em seus múltiplos aspectos. Destaque primordial é dado ao corpo da escravizada e sua capacidade reprodutiva, centrais para a própria instituição da escravidão, haja vista o duplo papel desempenhado por ela dentro do sistema, que era tanto produtora quanto reprodutora de trabalho e riquezas.
Palavras-chave:
maternidade; trabalho; escravidão; historiografia
Abstract
This article aims to explore the role of gender in slavery through a historiographical review, focusing on aspects of motherhood and work in the Empire of Brazil. After a brief introduction to the discourse surrounding gender and slavery in 19th-century Brazil, we will examine key analytical works that highlight major themes and issues in the field. Over the past two decades, historiography in this area has expanded significantly, underscoring the importance of gender studies for understanding the complexities of slave societies. The bodies of enslaved women and their reproductive capabilities were central to the institution of slavery, emphasizing their dual role as both producers and reproducers of labor and wealth within the system.
Keywords:
motherhood; work; slavery; historiography
Gênero e escravidão
As abordagens de gênero nos diversos campos da história têm crescido significativamente nos últimos anos e isso não é diferente para os estudos sobre os mundos do trabalho. Fabiane Popinigis e Cristiana Schettini, em debate promovido pela revista Almanack, no fórum - “Mulheres e mundos do trabalho” -, destacaram as aproximações, iniciadas na década de 1990, da história social do trabalho com a da escravidão, que redundaram na compreensão dos escravizados enquanto trabalhadores. A partir dessas observações, apresento uma reflexão sobre o gênero na escravidão, tendo como fio condutor alguns aspectos sobre a maternidade e o trabalho, empreendendo um balanço da produção historiográfica sobre o Império do Brasil.
No Oitocentos, um forte discurso normatizador acerca da função social das mulheres passou a circular em diferentes esferas da sociedade brasileira, com grande intensidade na segunda metade do século. O papel da mulher como mãe ganhou relevo na medida em que, ao cuidar da educação de seus filhos e filhas, ela deveria formar, respectivamente, os futuros cidadãos e mães de família. O discurso inseria-se, em contexto mais amplo, nos projetos modernizadores da nação que pretendiam introduzir o Brasil no rol dos países considerados civilizados4.
Nesse sentido, o modelo familiar burguês representava a modernidade, no qual a mãe tinha atuação essencial. Vozes masculinas das classes dominantes, por meio das relações de poder que envolvem o gênero5, valorizavam a família nuclear burguesa como a “correta” a ser seguida. As mães, em especial as das camadas abastadas, passaram a sofrer crescentes críticas, sendo representadas como desnaturadas, pois preferiam frequentar bailes e salões ao invés de amamentar e cuidar dos próprios filhos. A boa mãe de família deveria ser a rainha do lar, amamentando seus bebês e cuidando da educação das crianças maiores, função compreendida como fundamental para o país6.
Contudo, na prática, as realidades sociais eram outras. Mulheres livres, libertas ou escravizadas; brancas, negras ou mestiças; nacionais ou estrangeiras; ricas, pobres ou remediadas experenciavam de modo diferenciado não só a maternidade, mas também a sua inserção nos mundos do trabalho. O modelo burguês, proposto e amplamente defendido como ideal, apenas compreendia uma estreita parcela das mulheres da sociedade, especificamente, as livres, abastadas e, em sua maioria, brancas. As mulheres pobres, livres ou libertas, nacionais ou estrangeiras, brancas, negras ou mestiças, necessitavam trabalhar para garantir o seu sustento e de sua família. Já as escravizadas tinham o seu universo social profundamente marcado por sua condição jurídica associada ao trabalho compulsório.
Análises que abordam raça, gênero, classe e liberdade por meio de uma perspectiva interseccional7 têm adquirido força nas discussões de diversas áreas do conhecimento que se dedicam a tais questões. Nesse sentido, Popinigs e Schettini, no artigo do presente Dossiê, sinalizam como os marcadores de classe e raça marcaram trabalhos clássicos sobre história social das mulheres no Brasil, como os de Eni de Mesquita Samara, Sandra Graham e Sueann Caulfield. Gabriela Mitidieri, da mesma maneira, evidenciou as investigações que privilegiam esses marcadores na produção historiográfica sobre a Argentina, sobretudo aquelas que empregam as ferramentas teórico-metodológicos da história social.
A historiografia, cada vez mais, mostra a importância de se compreender a escravidão não centrada em um ideal de sujeito escravizado masculino e universal, sinalizando para a necessidade de se entender as relações entre gênero e escravidão de maneira interseccional8 com outros marcadores sociais9. Pensar essas categorias de maneira interseccional complexifica as abordagens analíticas, uma vez que não privilegia uma sobre a outra. As discriminações interseccionais são difíceis de serem identificadas em contextos nos quais as estruturas sociais, econômicas e culturais as naturalizam, fazendo com que pareçam imutáveis.
É inquestionável que a herança social deixada pela escravidão impactou as diversas sociedades que tiveram a instituição como base. Em seu artigo na presente edição da Almanack, para o caso argentino, Mitidieri aponta para esse legado especialmente no tocante ao serviço doméstico, atividade na qual trabalhavam filhas e netas de mulheres que haviam sido escravizadas juntamente com imigrantes europeias pobres.
Os estudos sobre gênero na escravidão têm mostrado sua importância para a compreensão das sociedades escravistas em seus múltiplos aspectos. É imprescindível compreender a distinta experiência das mulheres escravizadas, ao mesmo tempo produtoras e reprodutoras de trabalho; “no papel de dupla produtora da riqueza escravista”, os princípios impostos pelos sistemas escravistas “acabaram sublinhando a centralidade do corpo da escravizada como o próprio locus da escravidão”10. A escravidão foi firmada no patriarcado já existente na Europa, que compreendia as mulheres ou como qualificadas para a transmissão de propriedade, via casamento, ou como não aptas. A instituição escravista intensificou e racializou essa concepção e, assim, no mundo atlântico, os lucros foram ajustados “à racialização dos sistemas patriarcais de herança”11. Ou seja, em uma “escala atlântica, a escravidão dependia de uma divisão global do trabalho permeada pelo gênero para se reproduzir” 12.
No Brasil, o princípio do partus sequitur ventrem, também presente em outras sociedades escravistas13, garantia aos proprietários, até a Lei do Ventre Livre de 187114, a continuidade da mão de obra cativa. Após 1850, com o fim efetivo do tráfico transatlântico de cativos, o papel da escravizada como reprodutora de trabalho e de riquezas adquiriu ainda mais relevo, na medida em que a reposição de mão de obra passou a se dar pelo crescimento natural. É sobre esse contexto oitocentista que estão as pesquisas presentes no balanço historiográfico aqui apresentado, que não pretende esgotar a sólida produção existente que aborda múltiplos aspectos, tarefa que de fato seria muito difícil para os limites desse artigo. O objetivo é trazer reflexões sobre alguns aspectos dos debates sobre maternidade e trabalho escravizado no Império do Brasil.
Trabalho, maternidade e escravidão
As vivências maternas de mulheres escravizadas - gestação, parto, aleitamento, cuidado dos filhos e constituição de famílias - em diferentes sociedades escravistas da América, contrastava com a importância da capacidade reprodutiva feminina para a manutenção da escravidão15. Embora a maternidade, em suas múltiplas dimensões, muitas vezes ter sido silenciada16, havia resistência, nas brechas do domínio senhorial, para as cativas controlarem a própria sexualidade e vida reprodutiva, exercendo a maternidade e mantendo as ligações familiares17.
O livro seminal de Maria Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, examinou as experiências de mulheres pobres, livres e libertas, bem como de escravizadas, que eram muito definidas por suas inserções nos mundos do trabalho18, conforme também asseveraram Popinigis e Schettini neste Dossiê. Desde então, as pesquisas que enfocam o gênero na escravidão intensificaram-se, com significativo crescimento nas duas últimas décadas. Teses, dissertações, livros, dossiês de periódicos científicos19, grupos de pesquisas e eventos acadêmico-científicos refletem não apenas o interesse pela temática, mas também o relevo que esses debates têm adquiro no campo de estudo.
As escravizadas desempenhavam atividades diversas, tanto nos espaços rurais quanto nos urbanos. Por meio desses trabalhos produtivos20, algumas puderam acumular pecúlio e conquistar a alforria para si, seus filhos ou outros familiares; e quando libertas continuavam na luta para conseguir a liberdade dos filhos que ainda estavam no cativeiro, manter a liberdade daqueles que já não eram escravizados e atingir algum grau de mobilidade econômica e social.
A historiografia sobre alforrias, por meio de explicações diversas, já sinalizou para o fato de que foram elas as que, tendencialmente, mais conquistaram a manumissão, mostrando como exerceram papel primordial na articulação econômica e social para tal finalidade. Maria Helena P. T. Machado e Marília B. A. Ariza asseveram que muitas abordagens interpretativas fundamentam sua argumentação nas capacidades das escravizadas de “seduzir e manipular homens dominantes”, para alcançarem as alforrias e, dessa maneira, “antes de serem trabalhadoras, as mulheres escravizadas, libertas e libertandas seriam, amantes, amásias ou prostitutas”21. Pesquisas sob a perspectiva do gênero na escravidão e no pós-emancipação, ao divergirem de tais interpretações, destacam o protagonismo de escravizadas22, libertandas e libertas na emancipação, indicando como esta “no Brasil foi claramente definida pelo gênero”23. Nessa perspectiva, por exemplo, se encontram as análises de Camillia Cowling24, que explora as ações de liberdade impetradas por escravizadas nas cidades do Rio de Janeiro e em Havana, e a de Jane-Marie Collins25 sobre as emancipações na Bahia, entre os anos de 1830 e 1888, que evidenciam as adversidades enfrentadas pelas mães escravizadas e suas lutas para conquistar a própria alforria e a de seus filhos.
Quando as mães conquistavam sua liberdade, a preocupação com seus filhos que ainda continuavam no jugo da escravidão era constante. A vulnerabilidade dos menores; os possíveis maus tratos; a venda para locais distantes, que dificultariam a obtenção de notícias; e a luta para adquirirem meios para comprar a alforria de seus pequenos são apenas algumas das apreensões. No tocante à violência, podemos citar o escandaloso caso transcorrido na cidade de São Luís, no Maranhão, na década de 1870, envolvendo a liberta Geminina e seus dois filhos. Jacintho e Inocêncio continuaram no cativeiro e foram vendidos para uma senhora da alta estirpe maranhense, conhecida como torturadora de escravizados, que cruelmente assassinou ambos os meninos26.
Não raro as manumissões eram repletas de exigências e entraves que dificultavam a vivência plena da liberdade27, favorecendo o controle pelos proprietários. Após 1871, quando a Lei do Ventre Livre formalizou a consuetudinária aquisição de alforria a prazo, muitas escravizadas e libertandas se engajaram em contratos de locação de serviços28 para conseguirem fundos para adquirir a liberdade própria ou de seus filhos. Esses arranjos, muitas vezes desvantajosos e marcados pela exploração laboral, com frequência levaram-nas a viver de maneira tutelada e pauperizada29.
A historiografia vem demonstrando que para as egressas do cativeiro, o exercício pleno e autônomo da maternidade muitas vezes não foi possível ou foi dificultado. O afastamento de seus filhos por meio de arranjos de soldadas e tutelas, que envolviam também mães livres pobres, sobretudo as racializadas, evidenciam as dificuldades para a vivência integral da maternidade daquelas mulheres30. As tutelas no Império do Brasil foram inspiradas nas Ordenações Filipinas no tocante à jurisprudência sobre a garantia do futuro de menores órfãos, abandonados, dentre outros. A partir da década de 1880, com as agitações emancipacionistas, o recurso jurídico passou a ser empregado com maior frequência, no intuito de introduzir o mais cedo possível o menor dentro da lógica dos mundos do trabalho31. Além das tutelas, outro expediente jurídico existente era a soldada, que visava direcionar o menor para atividades laborais, enquanto aquela vinha revestida com o discurso de amparo aos menores abandonados e desassistidos. Algumas pesquisas demonstram que, em diversas partes do território nacional, as ações de tutela visavam a exploração do trabalho dos menores em arranjos precários, muitos dos quais eram meninas, pobres e racializadas32. Situação semelhante foi apresentada Mitieri para a Argentina, no artigo do Dossiê.
No caso brasileiro, mães, várias delas egressas da escravidão, tiveram que lutar para terem seus filhos perto de si. Muitas das justificativas para as solicitações de tutela e soldadas estavam fundadas na dita incapacidade daquelas mulheres para cuidarem de seus filhos - rotuladas como ébrias, arruaceiras, dadas a vícios, que passavam o dia fora de casa trabalhando eram argumentos empregados.
O contexto da Lei do Ventre Livre (1871), que trouxe para o cerne as discussões sobre o trabalho reprodutivo da mulher escravizada e sua centralidade para a instituição escravista, tem despertado interesse especial nas investigações historiográficas que analisam o gênero na escravidão33. No parlamento, os debates em torno da Lei elevaram para o primeiro plano a mulher escravizada e seu papel como reprodutora de trabalho34. Escravistas e antiescravistas sustentavam propostas contrárias com relação aos encaminhamentos das discussões que visavam anular a continuidade do partus sequitur ventrem. Contudo, ambos empregavam, cada um para seu propósito, a mesma retórica humanitária de defesa da maternidade da mulher escravizada e de seus filhos.
Ao acabar com o princípio do partus sequitur ventrem, a Lei projetou um fim para a instituição basilar do Império do Brasil. Ela declarava livres os filhos nascidos de ventre escravizado, mantendo-os, contudo, sob a tutela ou do proprietário de sua mãe ou do Estado. As crianças ficariam com os senhores de suas mães até a idade de oito anos e “Se a mulher escrava obtiver liberdade, os filhos menores de oito anos, que estejam em poder do senhor dela por virtude do § 1º, lhe serão entregues, exceto se preferir deixá-los, e o senhor anuir a ficar com eles”35.
Petições, ações de liberdade e mecanismos de disputas variados na justiça mobilizavam os valores simbólicos da maternidade da escravizada, dotados naquele momento de profunda carga política. Carregados com forte retórica sentimental, recorriam ao amor materno e ao vínculo entre mãe e filho para sustentar suas argumentações para requerer a libertação dos filhos de escravizadas36. Ao empregar tal recurso, a mulher escravizada se equiparava figuradamente às livres no tocante à maternidade. Assim, no processo desagregação da instituição escravista, as mulheres se apresentaram como protagonistas, engajadas em batalhas cotidianas37. Popinigis e Schettini, no balanço historiográfico presente nesta edição da Almanack, também evidenciaram os estudos que analisaram os diversos dispositivos na justiça que mães escravizadas utilizaram na luta por liberdade no ocaso da escravidão, destacando as pesquisas de Camillia Cowlind e Marília B. A. Ariza.
Com relação às atividades laborais desempenhadas pelas escravizadas, mulheres pobres, livres ou libertas, brancas ou negras, nacionais ou estrangeiras, o serviço doméstico constituiu uma ocupação que passou a ter o predomínio de mulheres. Esse trabalho englobava uma diversificada gama de atividades, “encobriam os serviços prestados ‘da porta para dentro’ por cocheiros, ferreiros, lavadeiras, copeiras, arrumadeiras, amas-de-leite, costureiras, mucamas, carregadores de água e atendentes de estalagens”38. Em consonância com os dois artigos do Dossiê da Almanack, friso como o profícuo campo de investigações acerca do serviço doméstico tem produzido importantes estudos nos quais gênero, raça, classe e liberdade são variáveis analíticas fundamentais. No recorte analítico empreendido por Midieri, para a análise sobre a Argentina, foco foi dado aos estudos sobre serviço domésticos, indicando sua potencialidade para a reflexão acerca do campo da história social na perspectiva de gênero dos mundos do trabalho.
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, até a década de 1870, o serviço doméstico era desempenhado majoritariamente por escravizados e, nas décadas seguintes, foi sendo substituído por trabalhadores livres, com a presença de nacionais e estrangeiros. A feminização do ofício se deu de meados do século XIX às primeiras décadas do XX39. Vale sublinhar que no pós-emancipação e pós-abolição, muitas egressas do cativeiro foram trabalhar em tal atividade40.
Os estudos sobre o trabalho doméstico trazem destaque à mulher escravizada, reiteradamente salientando aspectos que envolvem a maternidade. A atividade de ama de leite foi uma das que envolveu tanto o trabalho reprodutivo das escravizadas quanto o produtivo e tem sido analisada pela historiografia41. O emprego de nutrizes de aluguel foi intenso na sociedade brasileira, sendo elas em sua maioria mulheres escravizadas. Acreditava-se que as mulheres negras tinham capacidades superiores para a amamentação, crença forjada antes da escravidão transatlântica; observações racializadas e animalizadas acerca dos seios das africanas eram empreendidas por viajantes europeus42.
Frequentemente as mães escravizadas eram separadas de seus filhos para atuarem como amas de leite, pois se não levassem seus rebentos eram alugadas por um valor mais alto. Entretanto, mesmo quando havia tal possibilidade, não se eliminava a tensão, já que o bebê escravizado receberia menos alimento, atenção e cuidados43. Essa divisão de leite e cuidados constituía motivo de preocupação entre as famílias que alugavam uma ama.
Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, havia um intenso mercado de amas de leite. O mesmo ocorreu, em escalas diferenciadas, em outros centros urbanos do Império. Em vários desses locais, utilizou-se a imprensa tanto por aqueles que ofertavam o serviço como por quem demandava. Jornais publicavam diariamente anúncios de aluguel, compra e venda de amas, nestes frequentemente eram elencadas as qualidades almejadas, além de outras habilidades, sinalizando para a possibilidade de execução de mais tarefas além do aleitamento e cuidados da criança44.
O aleitamento executado por uma ama escravizada pode ser compreendido dentro de um processo de comercialização e comodificação daquela mulher e de seu leite45. A exploração desse trabalho desempenhado pelas escravizadas era consequência de uma demanda das mulheres livres da sociedade que, por motivos diversos, não amamentavam seus filhos. Desta maneira, as mães da classe senhorial criaram um tipo de trabalho escravo qualificado exclusivo para si, impedindo as escravizadas de desempenharem sua maternidade de maneira plena.
Com relação ao trabalho reprodutivo, gravidez e parto de mulheres escravizadas são outros aspectos da maternidade abordados pelas investigações historiográficos46. Jornadas de trabalho extenuantes, alimentação deficiente e a ausência ou o diminuto repouso durante a gestação acarretavam abortos espontâneos entre as cativas. A violência obstétrica marcava os partos, dada a propalada assertiva da maior resistência à dor47 das pessoas negras, que também tinha como consequência os puerpérios caracterizados pelo rápido retorno ao trabalho pesado48. A formação ginecológica e obstétrica no Brasil foi impactada pelas teorias científicas e cientificizantes que racializavam o corpo feminino, propiciando intervenções médicas invasivas e agressivas, como as realizadas em mulheres negras na Enfermaria de Partos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro49.
Após a lei de 1831, que proibiu o comércio transatlântico de cativos, manuais de fazendeiros foram escritos no intuito de orientar proprietários com relação aos tratamentos dispensados aos escravizados, visando maior lucro sobre o trabalho destes. Atenção especial foi dada às mulheres, sua gestação, parto e sobrevivência do bebê, uma vez que a permanência da escravidão dependia de suas capacidades reprodutivas50. Contudo, na prática a vida daquelas mulheres continuou a ser marcada pela morte dos filhos, seja no nascimento ou precocemente. Eram separadas de seus bebês para retornarem às atividades laborais habituais o mais rápido possível ou para trabalharem como nutrizes de crianças de outras mães, situações que negavam às escravizadas o exercício integral de sua maternidade51.
Considerações finais
Refletir sobre o gênero na escravidão traz para o cerne a discussão acerca do duplo papel da mulher escravizada como produtora e reprodutora de trabalho e riquezas dentro do sistema escravista. O corpo da escravizada e sua capacidade reprodutiva são centrais para a própria instituição da escravidão. Os estudos histográficos supracitados, e outros tantos, mostram exatamente isso. O que se pretendeu nesse artigo foi apresentar, de maneira sucinta, o estado da arte das pesquisas que analisaram trabalho, maternidade e escravidão no Brasil oitocentista, indicando quais os principais temas de um campo de estudo que ainda tem muito a ser investigado.
Fonte
-
BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871 1871. Disponível em: <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm >. Acesso:10 out. 2024.
» http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm
Bibliografia
- ABREU, Martha Campos. Slave mothers and freed childrens: emancipation and female space in debates on the free womb law, 1871. Journal of Latin American Studies, Cambridge, v. 28, p. 567-580, 1996.
- ARIZA, Marília B. A. O longo caminho: usos da Lei do Ventre Livre por mães libertas (São Paulo, década de 1880). In: CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.). Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: Eduff, 2022, p. 333-363.
- ARIZA, Marília B. A. Mães infames, filhos venturosos: trabalho, pobreza, escravidão e emancipação no cotidiano de São Paulo (século XIX). São Paulo: Alameda, 2020.
- ARIZA, Marília B. A. O ofício da liberdade: trabalhadores libertandos em São Paulo e Campinas (1830-1888). São Paulo: Alameda, 2014.
- ARIZA, Marília B. A. Ventres, seios, coração: maternidade e infância em disputas simbólicas em torno da Lei do Ventre Livre (1870-1880). In: MACHADO, Maria Helena P. T.; et. al. (org.). Ventres livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp, 2021, p. 19-40.
- BERTIN, Enidelce. Alforrias na São Paulo do século XIX: liberdade e dominação. São Paulo: Humanitas, 2004.
- BROWN, Kathleen M. Good wives, nasty wenches, and anxious patriarchs: gender, race, and power in colonial Virginia. Chapel Hill and London: University of North Carolina Press, 1996.
- CAMP, Stephanie M. H. Closer do freedom: enslave women and everday resistance in plantation South. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.
-
CANDIOTI, Magdalena. Free womb law, legal asynchronies, and migrations: suing for an enslaved woman’s child in nineteenth-century Río de la Plata. The Americas, v. 77, n. 1, p. 73-99, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/tam.2019.109
» https://doi.org/10.1017/tam.2019.109 - CARNEIRO, Maria E. R. Procura-se uma “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). Tese (Doutorado em História). Instituto de Ciências Humanas, Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
- CARULA, Karoline. A educação feminina em A Mãi de Familia In: CARULA, Karoline; ENGEL, Magali Gouveia; CORRÊA, Maria Letícia. (org.). Os intelectuais e a nação: educação, saúde e a construção de um Brasil moderno Rio de Janeiro: Contra Capa, 2013, p. 85-112.
- CARULA, Karoline. Darwinismo, raça e gênero: projetos modernizadores para a nação em conferências e cursos públicos (Rio de Janeiro, 1870-1889). Campinas: Unicamp, 2016.
-
CARULA, Karoline. Perigosas amas de leite: aleitamento materno, ciência e escravidão em A Mãi de Familia História, Ciências, Saúde - Manguinhos, v. 19, p. 197-214, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-59702012000500011
» https://doi.org/10.1590/S0104-59702012000500011 - CARULA, Karoline. Maternidade escrava e amas de leite na imprensa do Rio de Janeiro do Oitocentos. In: CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.). Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: EdUFF, 2022a, p. 145-172.
- CARULA, Karoline. Nutrindo enjeitados: amas de leite escravizadas na Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, segunda metade do século XIX. Revista de História Comparada, v. 16, p. 86-117, 2022b.
- CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.) Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: Eduff, 2022.
- CARULA, Karoline; FREIRE, Jonis (org.). Raça, gênero e classe: trabalhadores(as) livres e escravizados(as) no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2020.
- COLLINS, Jane-Marie. Emancipatory narratives & enslaved motherhood: Bahia, Brazil, 1830-1888. Liverpool: Liverpool University Press, 2023.
- COLLINS, Patricia Hill. Bem mais que ideias: a interseccionalidade como teoria social crítica. São Paulo: Boitempo, 2022.
- COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade São Paulo: Boitempo , 2021.
- COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Campinas: Unicamp , 2018.
- COWLING, Camillia; MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo; PATON, Diana; WEST, Emily(ed.). Motherhood, childlessness and the care of children in Atlantic slave societies Routledge: New York, 2020.
- DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe Boitempo Editorial, 2016.
- CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Criadas para servir: domesticidade, intimidade e retribuição. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da; GOMES, Flávio (org.). Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 377-418.
- DIAS, Maria Odila da Silva. Nas fímbrias da escravidão urbana: negras de tabuleiro e de ganho. Estudos Econômicos, v. 15, nº esp., p. 89-109, 1985.
- DIAS, Maria Odila da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX São Paulo: Brasiliense, 1984.
- FARIAS, Juliana Barreto. Mercados Minas: africanos ocidentais na Praça do Mercado do Rio de Janeiro (1830 - 1890). Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/ Casa Civil/ Arquivo Geral da Cidade do Rio, 2015.
- FREIRE, Jonis. “Que [...] continue sob a vigilância de sua mãe a receber os carinhos”: debates e impactos da Lei do Ventre Livre nas relações familiares. In: MACHADO, Maria Helena P. T.; et. al. (Org.). Ventres livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp, 2021, p. 319-339.
- GAUTIER, Arlete. Souers de solitude: femme et esclavage aux Antilles du XVII au XIX siècle. Renne: Presses Universitaires de Renne, 2010.
- GEREMIAS, Patrícia Ramos. “Como se fosse da família”: arranjos formais e informais de criação e trabalho de menores pobres na cidade do Rio de Janeiro (1860-1910). Tese (Doutorado em História Social). Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 2019.
- GEREMIAS, P. R. Ser “ingênuo” em Desterro/SC: a lei de 1871, o vínculo tutelar e a luta pela manutenção dos laços familiares das populações de origem africana (1871-1889). Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Ciência Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.
- GOMES, Flávio dos S.; XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B. (Orgs.). Mulheres negras no Brasil escravista e do pós-emancipação São Paulo: Selo Negro, 2012.
- GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos Editorial: Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- GRINBERG, Keila. Liberata - a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no século XIX. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994.
-
GUZMÁN, Florencia. ¡Madres negras tenían que ser! Maternidad, emancipación y trabajo en tiempos de cambios y transformaciones (Buenos Aires, 1800-1830). Tempo, Niterói, v. 24, n. 3, p. 451-473, set./dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/TEM-1980-542X2018v240303
» https://doi.org/10.1590/TEM-1980-542X2018v240303 - GUZMÁN, Florencia. “Precisa-se de ama de leite para comprar ou conchavar”. Trabalho e racializações de gênero no contexto da abolição gradual (Buenos Aires 1800-1830). In: CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.). Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: Eduff , 2022, p. 113-144.
- JONES-ROGERS, Stephanie E. They were her property: white women as slave owners in the American South. New Haven & London: Yale University Press, 2019.
- MACHADO, Maria Helena P. T. Entre dois Beneditos: histórias de amas de leite no ocaso da escravidão. In: GOMES, Flávio dos S.; XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana B. (org.). Mulheres negras no Brasil escravista e do pós-emancipação São Paulo: Selo Negro , 2012, p. 199-213.
- MACHADO, Maria Helena P. T. Mulher, corpo e maternidade. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flavio dos Santos (org.). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 334-340.
- MACHADO, Maria Helena P. T. O problema do osso ilíaco: anatomia comparada e teorias raciais na obstetrícia da Enfermaria de Partos do Rio de Janeiro (década de 1880). In: CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.) Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: Eduff , 2022, p. 53-83.
- MACHADO, Maria Helena P. T.; ARIZA, Marília B. A. Escravas e libertas na cidade: experiências de trabalho, maternidade e emancipação em São Paulo (1870-1888). In: BARONE, Ana; RIOS, Flavia(org.). Negros nas cidades brasileiras (1890-1950) São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2018, p. 117-142.
- MACHADO, Maria Helena P. T.; CRUZ, Luciana Brito; VIANA, Iamara da Silva; GOMES, Flávio dos Santos(Org.). Ventres Livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp , 2021.
- MACHADO, Maria Helena P. T.; CARDOSO, Antonio Alexandre Isidio. Geminiana e seus filhos: escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2024.
- MARTINS, Bárbara C. R. Amas-de-leite e mercado de trabalho feminino: descortinando práticas e sujeitos (Rio de Janeiro, 1830-1890). Dissertação (Mestrado em História Comparada). Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- MORGAN, Jennifer L. Laboring women: reproduction and gender in New World slavery. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
-
MORGAN, Jennifer L. Partus sequitur ventrem: law, race, and reproduction in Colonial slavery. Small Axe, v. 55, n. 3, mar. 2018, p. 1-17. DOI: https://doi.org/10.1215/07990537-4378888
» https://doi.org/10.1215/07990537-4378888 - MORRISON, Karen Y. Cuba’s racial crucible: the sexual economy of social identities, 1750-2000. Bloomington: Indiana University Press, 2015.
- MUAZE, Mariana de A. F. Maternidade silenciada: amas de leite no Brasil escravista, século XIX. In: XAVIER, Regina C.; OSÓRIO, Helen(Org.). Do tráfico ao pós-abolição: trabalho compulsório e livre e a luta por direitos sociais no Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2018, p. 360-391.
- PAPALI, Maria Aparecida. Escravos, libertos e órfãos: a construção da liberdade em Taubaté (1871-1895). São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001.
-
PATON, Daiana. História das relações de gênero, história global e escravidão atlântica: sobre capitalismo racial e reprodução social. Afro-Ásia, n. 67, p. 583-633, 2023. DOI: https://doi.org/10.9771/aa.v0i67.55621
» https://doi.org/10.9771/aa.v0i67.55621 -
ROSA, Margarita. Filial freedoms, ambiguous wombs: Partus Sequitur Ventrem and the 1871 Brazilian free womb law. Slavery & Abolition, v. 41, n. 2, p. 377-394, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/0144039X.2019.1606518
» https://doi.org/10.1080/0144039X.2019.1606518 -
ROTH, Cassia. From free womb to criminalized woman: fertility control in Brazilian slavery and freedom. Slavery & Abolition, special issue, v. 38, n. 2, p. 269-286, 2017. DOI: https://doi.org/10.1080/0144039X.2017.1316965
» https://doi.org/10.1080/0144039X.2017.1316965 -
SANTOS, Martha S. “Slave mothers”, partus sequitur ventrem, and the naturalization of slave reproduction in nineteenth-century Brazil. Tempo, v. 22, n. 41. p. 467-487, set-dez. 2016. DOI: https://doi.org/10.20509/TEM-1980-542X2016v224106
» https://doi.org/10.20509/TEM-1980-542X2016v224106 - SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação e Realidade Porto Alegre: UFRGS, 1995.
- SILVA, Lúcia Helena Oliveira. Estratégias de mulheres escravizadas para obter alforrias e a pedagogia da liberdade. In: MACHADO, Maria Helena P. T.; et. al. (org.). Ventres livres? Gênero, maternidade e legislação. São Paulo: Editora Unesp , 2021, p. 449-466.
- SOUSA, Caroline. Parturs sequitur ventrem: reprodução e maternidade no estabelecimento da escravidão e abolição nas Américas até a primeira metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em História Social). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
- SOUSA, Ione Celeste J. de. “Porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios”: tutelas e soldadas de ingênuos na Bahia-1871-1899. In: MACHADO, Maria Helena P. T.; CASTILHO, Celso T. (orgs.). Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. São Paulo: Edusp, 2018, p. 189-210.
- SOUZA, Flávia Fernandes de. Criados, escravos, empregados o serviço doméstico e seus trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro (1850-1920) Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2019.
- TELLES, Lorena Féres da Silva. Bacias, fetos e pelvímetros: mulheres escravizadas e a violência obstétrica na Enfermaria de Partos no Rio de Janeiro (década de 1880). In: CARULA, Karoline; ARIZA, Marília B. A. (org.). Escravidão e maternidade no mundo atlântico: corpo, saúde, trabalho, família e liberdade nos séculos XVIII e XIX. Niterói: Eduff , 2022a, p. 85-109.
- TELLES, Lorena Féres da Silva. Libertas entre sobrados: mulheres negras e trabalho doméstico em São Paulo (1880-1920). São Paulo: Alameda , 2013.
-
TELLES, Lorena Féres da Silva. Pregnant slaves, workes in labour: amid docrirs and masters in a slaved-owning city (19th century Rio de Janeiro). Women’s History Review, v. 27, p. 924-938, 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/09612025.2017.1336844
» https://doi.org/10.1080/09612025.2017.1336844 - TELLES, Lorena Féres da Silva. Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (1830-1888). São Paulo: Editora da Unifesp, 2022b.
-
TELLES, Lorena Féres da Silva; PIMENTA, Tânia Salgado. Mulheres negras, parteiras e parturientes (Rio de Janeiro, 1810-1850). Revista Estudos Feministas, v. 32, n. 1, e98149, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9584-2024v32n198149
» https://doi.org/10.1590/1806-9584-2024v32n198149 - TURNER, Sasha. Contested bodies: pregnancy, childrearing, and slavery in Jamaica. Philadelphia: University of Penssylvania Press, 2017a.
-
TURNER, Sasha. The nameless and the forgotten: maternal grief, sacred protection, and the archive of slavery. Slavery & Abolition, v. 38, 2017b. DOI: https://doi.org/10.1080/0144039X.2017.1316962
» https://doi.org/10.1080/0144039X.2017.1316962 - URRUZOLA, Patrícia. Faces da liberdade tutelada: libertas e ingênuos na última década da escravidão (Rio de Janeiro, 1880-1890). Dissertação (Mestrado em História Social). Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
-
VIANA, Iamara da Silva. “Tríplice utilização” dos corpos negros femininos: gênero, raça, sevícias e escravidão - Rio de Janeiro, século XIX. Tempo, v. 29, n. 1, jan./abril 2023, p. 278-296. DOI: https://doi.org/10.1590/TEM-1980-542X2023v290104
» https://doi.org/10.1590/TEM-1980-542X2023v290104
-
1
Agradeço as discussões ocorridas no âmbito do projeto “Esclavos, trabajo racializado y sociedades post-esclavistas” (Proyecto PID2021-128935NB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER).
-
4
Carula, 2016.
-
5
Scott, 1995.
-
6
Carula, 2013; Carula, 2016.
-
7
Interseccionalidade é compreendida tanto como teoria social como “uma prática metodológica”. Collins, 2022, p. 177 e 209. Ver também: Collins, Bilge, 2021.
-
8
A importância para uma investigação que considere os diversos marcadores sociais conjuntamente foi assinalada por importantes pensadoras do feminismo negro, porém, ainda sem o termo interseccionalidade ter sido cunhado e teorizado, ver: Davis, 2016; Gonzalez, 2020.
-
9
Morgan, 2004; Gomes, Xavier, Farias, 2012; Cowling, Machado, Paton, West, 2020; Carula, Freire, 2020; Machado, Cruz, Viana, Gomes, 2021; Carula, Ariza, 2022.
-
10
Machado, 2018, p. 334-340. Conferir: Brown, 1996, cap. 4; Morgan, 2004; Paton, 2023.
-
11
Paton, 2023, p. 585.
-
12
Ibidem.
-
13
Santos, 2016; Morgan, 2018; Cowling, 2018; Sousa, 2021.
-
14
Sobre os debates acerca do ventre livre no Brasil e em outras sociedades escravistas atlânticas, por uma perspectiva do gênero, da raça e da liberdade, conferir: Cowling, 2018; Guzmán, 2018; Rosa, 2019; Machado, Cruz, Viana, Gomes, 2021; Ariza, 2022; Sousa, 2021; Candioti, 2020.
-
15
Machado, 2012; Carula, 2012, 2022b; Muaze, 2018; Ariza, 2020; Carula, Ariza, 2022; Telles, 2022b.
-
16
Machado, 2012; Turner, 2017b.
-
17
Camp, 2004; Gautier, 2010; Machado, 2012; Morrison, 2015; Roth, 2017; Turner, 2017a; Telles, 2022b.
-
18
Dias, 1984.
-
19
Para mencionar apenas alguns mais recentes, em 2022, a Revista de História Comparada publicou “Dos corpo negros: escravidão, raça e pós-abolição em perspectiva comparada”, organizado por Iamara da Silva Viana e Maria Helena P. T. Machado; em 2023, a Tempo lançou o “Reclamando a liberdade: mulheres em busca de emancipação em sociedades escravistas nas Américas (séculos XVIII e XIX), coordenado por Maria Helena P. T. Machado e Marília B. Ariza; já o dossiê “Gênero, saúde e maternidade: escravidão e pós-abolição no Mundo Atlântico”, de Lorena Féres da Silva Telles e Tânia Salgado Pimenta, saiu em 2024 pela Revista Estudos Feministas. Em 2017, Camillia Cowling, Maria Helena P. T. Machado, Diana Paton & Emily West organizaram dois dossiês, um na Slavery & Abolition (“Mothering Slaves: Motherhood, Childlessness and the Care of Children in Atlantic Slave Societies”) e outro na Women’s History Review (“Mothering slaves: motherhood, childlessness and the care of children in Atlantic slave societies”), com artigos sobre o Brasil.
-
20
Nos espaços urbanos, merecem destaque as escravizadas de ganho que trabalhavam como quitandeiras e conseguiam comprar sua alforria. Dias, 1985; Farias, 2015.
-
21
Machado, Ariza, 2018, p. 118.
-
22
Embora não empregue uma perspectiva de gênero, ao analisar a peleja de Liberata nos tribunais para conquistar sua liberdade e de seus filhos, Keila Grinberg evidencia o cotidiano da mulher escravizada, enfocando aspectos da maternidade e as perseguições sexuais sofridas. Grinberg, 1994.
-
23
Machado, Ariza, 2018, p. 137.
-
24
Cowling, 2018.
-
25
Collins, 2023.
-
26
Machado, Cardoso, 2024.
-
27
Bertin, 2004.
-
28
Para uma análise sobre contratos de prestação de serviços em Campinas e em São Paulo, ver: Ariza, 2014.
-
29
Machado, Ariza, 2018. Sobre a autonomia de trabalhadoras libertas na cidade de São Paulo, entre 1880 e 1920, conferir: Telles, 2013.
-
30
Urruzola, 2014; Geremias, 2019; Ariza, 2020.
-
31
Ariza, 2020.
-
32
Papali, 2001; Urruzola, 2014; Ariza, 2020; Sousa, 2018; Geremias, 2005, 2019.
-
33
Abreu, 1996; Geremias, 2005; Cowling, 2018; Santos, 2016; Roth, 2017; Rosa, 2019; Machado, Cruz, Viana, Gomes, 2021; Ariza, 2022.
-
34
Freire, 2021; Ariza, 2021.
-
35
Brasil, 1871.
-
36
Cowling, 2018; Ariza, 2020, 2021, 2022.
-
37
Cowling, 2018; Silva, 2021; Ariza, 2022.
-
38
Cunha, 2007, p. 379-380.
-
39
Souza, 2019. A maioria dos contratos de trabalho para o serviço doméstico em São Paulo e Campinas, entre 1830 e 1888, também envolvia mulheres. Ariza, 2014.
-
40
Souza, 2019; Telles, 2013.
-
41
Carneiro, 2006; Martins, 2006; Machado, 2012; Carula, 2012, 2022a, 2022b; Muaze, 2018; Telles, 2022b.
-
42
Morgan, 2004.
-
43
Machado, 2012; Telles, 2022b.
-
44
Carneiro, 2006; Martins, 2006; Carula, 2022a, 2022b; Telles, 2022b.
-
45
Jones-Rogers, 2019.
-
46
Telles, 2018, 2022a, 2022b; Machado, 2022; Telles, Pimenta, 2024.
-
47
Morgan, 2004; Telles, 2022a; 2022b; Machado, 2022.
-
48
Telles, 2022b.
-
49
Telles, 2022a; Machado, 2022.
-
50
Muaze, 2018; Telles, 2022b; Viana, 2023.
-
51
Machado, 2012; Muaze, 2018; Carula, 2022a, 2022b; Telles, 2022b.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
04 Nov 2024 -
Aceito
03 Dez 2024
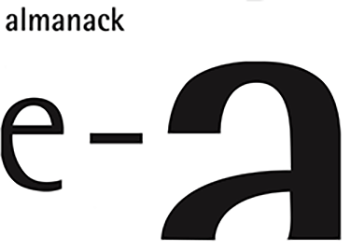
 MATERNIDADE E TRABALHO NA ESCRAVIDÃO - BRASIL, SÉCULO XIX
MATERNIDADE E TRABALHO NA ESCRAVIDÃO - BRASIL, SÉCULO XIX