Resumo
Este artigo se dedica a analisar a formação dos correios do Brasil entre 1820 e 1829. Examinam-se os usos políticos dos serviços postais por parte da Intendência Geral da Polícia de Portugal, das Cortes de Lisboa, da Corte do Rio de Janeiro e de Juntas de Governo Provisório que, somados aos significados atribuídos aos correios pela imprensa, pela Assembleia Constituinte, pela Carta Constitucional, pelo Parlamento, por governos provinciais e por acordos diplomáticos internacionais, sinalizam como o controle das comunicações integrou as disputas por soberania territorial desse período. Desse modo, caracteriza-se uma experiência política das comunicações que demonstra a transformação dos correios coloniais da América portuguesa, disputados por governos concorrentes durante o aprofundamento da crise da monarquia, nos correios nacionais do Império do Brasil, inseridos em um sistema internacional. Com base em ofícios, ordens, portarias, relatórios, decretos, decisões, leis, projetos, debates parlamentares e jornais, argumenta-se que, na condição de uma estrutura comunicacional, a rede postal serviu à articulação de múltiplas escalas e dimensões dos corpos políticos aos quais esteve associada e que, na indefinição desses, sua geografia foi objeto de concorrência entre os atores políticos.
Palavras-chave:
Correios do Brasil; Politização das comunicações; Independência do Brasil; Integração territorial; Hipólito José da Costa
Abstract
This article is dedicated to analyzing the formation of the Brazilian postal service between 1820 and 1829. It examines the political uses of postal services by the General Intendency of the Police of Portugal, the Courts of Lisbon, the Court of Rio de Janeiro and Provisional Government that, added to the meanings attributed to the mail by the press, the Constituent Assembly, the Constitution, the Parliament, provincial governments and international diplomatic agreements, points to how the control of communications was part of the dispute over territorial sovereignty during this period. In this way, a political communication experience is characterized and demonstrates the transformation of the colonial post offices of Portuguese America, disputed by competing governments during the deepening crisis of the monarchy, into the national post offices of the Empire of Brazil inserted in an international system. Based on official letters, orders, reports, decrees, laws, projects, parliamentary debates and newspapers, it is argued that, as a communications structure, the postal network served to articulate multiple scales and dimensions of the political bodies with which it was associated and that, due to their lack of definition, its geography was the subject of competition between political actors.
Keywords:
Brazilian Postal System; Politicization of communications; Independence of Brazil; Territorial integration; Hipólito José da Costa
1. Introdução: comunicações políticas e a política das comunicações
Em 1821, referindo-se aos acontecimentos desencadeados após a transferência do centro da monarquia portuguesa para a América, Luís Gonçalves dos Santos, conhecido como Padre Perereca, escreveu que a “origem da civilização” se encontra na “mútua comunicação dos povos”. Com ela “aumenta-se a indústria, aperfeiçoam-se as artes, difundem-se os conhecimentos científicos, estreitam-se os laços da sociedade, e consolida-se o corpo da nação”. Por essa razão, ele considerou importante celebrar o fato de D. João ter estabelecido “correios entre as diversas capitanias deste vasto continente entre si, e com esta Corte”, produzindo uma aceleração nas comunicações4.
Poucos anos depois, a experiência política da década de 1820 forneceria novos parâmetros para interpretar o papel das comunicações e sua relação com a sociedade e o Estado. Em julho de 1824, um periódico que circulava no Brasil divulgou a seguinte opinião de um leitor:
Antigamente, para revolucionar um País era necessário muito dinheiro e trabalho, agora meia dúzia de folhas de papel, bem sediciosas, e cheias de calúnias e impiedades fazem todo o negócio em qualquer Província que o Correio as levar.5
Para alguns contemporâneos, como o autor desse comentário, algo havia mudado nas condições de realização de uma revolução. “Revolucionar um país” havia se tornado uma empreitada menos trabalhosa e onerosa em função do crescimento da imprensa e dos correios.
Da “civilização” à “revolução”, as formas de conceber o papel dos correios para o Estado e para a nação passaram por uma profunda transformação. Este artigo se dedica a analisar o processo de politização dos correios, que, mediante os conflitos que culminaram na independência do Brasil, deixaram de ser uma rede de comunicação a articular partes constitutivas do império colonial português e passaram a compor o conjunto de ferramentas voltado à integração territorial do Império do Brasil. Essa passagem, que marca a erosão da natureza colonial dos correios, foi cravejada de atitudes políticas plurais, que apontavam para projetos de futuro divergentes.
A despeito da incompatibilidade entre as expectativas de futuro que vicejavam nesse contexto, o controle das comunicações se mostrou um elemento fundamental de muitas delas. De diferentes maneiras, os correios mediavam a comunicação entre indivíduos, grupos e instituições; e, com frequência, projetos políticos encontravam no controle das comunicações postais um meio para, de acordo com seus objetivos, preservar, transformar, criar ou destruir relações políticas. Nos conturbados anos de 1820, durante os quais as bases para o exercício legítimo de governo estavam se transformando, confrontar ou proteger uma soberania constituída, bem como conceber soberanias alternativas, envolveu o conflito pelo controle dos correios.
Após quatro anos de confrontos, a edificação do Império do Brasil como uma nova monarquia constitucional - composta por nova nação e identidade política -, atingiu um ponto de virada com a outorga da Constituição e o fim das guerras de independência. De parte a parte, apesar da continuidade de vários conflitos, como a Confederação do Equador, o ano de 1824 marcou o início de uma nova conjuntura para o Estado e de uma nova fase de sua relação com o sistema de correios. Embora projetos alternativos de Estado e de nação continuassem a existir nos anos seguintes, doravante, diversos governos provinciais retomaram reivindicações de aperfeiçoamento dos correios, e o governo central, apoiado sobre novas bases, reiniciou uma política de expansão da malha postal. As transformações da estrutura postal não estavam se pautando pela urgência das guerras, mas, sim, pelas demandas de um Estado em processo de formação.
O horizonte que guiava boa parte dessas demandas apontava para a necessidade comunicacional dos novos espaços de representação política. Paulatinamente, as expectativas e os usos atrelados aos correios se distanciaram da lógica dos anos anteriores, pautada por governos em disputa pela soberania territorial, e se aproximaram da dinâmica de consolidação de um Estado nacional dentro de um sistema internacional. Em decorrência do crescimento da importância dos serviços postais para o Império do Brasil, o Parlamento aprovou sua reforma em 1829.
Nas páginas seguintes, com base em ofícios, ordens, portarias, relatórios, decretos, decisões, leis, projetos, debates parlamentares e jornais, vamos examinar como os correios foram instrumentos da Intendência Geral da Polícia de Portugal, das Cortes de Lisboa, da Corte do Rio de Janeiro, de Juntas de Governo Provisório. Além disso, veremos como foram discutidos nos periódicos, como se deu sua integração nas discussões da Assembleia Constituinte de 1823 e de que forma apareceram na Carta Constitucional de 1824, nas discussões do Parlamento nos anos seguintes e em assembleias provinciais e acordos diplomáticos internacionais.
Analisando os usos políticos e as expectativas que determinados grupos elaboraram em relação aos correios, foi possível reconstituir os traços de uma experiência política das comunicações entremeada em várias escalas do processo de crise da monarquia portuguesa e independência do Brasil. Assim, parte-se da premissa de que os correios são resultado de uma formação social do espaço que visa aperfeiçoar conexões regulares entre indivíduos, coletividades e instituições fisicamente distantes. Integrando um sistema de comunicação diversificado, eles podem servir aos processos de territorialização, e, nessa condição, sua estrutura pode condicionar a espacialidade de processos históricos6.
2. O Constitucionalismo português e o controle das comunicações (1820-1822)
Em 1820, o mundo ibero-americano encontrava-se em uma nova conjuntura. No limiar do Oitocentos, os domínios coloniais de seus impérios estavam cada vez mais fragilizados, e com frequência Grã-Bretanha e França ofereciam razões para que os governos de Espanha e Portugal temessem perder suas possessões americanas7. Junto à intensificação da concorrência imperial, os fundamentos da soberania dinástica amparada na cultura política do Antigo Regime estavam sendo desafiados pela nova linguagem política do liberalismo. Assentando-se sobre princípios incompatíveis com o Absolutismo, os postulados liberais advogavam que a legitimidade do exercício de governo do Estado deveria estar respaldada, em alguma dimensão representativa, pelas nações, identidades políticas coletivas que estavam passando por profundas transformações8.
Na Europa, a derrota da França napoleônica foi sucedida por um esforço de restauração antiliberal. Na América espanhola, o vácuo de poder criado durante a guerra contra a França foi respondido com a formação de várias juntas de governo provisório que deterioraram as condições de coesão do império espanhol. Em Portugal, após a desocupação francesa, súditos passaram a manifestar o desejo de retorno da Corte à Europa e seu descontentamento com as autoridades britânicas no governo peninsular. Na América portuguesa, ocorreram profundas transformações econômicas, políticas e sociais com as reformas joaninas a partir de 18089.
Em Portugal, os acontecimentos de 1820 inauguraram uma nova fase da crise da monarquia. Em 24 de agosto, um grupo formado por comerciantes, militares, funcionários estatais, profissionais liberais, aristocratas, magistrados e clérigos, reunido na cidade do Porto, deu início a um movimento político em defesa da elaboração de uma Carta Constitucional. Seu maior objetivo consistia em redefinir os papéis políticos das partes constitutivas do império. Em menos de um mês, em 15 de setembro, o movimento se espraiou por Portugal, formou alianças em Lisboa, submeteu o governo regencial e convocou cortes para redigir uma constituição.
Antes de capitular para o movimento liberal, a Regência acompanhava o processo análogo pelo qual passava a Espanha no início daquele ano. Em janeiro de 1820, o governo de Portugal intensificou os mecanismos de vigilância sobre a população, temeroso de que a crise do império vizinho contaminasse seu equilíbrio interno. A Regência reforçou postos militares pela fronteira, estimulou a espionagem, proibiu passaportes para regiões de contato, obstou despachos nas alfândegas, interditou a circulação de livros, folhetos e periódicos e interrompeu a circulação dos correios com a Espanha, suspeitando de que sua articulação poderia fomentar a rebelião entre os portugueses10.
Dois dias após a eclosão do movimento na cidade do Porto, a Intendência Geral da Polícia dirigiu ao corregedor da Comarca de Vila Real um ofício indicando que: “Como é do nosso dever não ter comunicação com as terras que estão insurgidas, e como o Porto é a cabeça da insurreição, deve Vossa Senhoria fazer suspender o Correio que vai para aquela cidade”. Porém, continuou o ofício, como “é necessário que continue a haver correspondência com a capital”, “Vossa Senhoria ordene ao Correio assistente de Vila Real [que] estabeleça um Correio para a Cidade de Viseu, pelo qual remeterá as Bolsas [de correspondência] que são pertencentes a Lisboa e Província de Estremadura”11. O plano consistia em reconfigurar a geografia postal de modo a bloquear a comunicação com a cidade sublevada, mas preservá-la com as cidades ao redor. Os esforços da Polícia não foram suficientes, pois em outubro um novo governo havia se firmado em Lisboa.
Do outro lado do Atlântico, na América portuguesa, entre o final de 1820 e o início de 1821, a recepção das notícias de Portugal, e a convocação de deputados para elaborar uma Constituição, teve efeitos muito distintos em cada capitania. A formação de Juntas de Governo Provisório, substituindo muitos governadores, criou um “foco de tensão no equacionamento dos poderes” entre “autoridades irreconciliáveis” que fragmentavam os espaços de autoridade política em uma “triangulação” entre duas Cortes e os poderes regionais12.
O brigue correio Treze de Maio arqueou velas no Rio de Janeiro em 20 de novembro de 1820 e chegou a Lisboa em 13 de janeiro do ano seguinte. O conde dos Arcos havia ordenado ao capitão que permanecesse em Portugal “seis dias, ou dos que o Governo daquele Reino determinar”. Nas 7ª e 9ª sessões das Cortes, a saída do Treze de Maio foi prorrogada para que os deputados ganhassem mais tempo para comunicar “tudo quanto se tem feito até o momento próximo ao da partida do Correio Marítimo para o Rio de Janeiro”.
Poucos dias depois, na 11ª sessão, uma comissão que havia sido formada com o propósito de avaliar os serviços postais do Reino de Portugal propôs “que fossem livres de porte os Diários de Cortes que se remetessem para as províncias, para mais fácil circulação”. Ainda em março, na 20ª sessão, o quinto artigo das Bases da Carta Constitucional aprovou a declaração “sobre não serem abertas as cartas do Correio e este ser responsável”. Durante a 50ª sessão, outro projeto propôs que todos os papéis oficiais do Estado deveriam circular pelos correios. No mês de abril, o Correio Braziliense noticiou o Decreto para as Bases da Constituição, aprovado em 10 de março. O jornal, que acompanhava de perto o desenrolar desses eventos, informou que, na primeira seção dos Direitos Individuais do Cidadão, o 15º item estabelecia que “O segredo das cartas será inviolável. A administração do Correio ficará rigorosamente responsável por qualquer infração desta lei”13.
No intervalo de aproximadamente um ano, os correios deixaram de ser uma ferramenta de contenção do constitucionalismo em Portugal, tornaram-se um dos esteios da comunicação oficial entre autoridades em disputa e, finalmente, passaram a ser eles próprios um tema das novas bases constitucionais liberais. Tanto o “segredo das cartas” quanto a isenção de taxas para circulação dos diários, ao se tornarem objetos das Cortes, faziam com que os correios integrassem a conjuntura mais ampla de construção de um novo pacto político da monarquia portuguesa.
Em um contexto de profunda crise, com grupos comprometidos com projetos políticos concorrentes, as Cortes de Lisboa não foram capazes de eliminar uma prática há muito tempo arraigada. Na 105ª sessão, um dos deputados encaminhou uma moção denunciando “os abusos e prevaricações que se continuam a praticar no Correio, abrindo as cartas” remetidas do Rio de Janeiro e da Espanha. Ele sugeriu que se “fizesse uma lei a este respeito, pois estes abusos eram uma infração das Bases e deviam ser punidos rigorosamente”. Na Administração do Correio, acrescentou, apesar da determinação das Bases Constitucionais: “se continuam a abrir as cartas”, o que “não pode porvir senão das intrigas do partido anticonstitucional, que, tendo ainda dentre os seus muitos empregados, acha meios de praticar essas traças para indagar do que se passa e tirar disso vantagem”. A solução definitiva só viria quando “o caráter dos empregados” fosse “conforme aos princípios constitucionais”14.
Na medida em que os correios se converteram em uma das arenas de disputa, eles se politizaram e se tornaram um fator da própria luta política. Mas à medida que os deputados legislavam sobre a vida social dos portugueses, o sistema postal também se tornou um objeto da nova cultura política, compondo a criação dos direitos individuais e da cidadania. Com a aprovação da isenção de taxas sobre o transporte dos diários das Cortes, a rede postal se tornava mais uma das ferramentas de promoção do constitucionalismo, pois, por meio dela, as decisões dos representantes da nação portuguesa poderiam chegar a muitos daqueles cujo destino estava vinculado aos trabalhos dos deputados, retroalimentando, assim, o próprio espaço público de debate político.
A concepção de que a rede postal estava diretamente vinculada ao desenrolar dos acontecimentos políticos não era de exclusividade dos deputados. Em agosto de 1821, o Semanário Cívico, um dos periódicos da Bahia, registrou o descontentamento de setores da população com a falta de correios públicos. A demanda era por correios terrestres e marítimos que conectassem a Bahia a todas as províncias com as quais esta não tinha relações comerciais15. A preocupação desses portugueses era de que “tudo nos impossibilita para sabermos diretamente do estado político de algumas Províncias”, cujo conhecimento, naquele momento, se dava “por vias indiretas e inseridas em algumas cartas, que tratando de objetos particulares, ou nos não dão uma notícia circunstanciada da opinião pública, ou são muito parciais que nos não podem instruir”16.
Essa demanda por um aperfeiçoamento da rede postal estava sendo alimentada pelo aprofundamento das incertezas em relação ao futuro que a crise da monarquia portuguesa provocava. Outra faceta desse mesmo fenômeno pode ser percebida na crescente demanda por periódicos, que não apenas proliferaram após a suspensão da censura prévia em 1821, como também foram materialmente modificados para se adequar ao ritmo acelerado dos eventos políticos, como foi o caso da Gazeta do Rio de Janeiro. Em maio, a Gazeta informou seus leitores que, “Tendo sucessivamente crescido a afluência de notícias, e desejando dar a maior latitude possível a esta folha”, alterou seu formato: a partir de agosto, o jornal passaria de dois para três volumes semanais, e os números extraordinários se tornariam mais frequentes “para não demorarmos o conhecimento” dos trabalhos das Cortes de Lisboa17.
Pouco antes do novo formato da Gazeta vir a público, a capilaridade dos correios do Rio de Janeiro foi expandida com a inauguração do serviço de pequena posta de João Batista Bonneile. Aos sábados e às quartas-feiras, bolsas de correspondência eram conduzidas da capital para a vila de Itaguaí, Real Fazenda de Santa Cruz, vilas e povoações do trajeto. Pouco depois, em novembro, Bonneile ampliou o serviço para a Ilha Grande, com malotes saindo às terças e sextas-feiras18. Em outra província, contudo, a geografia postal seria motivo de conflito entre autoridades.
Goiás estava dividida em duas comarcas, a do sul, com sede em Vila Boa, e a do norte, em São João da Palma. No mês de setembro, alguns habitantes do norte manifestaram a vontade de parte do “Povo de Goiás” seguir o exemplo de “todo o Brasil”, que se encontrava com muitos “Governos Provisórios”, mas o “Governador e Capitão General os preveniu”. O governador ordenou que o correio fosse “conduzido pelas Ordenanças”, que as cartas fossem “somente distribuídas na Cidade de Goiás” e que a conexão postal direta com o Pará fosse interrompida, sendo substituída por uma rota com escala no Rio de Janeiro. Assim, o habitante de São João da Palma “fica inabilitado de saber, e de poder tirar as cartas que lhe vem, ou as tira a tempo que tem perdido a ocasião dos interesses”. Os moradores da comarca norte acusavam o governador de querer “haver comunicação desta Província só por via das mãos dele” para “abrir as cartas que lhe parecer”19.
Dois meses depois, no mês de novembro, do outro lado da fronteira de Goiás, a Junta da Bahia anunciou sua recusa em estabelecer uma conexão postal com São João da Palma pelo Rio de Cantos e Vila do Urubu20. A geometria das alianças políticas estava se projetando sobre a morfologia dos correios. Segundo o Governador de Armas de Pernambuco, indicado pelas Cortes de Lisboa, a chegada do correio marítimo naquela província trazendo as notícias dos decretos de setembro e outubro exaltou os ânimos da população21. Ao sul do continente, em 24 de janeiro de 1822, o gabinete de D. Pedro criou um correio entre a Corte e o governo militar de Ilha Grande sob a pressão de conflitos intermitentes22. As Juntas de Governo de Minas Gerais e São Paulo criaram uma linha postal que conectava suas capitais passando pelo registro do rio Jaguari, pela vila de Atibaia e por São João d’El-Rei23. Internamente, a regularidade dos correios de Vila Rica com Santa Bárbara, Itambé, Conceição e Vila do Príncipe, e desta última com Tejuco e Minas Novas, foi aperfeiçoada24. Em São Paulo, a Fazenda aprovou o projeto de incorporação de nove vilas comerciais na rota postal com o Rio de Janeiro25.
Em fevereiro de 1822, enquanto as comunicações postais entre as províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo estavam sendo expandidas, e sua capilaridade interna, ampliada, o governo de D. Pedro proibiu o desembarque de tropas portuguesas na costa do Brasil, conduzindo a disputa pelo controle das comunicações a um patamar atlântico. Do outro lado do Atlântico, as Cortes de Lisboa estavam buscando criar formas de conexão postal com as províncias do nordeste e do norte do Reino do Brasil, onde contavam com o apoio de boa parte dos governos provisórios.
No mês de junho, a Repartição do Correio Geral de Portugal finalizou um projeto voltado à criação de um sistema de remessa de leis e decretos para o ultramar. Argumentava-se que:
Quando o Corpo Legislativo da Nação faz uma lei, é sempre fundado no bem geral que ela deve produzir aos povos, e o interesse destes reclama não só a sua rápida e efetiva promulgação; mas também que os seus saudáveis efeitos se difundam e cheguem prontamente às mais remotas povoações do Estado.
Porém, a mente do Legislador, e os desejos do Governo seriam sempre iludidos se não se procurasse um método seguro e fácil de generalizar e promulgar a Legislação, fazendo responsáveis as Autoridades locais pela sua efetiva promulgação e execução, estabelecendo-se a esse fim uma superior fiscalização.
Destes princípios gerais se deduz a necessidade de estabelecer um método, que facilitando a remessa dos exemplos das Leis e ordens às Autoridades e Câmaras do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, torne efetiva a sua promulgação, execução e conservação em todos os Juízos e Concelhos.26
Esta passagem aponta para a reformulação, em nova linguagem política, de uma antiga preocupação dos governos de corpos políticos extensos. Assim, os impérios ou governos “de papel”27 deram lugar aos Estados constitucionais de papel, cuja eficácia dos atos do Poder Legislativo está parcialmente amparada em infraestruturas de comunicação. O projeto das Cortes incumbiu os Correios do Reino de Portugal de expedir a “cada um dos Administradores dos Correios Ultramarinos” os “exemplares das Leis, ou Decretos, que se forem promulgando” em igual “número de Autoridades e Câmaras da respectiva Província” e daquelas que, por meio desta, recebem essas correspondências “gratuitamente”. Às Juntas de Governo caberia listar, com a ajuda dos ouvidores de comarca, todas as autoridades destinatárias das leis para “organizar com toda a exação um sistema geral sobre este objeto”. Em 8 de junho, as Cortes determinaram a criação de correios mensais entre Lisboa, Cabo Verde, Maranhão, Ceará e Pará28.
No Rio de Janeiro, o governo de D. Pedro determinou em maio que “qualquer lei de Portugal” referente ao Brasil deveria depender do seu aval para ser cumprida29. No início de junho, o príncipe regente convocou uma assembleia constituinte no Brasil para constituir uma esfera legislativa e um processo constituinte autônomos. A disputa jurisdicional entre as duas Cortes criava cada vez mais fissuras e contradições na soberania territorial e, em suas rachaduras, diversos projetos políticos de autoridades locais reduziam as condições de preservação da monarquia portuguesa. Em várias escalas geográficas, a disputa pelo controle das comunicações postais constituiu mais um foco de tensão na fragmentação dos espaços de autoridade, esgarçados na dinâmica triangular entre as duas Cortes e os poderes regionais: internamente às províncias (como no caso de Goiás), entre províncias diferentes (caso da Bahia com Goiás) e também em escala continental e transatlântica.
No final de julho de 1822, chegou a São Luís do Maranhão a escuna D. Maria da Glória, que havia saído do Rio de Janeiro transportando para Câmaras municipais a convocatória de procuradores-gerais incumbidos de auxiliar na implementação de uma Constituição no Brasil. A reação da Junta do Maranhão foi a seguinte:
julgara dever inibir ao Administrador do Correio a sua entrega, como com efeito inibiu enquanto a Junta lhe não ordenasse o contrário; e parecendo-nos que em tempos tais convinha ao bem da Província estarmos no alcance do conteúdo destas Cartas, mandamos expedir ordem ao dito Administrador para que as entregasse na Secretaria do Governo, onde se lhe daria ressalva para sua guarda [...] assentamos unanimemente que a execução do Decreto se opunha diametralmente não só aos juramentos de fidelidade, e obediência prestados espontaneamente pela Província às Cortes de Portugal, e a sua Majestade, como também ao voto sincero, firme e geral dos Habitantes da Província; e que a entrega das Cartas às Câmaras poderia abrir caminho unicamente a promover-se discursos mui pouco plausíveis nesta época em que toda a cautela é sempre pouca para manter a paz, e fidelidade que domina o coração dos Povos que governamos; e nestes termos resolvemos que se respondesse a Sua Alteza Real com os motivos que nos embaraçavam, e procediam enquanto não tivesse essa Junta positivas ordens das Cortes, e de Sua Majestade a este respeito em vista das participações que íamos a dirigir; e mandamos pôr em guarda tanto as Cartas das Câmaras agora recebidas, como que ordenamos ao Administrador do Correio [que] não entregasse outra alguma vinda daquela Província [do Rio de Janeiro] para qualquer Autoridade desta sem conhecimento e ordem desta Junta.30
Por fidelidade às Cortes de Lisboa e em respeito ao voto dos cidadãos da província, a Junta de São Luís, ciosa em evitar discursos “pouco plausíveis” em uma época que exigia extrema cautela para preservar a paz, determinou a interrupção da comunicação postal entre o Rio de Janeiro e o Maranhão. As Juntas do Piauí, Pará e Alagoas a apoiaram enquanto aguardavam a posição de Pernambuco. As Juntas do Ceará e do Pará também buscaram interceptar impressos e correspondências favoráveis ao Rio de Janeiro, pois receavam que este assumisse, perante as autoridades municipais, o papel de um “centro de poder alternativo em plena operação”31.
Na conjuntura de aprofundamento da crise da monarquia portuguesa, a geografia postal se tornou cada vez mais um elemento deflagrador de conflitos entre as autoridades que disputavam a soberania territorial. Com maior ou menor ênfase, essas autoridades reinventaram a relação entre o exercício do governo e a infraestrutura comunicacional que conectava várias escalas daquilo que ainda era o império português.
3. Guerras de independência, guerras de comunicação (1822-1824)
Em 1º de agosto de 1822, D. Pedro decretou que qualquer tropa portuguesa, ou de outra nação, que desembarcasse no Brasil sem o seu consentimento seria considerada inimiga; no dia 6, publicou um manifesto clamando reconhecimento internacional de seu governo; dias depois, enviou representantes para Londres, Paris, Washington e Viena; em 30 de dezembro, autorizou o armamento de corsários para combater o pavilhão português, orientando-os a atacar, sempre que possível, os correios de Portugal32. Pouco depois, em 13 de janeiro de 1823, José Bonifácio ordenou que o administrador do correio do Rio de Janeiro enviasse ao ministério dos Negócios Estrangeiros “todas as cartas e papéis que se lançarem no Correio para Buenos Aires”, receoso com o desfecho dos conflitos envolvendo a recém incorporada Província Cisplatina33.
No plano interno, o governo de D. Pedro buscava assegurar as condições necessárias à construção de sua soberania. No final de janeiro de 1823, o periódico Império do Brasil informou que a guerra contra os portugueses na Bahia exigiu a formação de uma legião de tropas ligeiras no Recôncavo, de uma guarda cívica em Cachoeira, de um regimento de cavalaria miliciana em Jacobina, de um batalhão de caçadores em Inguaripe e de “um Correio regular para o Rio de Janeiro e Minas Novas”. Nos meses seguintes, criou-se uma linha postal entre Cachoeira e Vila Rica34; mais ao norte, o governo estabeleceu um correio regular “de 15 em 15 dias, das Alagoas para o Recôncavo da Bahia”35. As linhas postais estavam servindo de esteio para a comunicação política entre os aliados de D. Pedro.
A partir de fevereiro, o governo provisório de São Luís anunciou a retomada dos correios mensais para Belém do Pará e Parnaíba, no Piauí, “para que não parem as correspondências” até que se reestabeleça “o Correio do Ceará”36. Desde a chegada do Governador de Armas ao Maranhão, em abril de 1822, várias foram as desavenças deste com a Junta de São Luís. Entre aquelas que chegaram às discussões das Cortes de Lisboa, houve uma que acusou o governador de interferir “na criação de um correio civil”, que era visto como necessário para a “antecipação de algumas providências” e para sinalizar a “cumplicidade do Pará e do Maranhão na defesa do mesmo projeto político”, declararam os representantes da Junta37.
Mais a leste, em Pernambuco, o periódico O Espelho noticiou uma convocação da população da província contra as Cortes de Lisboa e evocou a ausência de correios como um sinal de perigo. A falta de correios entre Pernambuco e Portugal foi interpretada como símbolo de inimizade:
Pernambucanos. Parece não haver mais dúvida que de Portugal se enviam tropas a conquistar-nos; papéis públicos o anunciam, as nossas embarcações não aparecem, há três meses tem cessado o correio daquele porto, e um demasiadamente retardado sem querer tocar nossas praias enviou pelo bloqueio a mala, onde com dissimulação se ocultam os planos hostis que se meditam contra nós [...]38.
Mais ao sul, o administrador postal do Rio de Janeiro publicou nos jornais a notícia de estabelecimento de correios terrestres entre a capital e as vilas de Parati e Ilha Grande. A justificativa consistia em evitar “os inconvenientes de viagem de mar”, visto que os confrontos com o pavilhão português estavam fragilizando as vias de comunicação postal marítima; meses depois, atendendo a uma sugestão de Bonifácio, linhas de correio foram criadas entre a capital e as vilas de Nova Friburgo e Cantagalo39.
Mais ao norte, o Conselho interino do governo da Bahia instituiu um correio terrestre desde a Vila de Ilhéus até Sergipe para facilitar a “pronta execução das Ordens”, expedidas em prol da defesa e da comunicação entre “as Povoações do Recôncavo Marítimo”. Essa medida participava de um problema mais generalizado que o governo da Bahia enfrentava, qual seja, a “grande dificuldade” para se transmitir “qualquer notícia” para a Corte imperial, solicitando socorros frente aos perigos enfrentados contra as tropas portuguesas, exigiu o estabelecimento de um correio terrestre da vila de Cachoeira para o Rio de Janeiro. Posto que em novembro de 1822 a posição política da comarca de Porto Seguro era dúbia, o governo preferiu “o longo, porém certo, caminho pelo interior da província de Minas Gerais, ao breve, mas duvidoso, trajeto pela Costa do Sul”. Após Porto Seguro aceitar a aclamação de D. Pedro como imperador do Brasil, o governo decidiu instituir outro correio conectando a província do Espírito Santo a Ilhéus, e este a Cachoeira e Rio de Janeiro40.
De modo geral, os confrontos marítimos travados entre o pavilhão português e os aliados de D. Pedro provocaram uma nova interiorização dos circuitos postais. A incerteza das navegações costeiras criou condições para que os giros postais interiores se tornassem comparativamente mais seguros, muito embora fossem caminhos menos “breves” e mais “longos”.
No mês de maio, em São Luís do Maranhão, foram criados dois correios para a vila de Caxias. As novas conexões buscaram atender às demandas locais por “mais abreviadas comunicações” frente às “atuais circunstâncias de rebelião na Província do Piauí”. A preocupação do governo do Maranhão era de “estar ao alcance de todas as notícias que correm”, pois a conjuntura tornava as comunicações “mais necessárias”41. As novas linhas postais se integravam à conjuntura dos conflitos entre as tropas aliadas ao Rio de Janeiro e as forças militares do Governador de Armas do Maranhão, João José da Cunha Fidié. Fiel a Lisboa, Fidié estava refugiado na vila de Caxias, a partir de onde planejava atacar vilas do Piauí. As forças do Rio de Janeiro, no entanto, haviam fechado um cerco na cidade de Caxias, razão pela qual a comunicação postal se fez uma necessidade estratégica.
A morfologia da rede de correios estava sendo moldada conforme as feições que os conflitos adquiriam localmente. Interrupções súbitas dos correios podiam indicar o fim de uma aliança (caso de Pernambuco); a disputa pela configuração de rotas postais poderia sinalizar dissidência política (caso de Goiás); a criação de novas linhas poderia apontar para a aproximação entre governos (casos da Bahia, de Alagoas, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Pará, do Maranhão e do Piauí) ou para o controle militar de uma região (casos da Bahia e do Maranhão). Em todos esses casos, era a geografia dos acontecimentos políticos que estava pautando transformações na estrutura postal, e, inversamente, a estrutura postal integrava as condições do desenrolar dos acontecimentos políticos.
Em setembro de 1823, o Ministério da Marinha ordenou o estabelecimento de correios marítimos entre a Corte do Rio de Janeiro e Pernambuco. Em outubro, a ordem foi para reestabelecer os correios da capital para a Bahia42. No mesmo mês, o governo de Goiás solicitou o aperfeiçoamento do correio para a Corte, que foi atendido três meses depois43.
Enquanto os governos provinciais, a Corte do Rio de Janeiro e as Cortes de Lisboa, com suas respectivas constelações de aliança, utilizavam as comunicações postais como uma ferramenta da guerra, vários setores da sociedade registraram demandas pelo melhoramento das conexões postais. Seu fundamento era, em grande parte, a urgência em conhecer o desfecho dos acontecimentos que ocorriam em vários territórios. Seu suporte, frequentemente, eram os periódicos que expandiam os espaços de discussão política. No entanto, desde 3 de maio de 1823, havia outro espaço de debate político que fomentaria a politização dos correios: a Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil.
Reunidos na sessão de 24 de maio, os deputados debateram a importância da circulação dos diários da Assembleia. Uma das propostas consideradas, enunciada pelo deputado Alencar, afirmou que “para facilitar a sua leitura”, o “porte do correio” deveria ser “franco”, e sua tarifa deveria ser “regulada de modo que baste tão somente para fazer face às despesas do papel e impressão”. Outros ainda manifestaram a necessidade de que a tarifa incorporasse as despesas com os ordenados dos funcionários da administração postal. Contudo, os deputados concluíram que “não era a economia da fazenda, e sim a maior circulação do Diário para a instrução do público o objeto que merecia mais atenção da assembleia”; por isso, o porte foi franqueado a todos os assinantes para que fosse “sempre por menor preço que o de qualquer outro periódico”44.
Em 9 de junho, o Ministério da Fazenda emitiu ordem ressaltando a importância da medida para que circulação dos diários chegasse “com mais brevidade e mais geralmente a notícia dos povos as matérias que são objeto dos trabalhos dos seus respectivos representantes”45. O registro e a divulgação das discussões que estavam ocorrendo entre os deputados da Assembleia foram mobilizados como ferramentas para a construção de uma comunidade imaginada. Isto é, buscava-se expandir as fronteiras de discussão da vida pública por intermédio do envolvimento dos cidadãos que a Assembleia estava tentando inventar46.
Na sessão de 26 de julho, o deputado Alencar apresentou denúncias contra o “criminoso abuso” de violar o segredo das cartas. Alegava que a interceptação de cartas dos adversários do Rio de Janeiro na Bahia não tinha mais sentido, uma vez que aquela província fora incorporada ao Império do Brasil. Por isso, os correios da Bahia deviam vigiar a preservação desse “direito sagrado do cidadão”. O deputado Andrada Machado, além de apoiar a denúncia de Alencar, acrescentou que não conhecia “no mundo um só governo que não viole o segredo das cartas”, mas foi contestado pelo deputado França, que associou a manutenção do segredo das cartas aos “povos civilizados”. França prosseguiu exigindo a responsabilização do administrador do correio, pois a “obediência ativa de um cidadão livre tem limites demarcados na mesma lei” e a “abertura de uma carta por uma pessoa a quem ela não respeita é um crime”. De certo modo, a construção do direito constitucional ao segredo das cartas integrava o processo de redefinição do papel do Estado na delimitação das fronteiras entre o público e o privado.
Acompanhando a manifestação de França, o deputado Muniz Tavares, dizendo que “nunca o governo devia usar da prepotência de abrir as cartas dos cidadãos”, evocou as bases constitucionais juradas nas Cortes de Lisboa. Essa menção despertou a forte oposição do deputado Carneiro de Campos, que alegou que essas bases não regem as ações da Assembleia do Império do Brasil: “Se deve guardar-se a inviolabilidade das cartas é por ser um dos direitos de cidadão, mas não por ser artigo dessas bases, com as quais já nada temos”. O desfecho desse debate levou a Assembleia a emitir uma indicação ao governo para que a administração do correio evitasse a violação do segredo das cartas, “sempre sagrado nos governos verdadeiramente livres”47.
Ao criar as bases jurídicas para a regulação da vida em sociedade no Império do Brasil, a Assembleia estava construindo um conjunto de direitos do cidadão desse Estado e, ao fazê-lo, definiu a manutenção do segredo das cartas como parte de um governo “verdadeiramente livre”, constituindo um “direito sagrado do cidadão”. Seus deputados, no entanto, ressaltaram a importância de que o fundamento dessa definição não era um desdobramento das bases juradas em Lisboa, mas um fato jurídico autônomo da Assembleia do Império do Brasil.
Os correios não foram apenas debatidos no âmbito da definição dos direitos de uma cidadania brasileira. A necessidade de integrar territorialmente o Estado também suscitou a pertinência de novos projetos postais. Hipólito José da Costa, importante periodista de seu tempo, foi um atento observador das reformas joaninas na América e dos eventos políticos e econômicos do mundo ocidental. Por meio do Correio Braziliense, ele se tornou um célebre partícipe do debate público luso-americano, e os correios estavam entre os vários temas que foram objeto de sua atenção, mesmo antes de se tornar um periodista48.
O Correio Braziliense, criado em junho de 1808, era impresso na cidade de Londres e perdurou até dezembro de 1822. Sua distribuição, proibida repetidas vezes pela Coroa, era realizada por meio de assinaturas individuais mediante aviso aos correios. Assim como muitos periódicos da época, seu nome reforçava a típica associação entre o suporte material de divulgação de notícias, o periódico, e um de seus principais meios de circulação, os sistemas postais49.
De 1808 a 1822, o Correio Braziliense trouxe comentários e críticas sobre diversos aspectos dos correios luso-americanos50. Hipólito fazia questão de ressaltar que, como a arte de ler e escrever no Brasil não era tão comum, era “preciso que o Governo, induzindo o povo a comunicar-se por cartas, espere que se difunda o conhecimento das primeiras letras, que se introduza o costume da comunicação epistolar”. Julgava que a própria “união das províncias do Brasil entre si” dependia de “sua mútua comunicação”, que, por sua vez, exigia o estabelecimento de “postas e correios por terra; e os paquetes movidos com engenho de vapor por mar”51.
Após o encerramento das atividades de seu jornal, Hipólito elaborou um projeto intitulado “Apontamentos para um plano de Correios, Estradas e Colonização no Brasil”52. Em fevereiro de 1823, ele foi encaminhado a José Bonifácio, que o entregou à Assembleia Constituinte, seguindo para a Comissão de Colonização na sessão de 2 de junho de 182353.
Tratava-se de um projeto comprometido com a unificação territorial do Brasil. Hipólito propôs a criação de uma repartição pública exclusivamente dedicada às comunicações, aos transportes e à ocupação territorial. O plano respaldava uma visão mais abrangente de integração territorial, para a qual um “serviço nacional de correios” poderia contribuir54. Mulas e cavalos deveriam estar à disposição de estafetas ao longo de linhas postais; as postas serviriam para o aquartelamento de tropas imperiais que, por sua vez, garantiriam a segurança necessária para a edificação de igrejas que atrairiam a população das redondezas para formar pequenos núcleos comerciais e povoações.
A administração dos correios seria centralizada, diferentemente de como era até então: em cada cidade e capital, correios-mores deveriam prestar contas ao ministro do governo do Império encarregado da presidência do “Correio Geral”. Este definiria o calendário dos fluxos postais conforme demandas locais. De modo análogo, nas vilas e povoações, “correios menores” deveriam responder aos “correios-mores” provinciais. O transporte dos malotes postais seria realizado por “empreiteiros” definidos por leilão, submetidos às regras estipuladas pelo governo. Estes usariam cavalo ou carruagens que, dependendo das condições viárias, poderiam transportar passageiros mediante o aluguel da montaria ou do assento55.
Mensalmente, os “correios menores” apresentariam relatórios financeiros e o controle de horários dos fluxos postais aos “correios-mores”, que prestariam contas ao presidente do “Correio Geral” a cada trimestre, momento em que teriam a oportunidade de sugerir aperfeiçoamentos regionais. As taxas do correio deveriam ser cobradas dos destinatários conforme as distâncias percorridas, não mais conforme o peso. Dentro dos laboratórios postais, Hipólito sugeriu uma ferramenta inovadora: com o objetivo de facilitar a organização das cartas em malotes postais com destinos diferentes, a correspondência deveria ser lançada em uma “grande mesa”, na qual estaria “grudado ou pintado um mapa da província, dividido em certo número de quadrados”. Em “cada quadrado” haveria “uma abertura, debaixo da qual” estaria uma “gaveta aonde se lançarão todas as cartas pertencentes a povoações existentes naquela divisão”. A divisão do território em “quadrados”, formando zonas com taxas de cobrança diferentes, esboçava aquilo que, muitos anos depois, iria se tornar o Código de Endereço Postal.
Se houvesse cartas para povoações fora das linhas postais, os “correios menores” iriam encarregar de transportá-las por meio de “linhas de mala parciais” entre “povoações do interior”, de modo a evitar que a correspondência trocada entre duas povoações fosse primeiro encaminhada para a capital para depois seguir para o seu destino. Uma vez entregues nos “correios menores”, as cartas seriam encaminhadas às moradias das pessoas, por isso, seria necessário contratar vários “mensageiros” para “diversos bairros da cidade”.
Pelo mar, Hipólito sugeriu o emprego de uma tecnologia que estava em desenvolvimento: os barcos a vapor. Estes deveriam correr a costa do Brasil em períodos fixos e, além de conduzir correspondência, poderiam transportar encomendas leves e passageiros. Dessa forma, a repartição dos correios poderia extrair rendas dos portes das cartas, do aluguel de assentos nos barcos, nas carruagens, montarias e dos leilões. Eles também seriam beneficiados pelos mapas topográficos que a secretaria de terras deveria elaborar, indicando os limites de propriedades e a divisão territorial, além das “linhas de estrada que devem seguir as malas dos correios”, o que certamente criaria as bases para a primeira cartografia postal do Brasil.
A Assembleia foi dissolvida em 12 de novembro antes que os deputados pudessem avaliar seu plano. O destino político da Assembleia, todavia, não alterou o fato de que esse foi o primeiro projeto de reforma dos correios do Império do Brasil.
A nacionalização dos correios estava ocorrendo simultaneamente à formação do Império. A reconfiguração dos espaços de jurisdição do Estado estava atrelada à construção de um novo território que, segundo os contemporâneos, deveria servir de base para delimitar uma nova nação. Nesse ambiente de transformação das concepções de território, a capacidade que a rede postal tinha de articular espaços se tornou um instrumento de mediação entre Estado, nação e território. Em outras palavras, a geografia das comunicações postais parecia atender aos anseios de construção de uma unidade territorial característica do Estado nacional que estava sendo construído56.
Redigida por um conselho nomeado por D. Pedro, a Carta Constitucional foi outorgada em março de 1824. O artigo 179, parágrafo 27, versava sobre os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Nele, a Constituição definiu a inviolabilidade do segredo das cartas e a responsabilidade da administração do correio por qualquer infração. A Carta Constitucional, seguindo a tendência das Cortes de Lisboa e da Assembleia Constituinte, conceitualizou o segredo das cartas como um direito civil, parte da integridade da cidadania, conforme a nova cultura política que moldava parte do Estado brasileiro57. A Constituição de 1824 foi encaminhada às Câmaras municipais por meio dos serviços postais, fazendo com que o pacto político selado na Constituição circulasse pelo novo território nacional através dos correios do Brasil58.
4. Monarquia constitucional, os correios do Brasil e o mundo (1824-1829)
Após o término dos principais conflitos que ameaçaram a integridade territorial do Império do Brasil que o governo de D. Pedro buscava construir, os governos provinciais continuaram a registrar demandas de modificação dos serviços postais. Suas motivações, contudo, eram diferentes daquelas do período de guerras. Não havia mais a urgência de conhecer o estado político de territórios distantes devido às incertezas provocadas pelos combates, mas, sim, a necessidade de edificar novos espaços de representação e governo. Os usos políticos da rede postal se coadunaram cada vez menos com a dinâmica instituída pela disputa por soberania entre governos de natureza variada, e cada vez mais se aproximaram da lógica de construção de um Estado nacional compatível com a comunidade imaginada pelo projeto vencedor.
Em relação às comunicações marítimas, em setembro de 1824, o Ministério da Marinha comunicou ao presidente da província do Maranhão que a escuna Providência passaria a servir de correio entre o Rio de Janeiro e o Pará, com várias escalas intermediárias pela costa brasileira. Em outubro, o Ministério acrescentou o patacho Defensor a essa linha. Junto a duas embarcações que o governo do Pará ficou encarregado de fornecer, esse barco atracaria também em Pernambuco e no Maranhão. No mês de novembro, a galera General Lecor se somou à linha postal que passou a abarcar o Ceará. Por volta da mesma época, o brigue Real João foi empregado como correio marítimo entre o Rio de Janeiro e a Província Cisplatina59. As conexões marítimas deixaram de ser tão incertas quanto o foram nos anos anteriores.
No continente, a expansão postal foi retomada sem os obstáculos dos anos anteriores. Em 13 de novembro foi criada uma linha de correio entre a vila de Macaé e Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro60. Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de São Carlos de Jacuí solicitou ao governo provincial a criação de uma rota postal para “não serem retardadas as providências” e “deliberações” para “o bem estar dos Povos que representamos”61. Em janeiro de 1825, o Ministério dos Negócios do Império atendeu à demanda do presidente da província de Santa Catarina sobre o estabelecimento de linhas postais entre a vila de Desterro e a capital de Rio Grande de São Pedro, e da capital até a vila de Paranaguá, em São Paulo, facilitando as comunicações entre Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande de São Pedro62.
Diferentemente do período anterior, a retórica daqueles que clamavam por melhorias na rede postal evocava o bem-estar dos povos devidamente representados pelas novas instituições que haviam sido criadas. A nova arquitetura institucional da política do Estado, e sua correspondente linguagem liberal, passaram a fornecer os contornos das expectativas ligadas à rede de correios. Assim, junto às mutações concretas do sistema postal, os contornos de uma semântica das comunicações também se transformavam.
No plano das relações internacionais, os Estados Unidos da América estavam ampliando suas relações diplomáticas com o Brasil. Em janeiro de 1825, o Ministério da Marinha, ressaltando a utilidade da “mútua correspondência certa e regular entre as províncias desse extenso império”, recebeu com bons olhos o parecer do representante comercial do Brasil em Washington, José Silvestre Rebello, que sugeriu o emprego de dois “Barcos de Vapor” na costa do Brasil para a rota postal que ligava o Rio de Janeiro ao Pará. Em conjunto com o Ministério dos Negócios Exteriores, eles definiram as diretrizes para importação63.
Em abril, o quartel general da Bahia também demandou do governo central melhorias nas conexões postais. Segundo eles, “é tempo de cuidarmos no melhoramento do Estado, no meio fácil de o vermos quanto antes prosperar”64. Mais ao sul, conexões postais entre Porto Alegre, Laguna, Torres e Rio Grande de São Pedro foram aperfeiçoadas65. No mês de agosto, o Ministério dos Negócios do Império, frente às reclamações das províncias do norte a respeito das demoras na entrega de correspondência, ordenou aos presidentes da Bahia, do Piauí, do Maranhão e do Pará a melhor regulação da “saída dos correios de maneira que partam sem falta de 15 em 15 dias”66.
O presidente de Alagoas havia comunicado o Ministério do Império que não conseguiu cumprir a portaria que exigia a eleição de juízes provinciais, pois recebeu a ordem depois da dissolução dos colégios eleitorais. Para evitar a repetição de casos como esse, que retardavam a construção do judiciário, a Corte ordenou que a comunicação postal com Alagoas passasse a ser feita pela Bahia ou por Pernambuco e que fossem criados correios terrestres em Alagoas. Mais ao centro, as marchas postais entre a Corte imperial e a província de Goiás, bem como internas a esta capitania, também foram aperfeiçoadas após a demanda apresentada por uma de suas Câmaras municipais67. Assim, a rede postal brasileira iniciava sua expansão (Figuras 1 2,3,4 a 5).
No plano das comunicações interinstitucionais, de 1824 a 1827, órgãos político-administrativos tiveram sua estrutura postal ampliada. O gabinete imperial e várias secretarias de Estado aumentaram os mensageiros à disposição; o Correio Geral do Rio de Janeiro expandiu seu efetivo; e a Casa da Moeda, o Tesouro Público e a Intendência Geral da Polícia da Corte, entre diversas outras repartições, aumentaram o número de funcionários encarregados pela comunicação. Em 1827, ambas as casas legislativas passaram a contar com correios próprios68.
A formação da primeira legislatura do Parlamento, em 1826, modificou os usos políticos dos correios marítimos. Os deputados deviam se apresentar no Rio de Janeiro para exercer suas funções, e posto que havia uma linha postal marítima que conectava várias províncias costeiras, essa embarcação deveria conduzir deputados e senadores, ou seus suplentes69. Um dos senadores eleitos por Alagoas, D. Nuno Eugênio de Lossio Seilbiz, registrou seu deslocamento a bordo do correio marítimo70.
No plano das comunicações internacionais, em abril de 1826, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Fazenda informaram as províncias de que D. Pedro I determinou que os mestres e comandantes de embarcações brasileiras que circulassem entre Brasil e Portugal estavam obrigados a transportar correspondência71. Após o reconhecimento da independência do Brasil, a retomada das relações diplomáticas com Portugal envolveu a reativação de suas comunicações postais, consolidando a distinção entre seus sistemas de correios. O próprio Tratado de Paz e Aliança firmado entre esses Estados assinalou que parte da indenização que o Império do Brasil deveria pagar a Portugal incluía também cinco embarcações de correio marítimo72.
O tratado de junho de 1826 com a França determinou o emprego de paquetes postais para comunicação recíproca, mas registrou a necessidade de uma futura convenção para regular melhor esses serviços73; muito semelhante ao tratado de agosto de 1827 com a Grã-Bretanha, que manteve a circulação de paquetes e indicou a necessidade de uma futura convenção74. Nesse mesmo ano, a conexão dos serviços postais do Brasil com o das cidades da Liga Hanseática, Bremen e Hamburgo deixou de ser intermediada pela Inglaterra e passou a ser feita diretamente75.
A construção das relações internacionais do Império do Brasil exigiu a elaboração de tratados envolvendo a articulação de sistemas postais de diferentes Estados. Internamente, os correios se nacionalizaram, externamente, como complemento necessário à inserção do Brasil em um sistema mundial, os correios brasileiros começaram se internacionalizar. Para dentro ou para fora dessas fronteiras, a rede de correios se tornou uma importante estrutura comunicacional, capaz de articular várias escalas e dimensões do Império, e deste com um sistema de relações internacionais. Como decorrência de sua crescente importância, o sistema postal iria se tornar objeto de uma ampla reforma nos anos vindouros76.
5. Considerações finais: politização das comunicações, território e soberania
A análise dos usos e significados dos correios para um amplo conjunto de atores sociais permitiu caracterizar os contornos de uma experiência política das comunicações durante o processo de crise da monarquia portuguesa e construção do Império do Brasil. Delimitando parte das condições de articulação entre diferentes escalas e dimensões de corpos políticos, os serviços postais participaram da transformação da vida política.
Enquanto circuitos controlados por autoridades da monarquia portuguesa, os correios serviram à coesão do império colonial, mas à medida que as fissuras desse Estado se ampliaram, diferentes governos disputaram a geografia postal a ponto de sua morfologia tornar-se um fator da própria dinâmica das guerras. Com a vitória de um dos projetos, os correios da América portuguesa se transformaram nos correios nacionais do Brasil. Nessa condição, internamente, sua malha serviu à articulação entre instituições centrais, provinciais e municipais; externamente, serviu à inserção do novo Império em um sistema internacional. A nacionalização e a internacionalização dos correios do Brasil formavam duas facetas de um mesmo processo histórico, que, por sua vez, estava entrelaçado a uma nova semântica das comunicações.
Vinculada à vida política da época, a rede postal participou da construção da nova cidadania e da nova nação e figurou como uma ferramenta de unificação territorial do nascente Estado constitucional. A estrutura comunicacional dos correios criou um conjunto de vértices que, em várias escalas geográficas - provincial, nacional e internacional -, mediou a dialética entre Estado, nação e território: por meio deles, a sociedade costurou tramas capazes de conectar, concreta e intelectualmente, múltiplas dimensões dessa nova comunidade imaginada chamada Brasil.
Fontes
- Abelha do Itaculumy
- ANNAES do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte, 1823, v. 1-4. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1874.
- Antônio José Pinto. Padre, vigário da freguesia de Santa Ana... 14 de maio de 1822. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, BNRJ, C-863, 1.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice dos decretos, cartas e alvarás de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , [1887].
- Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1823. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , 1887.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1824. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , 1886.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1825. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , 1885.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1826. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , 1887.
- Coleção das Leis do Brasil. Índice dos actos do Poder Executivo de 1826. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , [1887].
- Coleção das Leis do Brasil. Índice dos actos do Poder Executivo de 1827. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional , [1878].
- Conciliador do Maranhão
- Correio Braziliense
- COSTA, Hipólito da. Diário de minha viagem para Filadélfia (1798-1799). Brasília: Senado Federal, 2004.
- Diário Constitucional
- Diário da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital, 1823.
-
DIÁRIOS das Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza, s.d. Disponível em:<Disponível em:https://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821 >. Acesso em: 21 nov. 2023.
» https://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821 - Diário do Rio de Janeiro
- Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo. v. 11. São Paulo: Typ. Espíndola, Siqueira & Comp., 1896.
- FERREIRA, Godofredo. Documentos dos Séculos XIII a XIX Relativos a Correios. Lisboa: Fundação Portuguesa das Comunicações, 2008.
- Gazeta do Rio de Janeiro
- Império do Brasil: diário do governo
- Império do Brasil: diário fluminense
- O Espelho
- OFÍCIO apresentando as cópias de ordens... 12 de agosto de 1822. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, BNRJ , I-27,35,019.
- OFÍCIO de D. Nuno Eugênio de Lossio Seilbiz... Bahia, 17 de maio de 1826. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, BR RJANRIO AA. IJJ9-279.
- [OFÍCIO de Hipólito José da Costa contendo um Plano de Correios, Estradas e Colonização do Brasil]. 6 de fevereiro de 1823. Arquivo do Itamaraty.
- ORDEM do Governo Provisional determinando...12 de março de 1822. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, I-26,27,049.
- ORDEM do Governo Provisório...6 de novembro de 1822. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional , BNRJ , I-26,27,022.
-
[ORDEM de José Bonifácio]... Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1823. Obra completa. Disponível em:<Disponível em:https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18773/digitalizacao/ pagina/1/ >. Acesso em:21 nov. 2023.
» https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18773/digitalizacao/ pagina/1/ -
[ORDEM de José Bonifácio]... Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1822. Obra completa. Disponível em:<Disponível em:https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18765/digitalizacao/ pagina/4/ >. Acesso em: 21 nov. 2023.
» https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18765/digitalizacao/ pagina/4/ - [PORTARIA ao Administrador do Correio]... Paço, 13 de novembro de 1824, Mariano José Pereira da Fonseca. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional , BR RJANRIO 4O. Cod. 142, v. 20.
- [PORTARIA ao Administrador do Correio]... 24 de abril de 1823. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional , BR RJANRIO 4O-Cod.142, v. 17.
- RELATÓRIO dos trabalhos do Conselho Interino de Governo (BA), Tipografia Nacional, 1823.
- SANTOS, Luís Gonçalves dos. Memórias para servir à História do Reino do Brasil. Brasília: Senado Federal , 2013.
- Semanário Cívico.
- SILVA, João Manuel Pereira da. História da Fundação do Império Brasileiro. Tomo V. Rio de Janeiro: Laemmert, 1864/1868.
Bibliografia
- ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
-
ARAÚJO, Ana C. Território e redes de comunicação em finais do século XVIII: ideias e projetos do superintendente José Diogo Mascarenhas Neto. Revista de História da Sociedade e da Cultura, Portugal, n. 17, p. 155-183, 2017. DOI: https://doi.org/10.14195/ 1645-2259_17_7.
» https://doi.org/10.14195/ 1645-2259_17_7 -
BEHRINGER, Wolfgang. Communications revolutions: a historiographical concept. German History, v. 24, n. 3, p. 333-374, 2006. DOI: https://doi.org/10.1191/0266355406g h378oa.
» https://doi.org/10.1191/0266355406g h378oa - BERNARDES, Denis A. de M. Pernambuco e sua área de influência: um território em transformação (1780-1824). In: JANCSÓ, István(org.). Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2005, p. 379-409.
- CASTRO, Pérola M. Goldfeder B. de. “Em torno do trono”: a economia política das comunicações postais no Brasil do século XIX (1829-1865). 2021. 385f. Tese (Doutorado em História Econômica), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
-
CHAVES, Cláudia M. das Graças. Os poderes regionais e a construção política do espaço: as complexas jurisdições da administração fazendária no Brasil entre 1821-1823. Almanack, São Paulo, n. 18, p. 182-215, abr. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/2236-463320181805.
» https://doi.org/10.1590/2236-463320181805 - CHIARAMONTE, José Carlos. Metamorfoses do conceito de nação durante os séculos XVII e XVIII. In: JANCSÓ, István(org.). Brasil: formação do Estado e da nação. São Paulo: Hucitec, 2003, p. 61-91.
- CHUST, Manuel(coord.). 1808: la eclosión juntera en el mundo hispano. México: FCE, 2007.
- DIAS, Maria Odila da Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme(org.). 1822: Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 160-184.
- ELLIOTT, John H. Imperial Spain, 1469-1716. London: Penguin, 2002.
- FRASQUET, Ivana. Restauración y revolución en el Atlántico hispanoamericano. In: RÚJULA, Pedro & SOLANS, Javier Ramón(eds.). El desafío de la revolución: Reacciones, antiliberales y contrarrevolucionarios (siglos XVIII y XIX). Granada: Editorial Comares, 2017, p. 29-49.
- FORTUNATO, Thomáz. Correios, Estradas e Caminhos. In: OLIVEIRA, Cecilia H. de Salles & PIMENTA, João P. (org.). Dicionário da Independência do Brasil: história, memória e historiografia. São Paulo: Edusp, BBM, 2022, p. 279-282.
- FORTUNATO, Thomáz. Topologias do tempo: a formação da rede dos correios no Brasil (1796-1829). 2023. 488 f. Dissertação (Mestrado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.
- GALVES, Marcelo C. Imprensa e cultura política na independência. In: PIMENTA, João Paulo(org.). E deixou de ser colônia: uma história da independência do Brasil. São Paulo: Edições 70, 2022, p. 293-327.
- GUAPINDAIA, Mayra C. Correios da Bahia: a experiência global das comunicações terrestre e marítimas no processo da Independência (1798-1822). In: PIMENTA, João Paulo; SANTIROCCHI, Ítalo (orgs.). A independência do Brasil em perspectiva mundial. São Paulo: Alameda, 2022, p. 11-40.
- GUAPINDAIA, Mayra C. O controle do fluxo das cartas e as reformas de correio na América portuguesa (1796-1821). 2019. 351f. Tese (Doutorado em História), Programa Interuniversitário (Universidade de Lisboa, ISCTE, Universidade Católica Portuguesa), 2019 Universidade de Évora.
- GUERRA, François Xavier. Modernidad e independências: ensayos sobre las revoluciones hispânicas. Madrid/México: Mapfre, FCE, 2010.
- HESPANHA, António M. Às vésperas do Leviathan: instituições e poder político. Portugal, séc. XVII.Coimbra: Almedina, 1994.
-
JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo. Peças de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira. Revista de História das Ideias, Coimbra, v. 21, p. 389-440, 2000. DOI: https://doi.org/10.14195/2183-8925_21_11.
» https://doi.org/10.14195/2183-8925_21_11 - JOHN, Richard. Spreading the News: The American Postal System from Franklin to Morse. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- LUSTOSA, Isabel. O jornalista que imaginou o Brasil: tempo, vida e pensamento de Hipólito da Costa (1774-1823). São Paulo: Ed. Unicamp, 2019.
- MACHADO, André R. de Arruda. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime Português na província do Grão-Pará (1821-1825). 2006. 358f. Tese (Doutorado em História Social), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
- MAGNOLI, Demétrio. O Corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no Brasil (1808-1912). São Paulo: Ed. Unesp, Moderna, 1997.
- MEIRELLES, Juliana G. A Corte no Brasil e o governo de D. João VI, 1808-1820. In: PIMENTA, João Paulo(org.). E deixou de ser colônia: uma história da independência do Brasil. São Paulo: Edições 70 , 2022, p. 85-134.
-
MOREIRA, Sérgio P. A independência em Goiás. Revista de História, São Paulo, v. 46, n. 94, p. 459-486, 1973. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1973.132004.
» https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1973.132004 - MUGGE, Miqueias Henrique. Building an Empire in the Age of Revolutions: Independence and immigration in the Brazilian borderlands. Topoi, Rio de Janeiro, v. 23, n. 51, p. 870-896, set./dez. 2022. DOI: https://doi.org/10.1590/2237-101X02305110.
- NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). São Paulo: Ed. 34, 2019.
- PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec , 2015.
- PIMENTA, João Paulo G. Estado e nação no fim dos impérios ibéricos no Prata (1808-1828). São Paulo: Hucitec , 2006.
- RIZZINI, Carlos. Hipólito da Costa e o Correio Braziliense. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1957.
-
SCHMITT, Ânderson M. Comunicação política em tempos belicosos a partir de uma província meridional, (Santa Catarina, primeiras décadas do século XIX). Almanack, São Paulo, n. 35, 2023. DOI: https://doi.org/10.1590/2236-463335ea01323.
» https://doi.org/10.1590/2236-463335ea01323 - SILVA, Ana R. Cloclet da. Inventando a nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-brasileiros na crise do Antigo Regime português, 1750-1822. São Paulo: Hucitec/Fapesp , 2006.
- SLEMIAN, Andréa. Sob o império das leis: constituição e unidade nacional na formação do Brasil (1822-1834). São Paulo: Hucitec/Fapesp , 2009.
-
WINTER, Murillo D. “No nosso mesmo Brasil mil exemplos encontrei”: as províncias do Brasil e a experiência insurgente (1817-1850). Nuevo Mundo, Mundos Nuevos (online), Débats, déc. 2023. DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.94679.
» https://doi.org/10.4000/nuevomundo.94679
-
1
Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo (2019/14425-0). Agradeço aos comentários críticos de Camilla Guelli, Davi Perides, Eric Rodrigues, Lucas Mohallem, Luís Vieira, Roberta Quirino e Edú Trota Levati.
-
4
Santos, 2013, p. 506-507. Sobre aceleração, ver: Fortunato, 2023.
-
5
Império do Brasil: diário fluminense, 2 jul. 1824, v. 4, n. 2.
-
6
Fortunato, 2022.
-
7
Novais, 2019; Chust, 2007.
-
8
Chiaramonte, 2003; Guerra, 2010; Jancsó & Pimenta, 2000.
-
9
Frasquet, 2017; Dias, 1972.
-
10
Silva, 1864/1868, p. 12-13 e 56.
-
11
Correio Braziliense, set. 1820, v. 25, n. 148, p. 292.
-
12
Slemian, 2009, p. 73-75; Chaves, 2018, p. 193. A dificuldade das comunicações chegou a ser evocada em algumas declarações cf. Silva, 2006, p. 296.
-
13
Correio Braziliense, v. 26, n. 153, fev. 1821, p. 172-173; v. 26, n. 154, mar. 1821, p. 234-238, 243, 258 e 305; v. 26, n. 155, abr. 1821, p. 381 e 452.
-
14
Correio Braziliense, v. 27, n. 158, jul. 1821, p. 38 e 76.
-
15
As reformas joaninas costuraram uma malha postal vinculada à geografia comercial cf. Fortunato, 2023.
-
16
Semanário Cívico, 30 ago. 1821, n. 27. Ver: Guapindaia, 2022. Sobre um “espaço de experiência insurgente” no Brasil costurado pela circulação de impressos: Winter, 2023.
-
17
Gazeta do Rio de Janeiro, 2 mai. 1821, n. 35. Ver: Meirelles, 2022; Galves, 2022.
-
18
Diário do Rio de Janeiro, n. 25, 31 jul. 1821; n. 13, 16 nov. 1821. Ver: Castro, 2021, p. 123.
-
19
Gazeta do Rio de Janeiro, n. 119, 4 dez. 1821; Moreira, 1973, p. 449-471.
-
20
Gazeta do Rio de Janeiro, 11 dez. 1821, n. 122.
-
21
Correio Braziliense, v. 28, n. 167, abr. 1822, p. 420-539.
-
22
MANDA estabelecer um correio... In: Coleção das Leis do Brasil. Índice das decisões do governo de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, p. 10-11. Doravante, citado como CLB.
-
23
[OFÍCIO da Junta da Fazenda de Minas Gerais]... 7 de fevereiro de 1822. In: Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo. v. 11. São Paulo: Typ. Espíndola, Siqueira & Comp., 1896, p. 641-642. Doravante, citado como DIHCSP; ORDEM do Governo Provisional determinando... 12 de março de 1822. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, I-26,27,049. Doravante citado como BNRJ.
-
24
OFÍCIO apresentando as cópias de ordens... 12 de agosto de 1822. BNRJ, I-27,35,019; ORDEM do Governo Provisório... 6 de novembro de 1822. BNRJ, I-26,27,022.
-
25
Antônio José Pinto. Padre, vigário da freguesia de Santa Ana... 14 de maio de 1822. BNRJ, C-863, 1; Império do Brasil: diário do governo, 30 abr. 1823, n. 96.
-
26
[ORDEM para a elaboração de projeto de remessa]... 23 de outubro de 1821. In: FERREIRA, Godofredo. Documentos dos Séculos XIII a XIX Relativos a Correios. Lisboa: Fundação Portuguesa das Comunicações, 2008, p. 583-58. Doravante, citado como DSRC. Grifos meus.
-
27
Elliott, 2022; Hespanha, 1994.
-
28
DIÁRIOS das Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza, s.d., p. 382-392. Disponível em: <https://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821>. Acesso em: 21 nov. 2023.
-
29
Determina que não se dê execução... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, p. 32.
-
30
Conciliador do Maranhão, 17 ago. 1822.
-
31
Bernardes, 2005, p. 392, 403; Machado, 2006, p. 155-157, 165-166.
-
32
Concede aos súditos deste Império... In: CLB. Índice dos decretos, cartas e alvarás de 1822. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, [1887], p. 108-115.
-
33
[ORDEM de José Bonifácio]... Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1823. Obra completa. Disponível em: <https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18773/digitalizacao/pagina/1/>. Acesso em: 21 nov. 2023.
-
34
Império do Brasil: diário do governo, 24 jan. 1823, n. 18; 7 mar. 1823, n. 54.
-
35
Império do Brasil: diário do governo, 1 mar. 1823, n. 49.
-
36
Conciliador do Maranhão, 1 fev. 1823, n. 163; 5 fev. 1823, n. 164.
-
37
Machado, 2006, p. 150-157.
-
38
O Espelho, 7 fev. 1823, n. 128. Grifos meus.
-
39
Império do Brasil: diário do governo, 17 fev. 1823, n. 38; [PORTARIA para o Administrador]... 24 de abril de 1823. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, BR RJANRIO 4O-Cod.142, v. 17; Rizzini, 1957, p. 195-197; [ORDEM de José Bonifácio]... Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1822. Obra completa. Disponível em: <https://www.obrabonifacio.com.br/colecao/obra/18765/digitalizacao/pagina/ 4/>. Acesso em: 21 nov. 2023.
-
40
RELATÓRIO dos trabalhos do Conselho Interino de Governo (BA), Tipografia Nacional, 1823, p. 4 e 12-13; Diário Constitucional, 13 fev. 1822, n. 5.
-
41
Conciliador do Maranhão, 10 mai. 1823, n. 191; 31 mai. 1823, n. 197.
-
42
MANDA estabelecer Correios Marítimos... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1823. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, p. 102-103.
-
43
Império do Brasil: diário de governo, 15 jan. 1824, n. 11.
-
44
ANNAES do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte, 1823, v. 1. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1874, p. 111-112. Grifos meus.
-
45
MANDA que seja franco o porte... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1823. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, p. 68; ANNAES do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte, 1823, v. 2. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1874, p. 29. A importância da circulação desses diários para a legitimidade da Assembleia é retomada em outras sessões: Diário da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital, 1823, p. 5, 16-18 e 118-119.
-
46
Anderson, 2015. Para caso análogo nos Estados Unidos, ver: John, 1995, p. 112-168.
-
47
ANNAES do Parlamento Brazileiro. Assembleia Constituinte, 1823, v. 3. Rio de Janeiro: Typographia do Imperial Instituto Artístico, 1874, p. 119-121 e 136; ibidem, v. 4, p. 46.
-
48
Costa, 2004, p. 49.
-
49
Behringer, 2006, p. 369.
-
50
Fortunato, 2023, p. 379-382.
-
51
Correio Braziliense, abr. 1818, v. 20, n. 119, p. 424-426; abr. 1822, v. 28, n. 167, p. 449.
-
52
[OFÍCIO de Hipólito José da Costa contendo um Plano de Correios, Estradas e Colonização do Brasil]. 6 de fevereiro de 1823. Arquivo do Itamaraty.
-
53
Rizzini, 1957, p. 46. De acordo com Guapindaia, a organização institucional dos correios era descentralizada: administrações locais respondiam às Fazendas de cada capitania; estas eram responsáveis pela provisão de oficiais, criação de novas administrações, definição de linhas postais e respondiam ao Erário Régio. Até 1829, não houve um órgão de Estado que centralizou a administração dos correios cf. Guapindaia, 2019, p. 304.
-
54
Lustosa, 2019, p. 84-85.
-
55
Para um precedente em Portugal: Araújo, 2017.
-
56
Magnoli, 1997, p. 293; Pimenta, 2006, p. 18-20. Para outra abordagem sobre expansão territorial interna e visões imperiais: Mugge, 2022.
-
57
CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil. In: CLB. Índice das decisões do governo de 1824. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886.
-
58
Império do Brasil: diário do governo, 7 abr. 1824.
-
59
Império do Brasil: diário fluminense, 23 set. 1824, n. 72, 13 out. 1824, n. 89, 13 nov. 1824, n. 115 e 29 nov. 1824, n. 128; 8 nov. 1824, n. 110; 16 abr. 1825, n. 83.
-
60
[PORTARIA ao Administrador do Correio]... Paço, 13 de novembro de 1824, Mariano José Pereira da Fonseca. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, BR RJANRIO 4O. Cod. 142, v. 20.
-
61
Abelha do Itaculumy, 23 jul. 1824, n. 84.
-
62
APROVA o estabelecimento de um Correio... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1825. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1885, p. 5.
-
63
Império do Brasil: diário fluminense, 7 fev. 1825, n. 28.
-
64
Império do Brasil: diário fluminense, 14 abr. 1825, n. 81.
-
65
Schmitt, 2023, p. 14.
-
66
SOBRE a saída dos Correios das Províncias... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1825. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1885, p. 110.
-
67
Império do Brasil: diário fluminense, 3 jun. 1825, n. 121; 22 ago. 1825, n. 43; 16 ago. 1826, n. 38.
-
68
Fortunato, 2023, p. 399-400.
-
69
Império do Brasil: diário fluminense, 3 fev. 1826, n. 26.
-
70
OFÍCIO de D. Nuno Eugênio de Lossio Seilbiz... Bahia, 17 de maio de 1826. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, BR RJANRIO AA. IJJ9-279.
-
71
DECLARA que os mestres das embarcações nacionais... In: CLB. Índice das decisões do governo de 1826. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887, p. 58-59.
-
72
Império do Brasil: diário fluminense, 14 set. 1826, n. 62.
-
73
RATIFICA o tratado de amizade... In: CLB. Índice dos actos do Poder Executivo de 1826. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, [1887], p. 57.
-
74
RATIFICA o Tratado de amizade... In: CLB. Índice dos actos do Poder Executivo de 1827. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, [1878], p. 34.
-
75
Diário Fluminense, 21 nov. 1827, n. 119. Optou-se por não representar essas conexões nos mapas, pois não foram localizados anúncios de partida regular de embarcações do Rio de Janeiro conduzindo cartas para esses destinos até 1828 cf. Fortunato, 2023, p. 418.
-
76
O relatório da Fazenda apresentado ao Parlamento em junho de 1828, seguido da sanção de decreto emitida pelo Ministério do Império no mês de setembro, lançou as bases para autorizar o Parlamento a reorganizar os correios. Diário Fluminense, 30 jun. 1828, n. 145 e 31 out. 1828, n. 103. Ver: Castro, 2021.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
20 Fev 2024 -
Aceito
01 Ago 2024
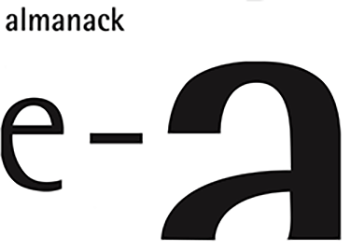
 A FORMAÇÃO DOS CORREIOS DO BRASIL: DISPUTAS POR SOBERANIA E O CONTROLE DAS COMUNICAÇÕES (1820 -1829)
A FORMAÇÃO DOS CORREIOS DO BRASIL: DISPUTAS POR SOBERANIA E O CONTROLE DAS COMUNICAÇÕES (1820 -1829)









