Resumo
Por meio da análise da documentação levantada no Arquivo do Itamaraty e em arquivos portugueses, o artigo aborda a atuação dos representantes do Brasil em Portugal no engajamento de emigrantes e na facilitação do fluxo migratório de portugueses ao Império durante a Regência e as primeiras décadas do Segundo Reinado. A busca por mão de obra pós 1831 motivou a formação de uma tríade, composta por agentes consulares, capitães de navios e empregadores no Brasil, que viabilizou o transporte de indivíduos despossuídos ao país. Os diplomatas do Império foram ainda encarregados de influenciar as políticas portuguesas e recrutar artífices para trabalhar nas obras das cidades brasileiras e nos arsenais da Marinha e do Exército, possivelmente com o objetivo de liberar os escravizados urbanos para o trabalho nos campos, assegurando a perenidade da escravidão.
Palavras-chave:
Relações diplomáticas; imigração portuguesa; políticas de migração
Abstract
This paper examines the role of Brazilian diplomatic representatives in Portugal in recruiting laborers and facilitating the migration of dispossessed Portuguese individuals to Brazil during the years of Regency and the early decades of the Second Reign. Drawing on documents from the Itamaraty Archive and Portuguese archives, we demonstrate that the search for a supplementary workforce in the 1830s resulted in the formation of a triad comprising consular agents, ship captains, and Brazilian employers, which enabled the transportation of impoverished migrants to the Empire. Additionally, the paper shows that Brazilian diplomats were tasked with influencing Portuguese emigration policies and recruiting artisans to the Navy and Army arsenals, thereby compelling enslaved urban laborers to the fields and ensuring the perpetuation of slavery.
Keywords:
Diplomatic relations; Portuguese immigration; migration policies
Este artigo aborda a atuação dos agentes consulares do Brasil em Portugal e do presidente da Legação brasileira em Lisboa no engajamento de emigrantes e na facilitação do fluxo migratório de portugueses ao Império. A documentação levantada no arquivo do Itamaraty evidencia que, a partir da Regência, incentivar a emigração se tornou parte das atividades dos agentes consulares do Brasil. Esses foram cruciais para viabilizar o trânsito de portugueses ao país e garantir um deslocamento contínuo de mão de obra livre, barata e dócil. Durante a guerra da Tríplice Aliança, a entrada de lusos no Brasil declinou para voltar a crescer na década de 1870, período marcado pelo avanço da navegação a vapor, pelo adensamento dos deslocamentos e pelo início da imigração subsidiada - que ultrapassa o âmbito da pesquisa.
Em 1838, Alexandre Herculano considerava “espantosa” a emigração portuguesa para o Brasil.3 Esse grande deslocamento dos anos 1830, cujos números exatos são desconhecidos, não recebeu atenção da historiografia. De acordo com Ribeiro, historiadores como Joel Serrão, Miriam Halpern Pereira e Luiz Felipe de Alencastro consideraram “de pouca monta” a imigração portuguesa para o Brasil independente na primeira metade do XIX, enquanto Anne Marie Pescatello e George P. Browne consideraram-na “quase igual a zero”.4 Os estudiosos que identificaram o ingresso de portugueses no Brasil pós 1822 entenderam se tratar de uma emigração espontânea, independente da vontade dos governos brasileiros.
Segundo Caio Prado Jr., o ingresso de portugueses no Império era a continuação de uma corrente imigratória tradicional e independente dos projetos de colonização do Primeiro Reinado, ou da procura por mão de obra quando do fim do tráfico de escravizados.5 Ana Silvia Scott endossou a tese de Leite,6 segundo a qual não eram os pobres e miseráveis que deixavam Portugal no oitocentos. De acordo com a autora, “eram poucos os [portugueses] que saíam, quando o faziam, estavam em condições extremamente favoráveis”,7 visto que apenas os rapazes de famílias “com recursos para arcar as despesas da viagem e instalação no Brasil” podiam emigrar. Assim, os emigrantes portugueses típicos do XIX seriam rapazes de 12 a 14 anos, do Norte do país e alfabetizados, que constituíam um fluxo emigratório autônomo e numericamente limitado.8
A conclusão de Scott vai ao encontro do estudo de Jorge Alves,9 para quem a transferência de indivíduos para o Brasil, inaugurada no século XVIII, popularizou-se no século XIX. As famílias do Norte do país, visando evitar a fragmentação patrimonial, preparavam os rapazes para emigrar, garantindo-lhes a aprendizagem necessária à inserção no comércio das cidades brasileiras. Para Alves, contudo, nem toda a emigração portuguesa era feita nessas condições. Nos anos 1830, ao tradicional fluxo do Norte, somou-se a emigração de açorianos que embarcavam sem preparo prévio, comprometendo-se com os capitães dos navios a celebrarem contratos de locação de serviços no destino e a trabalharem para pagar as despesas da viagem.
Luiz Felipe de Alencastro associou a emigração açoriana ao fim do tráfico legal, em 1831, e à atuação de “redes organizadas de contratação e transporte de imigrantes” em condições semelhantes à dos indenture servants.10 Gladys Sabina Ribeiro evidenciou que, no Primeiro Reinado, chegaram ao Rio de Janeiro portugueses de diversas proveniências regionais e sociais, que atuaram em serviços públicos como “iluminação, limpeza, aterros, construção de aquedutos e chafarizes, encanamento de rios e outras obras”.11 Para a autora, essa imigração, fundamental para o mundo do trabalho oitocentista, associava-se às pressões pelo fim do tráfico e à crença (já arraigada nos anos 1820) na necessidade de trabalhadores brancos para civilizar a nova nação.
Alves, Alencastro e Ribeiro inseriram a emigração portuguesa em um movimento global de trabalhadores pobres, estimulado pelo desenvolvimento do capitalismo no século XIX. Por meio de acordos com os capitães dos navios, indivíduos despossuídos eram transportados ao Império, onde trabalhavam ao lado de escravizados ou em tarefas antes a eles designadas. Os três autores apontaram diferentes aspectos do aparato legal montado na década de 1830 que propiciou a contratação de europeus, como: as leis dos contratos de 1830 e de locação de serviços de 1837; a proibição do tráfico em 1831; a lei de naturalização de 1832; a autonomia concedida às províncias para animar a imigração; e a isenção de taxa de ancoragem a navios que transportavam imigrantes.
Esses trabalhos reforçaram a tese de que a Regência construiu os “alicerces de uma política organizada e regular de estímulo à imigração, que viria a florescer no Segundo Império”.12 Para George Browne, muito embora o ingresso de imigrantes tenha sido exíguo no período, os governantes estavam cientes da importância da imigração. Tal compreensão contraria o entendimento de que a política de atração de imigrantes, suspensa pela lei de 15 de dezembro de 1830, fora abandonada pela Regência.13
José Pérez Meléndez prosseguiu na linha interpretativa aberta por Browne e afirmou que a lei de 1830 não encerrou o apoio governamental à imigração, mas diversificou as “alocações orçamentárias destinadas a atividades de colonização”.14 Segundo o autor, a Regência, “marcada por interações singulares entre administração governamental, oligarquias políticas e redes de empresas navais”, viu se firmar a crença na imigração animada por companhias particulares, razão pela qual os governos regenciais apoiaram a Sociedade Colonizadora da Bahia (1835) e a Sociedade Promotora da Colonização do Rio de Janeiro (1836).15
Meléndez ainda apontou a atuação de agentes consulares no apoio a engajadores de mão de obra em Portugal.16 Seguindo o caminho indicado pelo autor, este trabalho objetiva: (i) examinar o papel dos representantes do Brasil em Portugal no incentivo à emigração; (ii) iluminar um fluxo emigratório português que não se desenvolveu de forma autônoma e independente dos desígnios imperiais; e (iii) analisar o empenho dos governos regenciais e das primeiras décadas do Segundo Reinado para assegurar um fluxo de trabalhadores complementar à escravidão.
O texto se divide em três partes. A primeira apresenta a formação, em 1835, da tríade composta por empregadores no Brasil interessados em contratar portugueses, capitães de navios que transportavam imigrantes despossuídos e agentes consulares do Império que facilitaram o engajamento de trabalhadores. A segunda parte aborda a atuação dos responsáveis pela Legação Brasileira em Lisboa nos gabinetes ministeriais para influenciarem as políticas emigratórias portuguesas em favor dos interesses brasileiros. A terceira demonstra a atuação dos representantes do Brasil em Portugal no engajamento de artífices para os Arsenais de Guerra e da Marinha e para a realização de trabalhos urbanos, possivelmente aspirando liberar escravizados para os trabalhos na lavoura e assegurar a perenidade do sistema escravista.
1. Nos portos: capitães, cônsules e o engajamento de emigrantes para empregadores do Brasil
Em 1827, o comendador Theodoro Ferreira de Aguiar considerou transportar colonos das ilhas portuguesas para o Brasil.17 Apesar de ter posteriormente mudado de ideia, Aguiar solicitou ao cônsul-geral em Lisboa que arranjasse “colonos que quisessem transportar-se ao serviço do nosso imperador”.18 A incumbência foi repassada aos vice-cônsules nos Açores e Madeira, encarregados de divulgar o convite aos lavradores que, interessados em se estabelecer no Brasil, pudessem arcar com os custos da viagem.
A proposta animou os moradores do Faial, que encheram a casa do vice-cônsul José Teixeira Bittencourt, segundo o qual 131 famílias se apresentaram, somando mais de 800 indivíduos. Muitos deles poderiam pagar os fretes, mas “a maior parte, por muita pobreza e por não terem o que vender, não pode[ria] pagar”. Vivendo em miséria, pediam “até chorando” para ir “à custa do governo do império”, a quem pagariam o empréstimo em três ou cinco anos. O vice-cônsul garantia que, se o governo fretasse um navio, contaria com a boa vontade “desta gente” para se dirigir ao Brasil mediante o compromisso de pagarem posteriormente as passagens.19
Meses depois, inúmeros ilhéus “bons agrícolas e fortes” continuavam a se oferecer para ir ao Brasil e pagar posteriormente os fretes. Bittencourt reforçou que, apesar do desejo dos moradores das ilhas, “pouco se fará se o governo não coadjuvar a multidão de chefes agrícolas que querem abraçar o convite”.20 Constatação semelhante foi feita por Luís Thomé Miranda, vice-cônsul na Ilha da Madeira, segundo o qual os moradores do local eram muito pobres para pagar o transporte.21 Mas considerações dos vice-cônsules caíram em ouvidos moucos. Em 1828, Bittencourt lamentava a falta de resposta do cônsul-geral à questão do transporte de ilhéus e afirmava que, desde agosto de 1827, não chegavam ao Faial embarcações do Brasil, o que possivelmente dificultou o transporte dos indivíduos dispostos a pagar pela viagem.
A situação nos Açores se agravou em 1829, quando o governo miguelista enviou uma esquadra ao arquipélago para derrubar o governo liberal da ilha Terceira. Em São Miguel, a esquadra ampliou as “violências e ataques” praticados pela tropa absolutista.22 Segundo o vice-cônsul Francisco Loureiro, a crise incentivou rapazes a deixarem as ilhas rumo ao Brasil para fugirem do recrutamento. Loureiro estava certo de que muitas embarcações transportavam “mancebos que vão procurar fortuna”, a maioria clandestinamente, visto que estava proibida “a saída de gente [da ilha] para o Brasil”.23
Nesse momento conflituoso, capitães e armadores de navios identificaram no desejo de fuga dos jovens uma oportunidade de negócio e aceitaram transportá-los com a condição de pagarem os fretes no destino. É o caso de António Ferreira Rocha, negociante e súdito do Império, que arrematou em São Miguel um “Bergantim inglês denominado Jane a que pôs o nome de Santo Antônio Triunfante”24 para navegar para o Brasil. Em março de 1830, Rocha chegou ao Rio de Janeiro com sua embarcação e 32 açorianos.25 Quando os ilhéus aportaram na corte, discutia-se no Parlamento um projeto de regulamentação dos contratos de trabalho realizados com imigrantes.
Após aprovada, a Lei dos Contratos de 13 de setembro de 1830 garantiu aos empregadores que os trabalhadores estrangeiros seriam encarcerados caso abandonassem o trabalho antes de sanadas as dívidas da viagem.26 Os mecanismos coercitivos da lei para impelir os imigrantes ao trabalho foram insuficientes para animar o transporte de portugueses ao Brasil no início da década, quando as animosidades com o Imperador (que resultaram em sua renúncia em 1831) ampliaram a desconfiança com os súditos da ex-metrópole. Contudo, alguns madeirenses e açorianos, possivelmente fugindo do conflito entre absolutistas e liberais, chegaram à corte entre 1831 e janeiro de 1835 a bordo das embarcações Príncipe Real27, Triumpho28, Trindade29, Luiza30 e D. Maria.31
Essas experiências pioneiras de transporte de insulares ao Rio de Janeiro ocorreram após a lei de 7 de novembro de 1831 proibir o tráfico de escravizados no Brasil. Segundo Parron, de 1831 a 1835 ela foi cumprida e “o contrabando operou à revelia do centro de decisões do Estado nacional”.32 A proibição do tráfico, a lei dos contratos e o transporte de alguns açorianos e madeirenses no início da década de 1830 animaram Baptista Caetano d’Almeida a atrair trabalhadores. Deputado por Minas Gerais, Almeida celebrou um acordo com o proprietário da barca Maria Adelaide, Lourenço Justiniano Jardim, para engajar e transportar imigrantes ao Brasil.
O acordo teve o apoio do ministro das Relações Exteriores Manoel Alves Branco, para quem a empreitada seria “de muito proveito ao Império, que muito lucrará com a aquisição de homens brancos e livres”. Alves Branco recomendou aos agentes consulares que empregassem “bons ofícios para que Lourenço Justiniano Jardim encontr[ass]e todas as facilidades no desempenho de sua comissão”.33 Os vice-cônsules receberam a brochura Colonização de açorianos para as oito províncias do Sul do Brasil, promovida por Baptista Caetano d’ Almeida”.34 Nela lê-se que:
[…] o proprietário da Barca Maria Adelaide, Lourenço Justiniano Jardim, se acha justo e contratado com Baptista Caetano d’Almeida para engajar nas ilhas dos Açores, Madeira, Porto Santo e nas Canárias, colonos de um e outro sexo desde a idade de 12 anos até 40, os quais são destinados aos trabalhos da lavoura, artes e ofícios, no serviço doméstico das cidades e vilas e na caixeria, e demais misteres da vida.
A oportunidade estava aberta a todos. Os despossuídos celebrariam um acordo com o engajador, “sujeitando-se ao pagamento do frete e despesa” quando contratados no Brasil. As dívidas seriam sanadas em 6 ou 24 meses, dependendo da idade e das habilidades do trabalhador. Portanto, “à vista destas condições e dos meios de transporte que oferece o engajador, nenhum açoriano que tenha poucos meios de subsistência em seu país natal deixará de emigrar”.35 Em suas fazendas, Almeida receberia de 100 a 200 casais que, tendo pago antecipadamente pela viagem, arrendariam os terrenos que escolhessem.
Assim, a Maria Adelaide transportaria tanto casais de lavradores para as fazendas do deputado quanto indivíduos despossuídos, transacionados à chegada. Jardim atuaria como intermediário entre Almeida e outros empregadores, e os colonos engajados nos Açores teriam auxílio da rede consular brasileira. Alves Branco, ao endossar a iniciativa, compreendeu o papel chave dos capitães dos navios na promoção da emigração. Para ser um negócio lucrativo, deveriam transportar um grande número de indivíduos, com ou sem posses e ofícios, com a coadjuvação dos agentes consulares. Iniciava-se a cooperação triangular entre empregadores no Brasil, capitães de navios e agentes consulares, fundamental ao transporte de imigrantes ao Império que persistiu mesmo durante a “política do contrabando”, ganhando ímpeto com a chegada dos Regressistas ao poder.36
A Maria Adelaide chegou ao Faial em 23 de abril de 1835. O vice-cônsul Rodrigo Alves Guerra assegurou que faria tudo que estivesse ao seu alcance para ajudar o governo em “tão importante objeto”.37 Mais tarde, Guerra comunicou que Jardim encontrara 300 interessados e se preparava para zarpar no fim de maio.38 Devido a uma dúvida quanto à emissão dos passaportes, Jardim se dirigiu à Terceira.39
O vice-cônsul da Terceira, José Maria do Amaral, comunicou ao prefeito da província a pretensão do governo brasileiro em engajar açorianos. Porém, o mesmo não compactuou com os desígnios do Império e “indeferiu a pretensão dizendo que recorressem ao governo [em Lisboa]”. 40 O vice-cônsul na Terceira teria feito, em vão, “todas as diligências a seu alcance para levar a efeito as ordens de V. Exa. [Alves Branco], até lembrando a alguns dos engajados que pedissem passaporte para ida e volta”.
Apesar dos obstáculos, a barca partiu em 20 de junho de 1835, conduzindo “cento e tantas pessoas” que se achavam “munidas de passaporte há mais tempo”.41 Em 5 de setembro de 1835, a Maria Adelaide chegou ao Rio de Janeiro com 222 ilhéus. A discrepância entre o número de passageiros indicado pelo vice-cônsul e o registrado no destino permitem supor que muitos embarcaram clandestinamente, após o despacho da embarcação.
Os esforços dos vice-cônsules foram bem recebidos por Alves Branco, que reconheceu o zelo dos agentes consulares em uma “empresa tão útil”, os congratulou pelas “provas de interesse pela prosperidade do Império” e adiantou que o governo contava com iguais serviços no futuro.42
O apoio do governo a Jardim incentivou outros capitães a engajarem trabalhadores nos Açores. Em setembro de 1835, o vice-cônsul interino em São Miguel, José Silveira, comunicou que o brigue Maria levava passageiros sem o certificado de boa-conduta exigido pelo governo imperial ao Rio de Janeiro. Questionado, o capitão afirmou que, por se tratarem de colonos, entender-se-ia com o governo, demonstrando conhecer o interesse no transporte de imigrantes. O capitão foi respaldado pelo vice-cônsul na Terceira, que não se incomodou com a ausência dos documentos, pois recebera ordens de “não transtornar a imigração que o nosso governo promove a benefício do Império”.43
Em 31 de agosto, o brigue zarpou de São Miguel com 166 passageiros, dos quais 122 vinham “da Ilha Terceira com destino para o Faial porque as autoridades daquela negaram-lhe os passaportes para o Rio de Janeiro”.44 O estratagema de embarcar indivíduos de uma ilha com documentos que os autorizavam a viajar para outra visava contornar as dificuldades impostas na Terceira. A arribada em São Miguel foi conveniente, visto que foram engajados mais indivíduos numa ilha onde não se dificultava a emigração.45 O brigue Maria chegou ao Rio de Janeiro em 4 de novembro de 1835 com 198 colonos.
A triangulação entre empregadores, agentes consulares e capitães de navios para viabilizar o transporte de portugueses ao Brasil foi crucial para o engajamento dos colonos solicitados pelo presidente do Ceará José Martiniano d’Alencar, transportados à província pelo brigue Maria Carlota. Segundo o cônsul-geral Marianno Corrêa, Alencar solicitara que diligenciasse “para aquela província duzentos açorianos laboriosos e respectivas famílias”.46
Demonstrando empenho, Corrêa enviou ao seu superior, Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, um exemplar das instruções passadas ao capitão do Maria Carlota para que engajasse colonos em conformidade com as condições oferecidas por Alencar.47 Segundo o documento, o presidente do Ceará pagaria a passagem dos colonos, que receberiam terras “para plantarem cana de açúcar, com a condição de as moerem de meação no Engenho da Fazenda”, além dos adiantamentos para a compra de ferramentas, roupas e comida para “irem pagando pelo produto do seu trabalho”. Por isso, o capitão do Maria Carlota convidava “as pessoas pobres desta ilha [de São Miguel] que queiram passar à província do Ceará” a se apresentarem. 48 Em outubro de 1837, o Maria Carlota conduziu 138 colonos, “gente laboriosa, do campo e de bons costumes”, para o Ceará.49
Contudo, conforme já se adiantou, o sucesso da tríade organizada para o engajamento de colonos esbarrava nos empecilhos colocados por algumas autoridades portuguesas. Segundo Amaral, o mestre do brigue português Terceira obteve passaportes para o Brasil a apenas 15 famílias. Porém, “como a maior parte desses colonos já estivesse disposta a seguir àquele destino”, os engajados “usaram da esperteza de requererem passagem para a ilha de São Miguel naquele mesmo navio e com efeito conseguiram”.50 A estratégia contou com auxílio do vice-cônsul, que emitiu às pressas o certificado de boa conduta aos passageiros.
Para servir ao governo interessado “na aquisição de braços portugueses”, Amaral não cobrou emolumentos dos colonos, “mui pobres a ponto de não terem conseguido pagar os fretes, nem outras despesas” indo “servir por algum tempo a quem lhos pagassem enquanto não amortizassem aquele abono”. Contudo, as autoridades da ilha enviaram uma escuna para seguir o brigue e assegurar o desembarque dos passageiros em São Miguel. Para não desembarcar os indivíduos no porto micaelense, o capitão seguiu para o Rio de Janeiro,51 aonde chegou no dia 9 de janeiro de 1836 com 124 passageiros.52
As autoridades da Terceira dificultavam a atuação de Amaral, que assegurou que, se dependesse de si, “já desta ilha tinham ido muitos colonos para o Império” pois era “incansável em vulgarizar as vantagens que resultam a todos os que ali ficam a residir, muito principalmente, os agricultores”.53 Refletindo sobre as posturas díspares das autoridades da Terceira e de São Miguel, Amaral concluiu que os empecilhos não resultavam de “instruções particulares […] do governo português para proibir a ida de colonos para o Império”.
Amaral não estava enganado. Em 1835, a elite política portuguesa começava a perceber o fluxo de indivíduos despossuídos das ilhas ao Brasil. Apesar de algumas portarias assinadas em 1836 para evitar a associação entre a emigração e o tráfico de escravizados,54 as autoridades locais tinham autonomia para conceder (ou negar) passaportes de exterior. Isso explicaria os obstáculos enfrentados na Terceira, onde o visconde de Bruges, um poderoso proprietário, se empenhava em reprimir a saída de lavradores, majoritariamente rendeiros e foreiros em suas terras. Em São Miguel, as autoridades acataram a opinião de Ernesto Biester, negociante em Lisboa e amigo do governador da ilha, que aconselhara a tolerância com a emigração.55
Para agradecer a colaboração, o cônsul-geral, Marianno Corrêa, solicitou a Biester que indicasse pessoas para os vice-consulados do Brasil nas cidades portuárias dos Açores, conforme as ordens de Alves Branco. O ministro ordenara a nomeação de vice-cônsules para as ilhas nas quais o cargo estivesse vago de modo a garantir “os necessários serviços aos navios que se destinarem a transportar dali colonos ao Império”.56 Devido aos “bons serviços que tem feito na exportação de colonos para o Brasil”, o vice-cônsul interino em São Miguel José Silveira foi efetivado, pois se achava “de boa inteligência” com as autoridades da ilha.57
Nota-se que a escolha dos vice-cônsules era influenciada por negociantes importantes ou governadores civis, o que contribuía para a boa relação dos agentes consulares com autoridades locais. A nomeação estava também sujeita às ingerências do Brasil e aos vetos em Portugal. Em 1836, o negociante português António Ferreira Rocha, proprietário do Santo Antônio Triunfante, foi nomeado vice-cônsul no Faial por recomendação de Miguel Calmon, fundador da Companhia Colonizadora da Bahia.58 Segundo o cônsul-geral, Calmon solicitou a patente de vice-cônsul a Rocha “por parte do Diretório da Sociedade de Colonização da Bahia”,59 porém a nomeação foi rejeitada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, visconde de Sá da Bandeira.
Tão logo assumiu o ministério, Sá da Bandeira redigiu um projeto de lei para encerrar o “tráfico da escravatura branca”.60 Enquanto a proposta era analisada pelo Parlamento, o ministro cassou a patente do vice-cônsul na Terceira “por se haver distinguido em promover a emigração para o Brasil”.61 O ministro impediu ainda que portugueses, “sobretudo naturais do arquipélago dos Açores”, exercessem o cargo de vice-cônsules do Império, “pois que o seu desempenho acha-se em contradição com os interesses da sua pátria, como, por exemplo, quando são obrigados a promover a tão prejudicial emigração para o Brasil dos habitantes daquelas ilhas”.62
O conflito de interesses entre os governos brasileiro e português tornava imprescindível a atuação consular para respaldar os capitães e viabilizar a emigração. Em Lisboa, Marianno Corrêa conferiu gratuitamente passaportes e demais papéis aos 150 colonos que embarcaram na galera Lízia, e permitiu que a embarcação levasse outros 38 indivíduos incluídos na matrícula como parte da tripulação por não haver tempo de emitir documentos.63 Portanto, os representantes do Império em Portugal atuavam como engajadores que dispunham de poder para “incluir na matrícula” dos navios “o maior número de operários engajados”64 possível.
O Golpe da Maioridade (1840) não modificou o cenário. Em 1841, o ministro das Relações Exteriores, Aureliano Coutinho, ordenou que se concedessem “gratuitamente passaportes a todo o indivíduo de boa conduta e industrioso que quiser emigrar para o Brasil”.65 Em resposta, o vice-cônsul em São Miguel afirmou que “por este vice-consulado se tem promovido […] a citada emigração” e assegurou que não pouparia “meio lícito a obter tão útil como necessária empresa”.66 A recomendação foi repetida em 1856 por José Maria Paranhos, que ordenou que os agentes consulares providenciassem “gratuitamente passaportes ou vistos em passaportes a todos os colonos que o solicitarem […] para emigrar para o Império”.67
A retomada do tráfico na ilegalidade tampouco afetou o transporte de portugueses despossuídos, provavelmente devido às incertezas quanto à longevidade do contrabando. Organizada, a tríade que viabilizava a emigração para o Brasil continuou atuando. Nos Açores, o transporte de despossuídos seguiu contando com os vice-cônsules, que visavam gratuitamente os passaportes e nenhuma medida tomavam quando os capitães levavam indivíduos indocumentados. Em 1849, o vice-cônsul na Terceira visou os passaportes dos 105 emigrantes transportados pelo brigue Rápido.68 Em 1851, o brigue Rival transportou 216 indivíduos, dos quais apenas 85 levavam passaporte, e o patacho Visconde de Bruges embarcou 246 pessoas, sendo apenas 106 documentadas. Segundo o vice-cônsul, era “certo que os navios com destino ao Império levam a maior parte de pessoas sem passaporte”.69
Da Madeira, o vice-cônsul remetia notícias sobre a situação econômica da ilha que, na década de 1840, “ressentia-se do movimento depressionário da cultura e comércio do vinho porque faltavam os mercados para o excedente deste, situação que abalou profundamente a estrutura socioeconômica madeirense”70. Por isso, segundo Miranda, “a mais bela gente desta ilha pode e deseja se transportar para o [meu] país”. Porém, “sua muita pobreza lhe serve de obstáculo”, razão pela qual sugeria que o governo mandasse buscar colonos.71
O governo imperial alegou que as circunstâncias do tesouro não permitiam tal dispêndio de capital,72 demonstrando satisfação com a estratégia até então seguida na qual particulares arcavam com as despesas que recaíam sobre os imigrantes. Então, Miranda tomou, para si a tarefa de impulsionar a emigração: legalizou gratuitamente os passaportes dos colonos embarcados no patacho Zargo, possibilitando que “alguns indivíduos fossem a bordo sem que este governo soubesse”; e promoveu a emigração de 206 colonos na barca Thereza, majoritariamente “homens de ofício”, aos quais passou “gratuitamente os papeis” para “ser útil ao país”. Além disso, doou 200 mil réis a uma família que viajou na barca Pons, que levou 110 colonos ao Rio de Janeiro.73
A presença dos imigrantes portugueses na corte foi repetidamente relatada pelo cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro. Segundo João Baptista Moreira, os açorianos substituíam os escravizados no transporte de água dos chafarizes às casas dos habitantes e se empregavam na lavoura, os de Lisboa, com ofícios, celebravam contratos vantajosos; os do Minho eram empregados no comércio e muitos da Madeira trabalhavam nas obras das estradas da província.74 Assim, com o auxílio dos agentes consulares, imigrantes portugueses com ou sem posses, qualificação ou documentos eram transportados às cidades portuárias brasileiras, que se transformavam em “zonas de trabalho misto” onde conviviam trabalhadores livres, semi-livres, escravizados e libertos, além de marinheiros, prisioneiros e soldados de diferentes proveniências.75
2. Nos gabinetes: representantes do Brasil e as políticas portuguesas
Os responsáveis pela Legação do Brasil em Lisboa também foram envolvidos na promoção da emigração. Em 1835, formada a Companhia Colonizadora da Bahia, Alves Branco ordenou ao responsável pela Legação em Lisboa que auxiliasse os agentes da companhia e enviasse semelhantes recomendações aos cônsules e vice-cônsules.76 A ordem foi renovada por José Ignácio Borges, que reforçou o intuito “do governo em promover a emigração para o Império”, determinando o favorecimento das operações levadas a cabo pelos agentes da Companhia.77
Em 1837, Antônio Limpo de Abreu remeteu à Legação as diretrizes para pagamento de passagens de colonos adotadas pela Sociedade Promotora da Colonização do Rio de Janeiro, que deveriam ser observadas quando se tratasse “de assunto tão interessante para o Império”.78 Em 1842, Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho lembrou “o quanto convém que […] dessas possessões portuguesas [Açores] venham ilhéus industriosos para este Império”.79
Porém, esperava-se mais dos responsáveis pela Legação. A eles cabia circular pelos gabinetes ministeriais e pelas galerias do Parlamento português interferindo nas políticas emigratórias, além de combater a opinião pública contrária à emigração. Ciente dos obstáculos enfrentados na Terceira, Alves Branco ordenou a Teixeira de Macedo, responsável pela Legação, que solicitasse ao Ministério português que não se pusesse “impedimento algum às embarcações brasileiras que ali forem contratar o transporte de colonos para o Império”, assunto de “suma transcendência para o Brasil […] que tanto precisa[va] de população branca”.80
Macedo também deveria reverter a demissão do vice-cônsul da Terceira por Sá da Bandeira. Contudo, conhecendo a intransigência do visconde com a emigração, decidiu aguardar a recomposição do ministério setembrista81 e a saída de Sá da Bandeira dos Negócios Estrangeiros para questionar a proibição da nomeação de súditos portugueses nos vice-consulados do Brasil. Porém, Macedo deixou a Legação antes que Sá da Bandeira saísse do Ministério.
Em 1838, Salvador Pereira da Costa, à frente da Legação, procurou reverter a opinião pública contrária ao Império e respondeu a um artigo publicado no jornal Nacional, que tratava de “inóspito o Brasil, para embaraçar a emigração”.82 Na resposta - assinada como “Um brasileiro” -, Costa acusou o jornal de aderir às ideias de que, no Império, “se trafica com brancos como se traficava com pretos” e de que o Brasil estava “entregue à devastação da guerra civil”. Para confrontar tais juízos, solicitou a publicação da lei de locação de serviços de 1837 “a fim de que se veja como são tratados [os imigrantes] no Brasil” e as garantias dadas aos “portugueses que, acossados pela miséria em sua pátria, vão locar seus serviços e procurar fortuna no Império”.83
O combate ao discurso da “escravatura branca” ocupou os representantes do Brasil. Em 1839, no Senado, Sá da Bandeira afirmou que chegara a Pernambuco uma embarcação proveniente do Faial com “cento e tantos indivíduos, alguns velhos, os quais foram imediatamente para a Praça a fim de serem vendidos como escravos” e chamou a atenção para a forma como eram feitos os contratos, pelos quais podia “tornar-se indefinida essa sorte de cativeiro”.84 Em resposta, Vasconcellos Drummond encaminhou um artigo ao Correio de Lisboa, que não o publicou na íntegra.85 Naquele ano, o projeto redigido por Sá da Bandeira em 1836 que visava regulamentar o transporte de emigrantes aguardava discussão no Parlamento.
Em 1842, o projeto originou a portaria de 19 de agosto, que estipulou as condições de transporte de emigrantes em dois passageiros para cada cinco toneladas a lotação máxima dos navios.86 Preocupado, Drummond comunicou Oliveira Coutinho sobre as “providências tendentes a pôr embaraços à emigração portuguesa para o Brasil”.87 Embora considerasse a portaria “nula e inexequível”, estava certo de que ela visava “hostilizar os interesses do Brasil”. Por isso, pretendia “reclamar com a maior energia” se as disposições fossem aplicadas aos navios brasileiros. O diplomata queria ainda declarar que o Império proibiria “que os navios portugueses transport[ass]em passageiros dos portos do Império para os do reino de Portugal” até que a portaria fosse revogada. Oliveira Coutinho recomendou que Drummond fizesse as reclamações cabíveis sem anunciar qualquer retaliação. 88 O ministro acreditava que a portaria não dificultaria a emigração, sendo desnecessário criar um atrito diplomático com Portugal.
A portaria provocou reações dos comerciantes do Porto, que lograram alterar algumas de suas disposições.89 Drummond tomou para si os louros das mudanças feitas ao diploma e afirmou ter conseguido “o mais que foi possível obter para modificar as disposições” da portaria de 1842. Em suas palavras, “permaneciam as coisas como se tal portaria não tivesse tido lugar, o que aliás não teria acontecido se por ventura eu me tivera mostrado frouxo”.90 Não foi possível averiguar se o diplomata contribuiu para as alterações. Contudo, ao tomar para si a responsabilidade, Drummond demonstrava cumprir sua missão: interferir nas políticas emigratórias portuguesas.
Finalmente, em 1843, o projeto de Sá da Bandeira para regulamentar a emigração entrou em discussão no Parlamento. Dois dias depois de sua aprovação na generalidade, o visconde de Laborim sugeriu adiar o debate por entender que o projeto contrariava o direito de emigrar consagrado na Constituição portuguesa.91 A sugestão foi acatada e o projeto engavetado. Para tanto, contribuiu o impacto da campanha movida pela Associação dos Comerciantes do Porto (ACP) contra a portaria de 1842, que reforçou na opinião pública as vantagens do fluxo emigratório de jovens comerciantes minhotos que, enriquecidos no Brasil, investiam na pátria a fortuna amealhada. A ACP alargou o sentido da emigração, que deixou de ser sinônimo de “escravatura branca”.92
Drummond apresentou outra explicação para a abrupta mudança de opinião dos parlamentares: “por meios particulares, pude obter que se propusesse um adiamento [da discussão do projeto] e que esse adiamento fosse aprovado com a ponderação que o negócio exigia”.93 Embora não seja possível afirmar a participação dele, não se pode descartar a atuação do diplomata para desmoralizar Sá da Bandeira. O visconde, “fanático pelo seu país”, além de tentar reprimir a emigração, empenhava-se em passar “uma lei para abolir a escravidão nas colônias portuguesas”, o que “traria graves consequências ao Brasil”.
Importa aqui reforçar o quanto as problemáticas da emigração e da escravidão estavam imbrincadas. Como observou João Pedro Marques, as águas do abolicionismo não desaguaram em Portugal, onde Sá da Bandeira era dos poucos abolicionistas convictos. Para o visconde, seria impossível construir um “novo Brasil em África” enquanto persistisse o tráfico de escravizados e a escravidão.94 Contudo, em um país onde se falava mais da suposta “escravidão branca” do que da escravização de negros, 95 o projeto colonial de Sá da Bandeira não avançaria se ele não demonstrasse empenho em combater a emigração para o Brasil.
No Brasil, a ilegalidade do tráfico, ainda que protegido pelas autoridades brasileiras, aumentou os riscos da operação, cuja longevidade estava ameaçada. Segundo Parron, as apreensões de tumbeiros pelos britânicos cresceram e “o número de cativos trazidos para o Brasil despencou de 55 mil, em 1839, para 25 mil”, em 1842.96 Por um lado, os projetos abolicionistas de Sá da Bandeira representavam uma ameaça a mais à continuidade do tráfico, mas por outro, sua proposta para regulamentar o transporte de emigrantes comprometia o abastecimento de mão de obra lusitana no Brasil. Daí o empenho do representante brasileiro em combater o visconde.
As imbricações entre escravidão e colonização ficam evidentes em um ofício propondo o incentivo à emigração de galegos, enviado por Drummond ao então ministro Carneiro Leão, defensor do tráfico e da escravidão. Para o diplomata, o caminho para uma “lenta abolição da escravatura” se iniciava libertando “as cidades da necessidade de ter escravos” por meio do envio de imigrantes para os serviços da alfândega, dos arsenais da marinha e do exército e outras repartições do Estado. A seu ver, seria absurdo querer “derrubar matas e cultivar campos com colonos livres enquanto as cidades marítimas são servidas por escravos africanos”. 97
Para que os imigrantes fossem para os campos, era preciso saturar as cidades principais de “artífices brancos”, de modo que o excedente se interiorizasse. Sem trabalho urbano, os artífices escravizados seriam empurrados para “pontos mais remotos”, de modo que “com o volver dos tempos, não se falará mais em escravatura no Brasil, posto ainda exista nele muitos escravos”. Assim, “nem as cidades sofrerão por falta de quem as sirva, nem as terras deixarão de ter cultivadores com a completa abolição do tráfico da escravatura”.
Importa observar que, embora a necessidade de atrair colonos fosse consensual entre as elites políticas brasileiras, havia discórdia quanto à etnia mais conveniente ao país e às melhores estratégias para atrair estrangeiros. Segundo Alencastro e Renaux, para a elite agrária em busca de mão de obra, “os imigrantes poderiam ser de qualquer raça”. Já para a “burocracia imperial e a intelectualidade”, preocupadas em “civilizar” o Brasil, os imigrantes deveriam ser brancos e cultivar “terras por conta própria”.98 Parron, por sua vez, observou que saquaremas como Bernardo de Vasconcelos pretendiam importar africanos como “colonos livres”, enquanto liberais como Vergueiro defendiam “imigração subsidiada por companhias particulares” de “colonos europeus”.99 Por isso, não se pode confundir o plano de Drummond com um projeto concertado do governo imperial, mas se pode afirmar que a proposta, ao fomentar a imigração livre como “fonte paralela - e não excludente - de mão de obra barata”,100 visava proteger o sistema escravista e se articulava à “política da escravidão”.
A tríade formada em prol da imigração pós-1831 viabilizou um fluxo de trabalhadores portugueses despossuídos ao Brasil, que poderiam tanto ser aproveitados na cafeicultura quanto trabalhar nas cidades, liberando os escravizados urbanos para serem empregados nos campos. O afluxo de imigrantes fornecia, assim, uma fonte alternativa de mão de obra e contribuía para a perenidade da escravidão. Por isso os representantes do Brasil em Portugal incentivavam a emigração portuguesa, especialmente a açoriana.
Inserido no debate inaugurado pela ACP após a publicação da portaria de 19 de agosto de 1842, Drummond distinguia os fluxos emigratórios portugueses. Para o diplomata, a emigração valorizada pelos comerciantes do Porto, “quase exclusivamente composta de rapazes que se destinam ao comércio”, era a menos interessante para o Brasil. Não por acaso, a emigração insular seria mais combatida pelo governo português que a do Minho: enquanto a primeira “dá homens para o trabalho rural do Brasil”, a segunda produzia “ricos pares do reino”; enquanto a primeira “lavra a terra”, a segunda “vincula para sempre o comércio do Brasil em mãos estrangeiras”. 101
Para garantir o fluxo de emigrantes das ilhas, Drummond defendeu que a polícia da corte não obstasse o ingresso no país de açorianos e madeirenses sem passaportes. Questionado102 sobre o transporte de clandestinos pelos brigues Leal,103 Nova Sociedade,104 Terceira105 e Boa Fortuna,106 Drummond assim explicou as causas de tal falta: “uma consiste nos obstáculo que encontram para obtê-lo [o passaporte] das autoridades do país; e a outra no preço […] de cada passaporte, além das despesas provenientes de habilitações de polícia e de outros embaraços”.107
Deixar o país sem passaporte seria o “único meio que têm [os ilhéus] para iludirem as autoridades ou não pagarem, porque pela maior parte não têm com o que paguem”. Elucidadas as razões da emigração indocumentada e “conhecida a necessidade que tem o Brasil de receber gente branca”, Drummond concluiu: “desvanecer embaraços e facilitar meios de animar a emigração é o que, quanto a mim, nos compete fazer”. Em resposta, Paulino Soares de Sousa assegurou ter remetido explicações ao chefe de polícia da corte e ordenado que não embaraçasse “a introdução de colonos no Império”.108
O desvanecimento dos embaraços à emigração ganhou acuidade na década de 1850, quando o governo português procurou regulamentá-la. Entre 1853 e 1855, os abusos cometidos por capitães que sobrelotavam os navios tiveram intensa repercussão em Portugal. Em 1853, o patacho Arrogante chegou ao Recife com mais de 300 indivíduos a bordo depois de oficialmente deixar a ilha de São Miguel com apenas 98 passageiros autorizados a embarcar.109 Em 1855, a barca Defensor zarpou do Porto com 213 pessoas documentadas e chegou ao Pará com 298 passageiros a bordo, sem contar os 35 que morreram durante a viagem.110 Tão logo teve notícia da tragédia da Defensor, o ministro do Reino redigiu um projeto de lei que, debatido e aprovado pelo Parlamento, originou a carta de lei de 20 de julho de 1855. O projeto visava reprimir a emigração clandestina, tendo por alvo os capitães que sobrelotassem os navios e transportassem passageiros indocumentados. Devido a alterações feitas pela Câmara dos Deputados, o texto aprovado mirava também os contratos de locação de serviços. Pelo artigo 11º, os contratos deveriam indicar o estabelecimento ou o indivíduo para quem o emigrante prestaria serviços e trazer a cláusula expressa de não poderem ser cedidos a terceiros.
A lei entrou em rota de colisão com o modelo de negócio adotado pela Associação Central de Colonização do Rio de Janeiro (ACC), cujos estatutos foram aprovados em 1855. De acordo com o regulamento, a associação subsidiaria o transporte e a hospedagem dos colonos até que fossem contratados por quem se comprometesse a quitar suas dívidas em quatro anos.111 Contando com a participação de figuras relevantes do Brasil imperial112 - como Luiz Peixoto de Lacerda Werneck, José de Alencar, Teófilo Ottoni, o marquês de Monte Alegre, o marquês de Abrantes, o barão de Mauá e o visconde de Ipanema - a associação celebrou um acordo com o governo em 1857 para importar de 50 mil colonos ao país em cinco anos.113 Para tanto, o ministro do Império, marquês de Olinda, recomendou aos representantes brasileiros que prestassem aos agentes da associação “toda a coadjuvação, apoio moral e proteção”.114
A ACC atuava como intermediária entre os imigrantes e os interessados em engajá-los, por isso os contratos celebrados em Portugal não informavam a quem os serviços seriam prestados. Era também impossível aos agentes da associação se comprometerem em não repassar o contrato a terceiros, visto que era justamente esse o intuito da ACC. A incompatibilidade entre a atuação da companhia e a lei portuguesa foi notada pelo cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, que em 1858 solicitou ao governador civil do Porto que recomendasse ao agente da ACC, Joaquim Villares, o cumprimento da legislação.115
No ano seguinte, o ministro Silva Paranhos expôs ao responsável pela Legação em Lisboa, Antônio Maciel Monteiro, o conteúdo de uma representação do presidente da ACC sobre os embaraços postos pelas autoridades portuguesas à saída “de uma porção de colonos” contratados pelo agente da associação no Porto. Reconhecendo “a necessidade de proteger quanto for possível a emigração desse Reino para o Império […] por ser a fonte que atualmente nos fornece a maior quantidade de braços”, o ministro solicitou a intervenção de Monteiro.116
O diplomata confirmou “os fatos narrados pelo presidente” da ACC, que fariam parte de uma deliberação do governo para “estorvar cada vez mais a saída de colonos” devido a preconceitos “acerca da futura sorte dos emigrantes”.117 No ofício, o informou o conteúdo da recém-publicada portaria de 2 de julho, proibindo a saída de colonos com contratos intermediados por Villares ou outro agente da ACC.118
Encarregado de “obter a suspensão da portaria”,119 Monteiro realizou “duas largas conferências” com o ministro do reino, Fontes Pereira de Mello. Muito embora esse tenha manifestado “bons desejos em condescender”, recusou-se a revogar a portaria devido às ofensas a ele feitas pelo agente Villares em periódicos do Porto. No entanto, sugeriu substituir Villares, afiançando que assim a ACC poderia voltar a atuar.120
A associação consentiu na demissão de Villares, e o visconde de Sinimbu, no cargo de ministro das Relações Exteriores, insistiu que Monteiro cobrasse a revogação da portaria. A medida era urgente, pois se aproximava “a colheita do café” e os fazendeiros não dispunham “de braços suficientes para acudir a ela e recorrem à Associação para obterem, por seu intermédio, os trabalhadores” necessários.121
O nome do novo agente da associação, José Paes Sampayo, foi enviado ao ministro do Reino com a cobrança do “cumprimento da solene promessa” de reabilitação da ACC no Porto.122 Perante a inação do governo português,123 Monteiro enviou uma representação ao ministro dos Negócios Estrangeiros em março de 1861, afirmando que a querela se convertera em “questão internacional” devido ao não cumprimento de um “compromisso solene” assumido pelo governo português.124
Por fim, o vice-cônsul no Porto, percebendo a oposição sofrida por Paes Sampayo junto às autoridades locais, recomendou à ACC a nomeação de Manoel Joaquim Pinheiro, possivelmente melhor relacionado no Norte do país. Segundo o vice-cônsul, “aplanaram-se as dificuldades” com essa nomeação, de modo que Pinheiro “tem já contratado e expedido para o Brasil muitos colonos”.125 Ciente da solução, o ministro Silva Paranhos recomendou que não se insistisse na revogação da portaria de 2 de julho.126
O caso da ACC evidencia a importância da atuação em diferentes níveis dos representantes do Brasil em Portugal. Ao responsável pela Legação cabia buscar soluções oficiais aos obstáculos à emigração, e aos vice-cônsules, familiarizados com as realidades locais, cabia encontrar saídas alternativas, que passavam pelas relações pessoais com autoridades locais.
Apesar dos esforços do governo português, a emigração prosseguia. No fim da década de 1850, as autoridades portuguesas aventavam outra abordagem: um acordo com o Brasil que homogeneizasse a legislação de transporte de emigrantes e garantisse os interesses lusos “na tutela dos emigrantes contratados”.127 Em 1859, Monteiro afirmou que membros do governo português manifestaram o desejo de “regular as operações de emigração por uma convenção”.128 Naquele ano, o ministro de Portugal no Brasil, conde de Tomar, solicitou ao ministro dos Negócios Estrangeiros instruções para elaborar uma proposta de acordo. 129
Monteiro duvidava do compromisso do governo português e considerava que, mediante a decadência de Portugal, o despovoamento era “um desses fatos naturais […] que não podem ser obstados pela vontade humana”.130 Apesar das reticências do diplomata, o ministro visconde de Sinimbu se mostrou aberto à proposta e declarou ao conde de Tomar estar “pronto a dar começo àquela negociação”.131 Ocupando o ministério, Sá e Albuquerque defendeu ser “de toda a conveniência resolver as dificuldades existentes por um acordo que, satisfazendo as necessidades da colonização por parte do Brasil, ofereça à emigração portuguesa as garantias que deseja o governo de S. Majestade”.132
A despeito da aparente disponibilidade dos governos, o acordo não aconteceu. A proposta redigida pelo conselheiro da Legação portuguesa no Brasil não interessava ao Brasil e visava apenas garantir a autoridade portuguesa na matéria. O principal ponto de discórdia se relacionava à pena de prisão dos emigrantes por quebra de contrato, prevista pela lei de locação de serviços de 1837.133 O desejo das autoridades portuguesas de proibir o encarceramento de emigrantes endividados que descumprissem os contratos contrariava a estratégia encontrada pelas elites brasileiras para viabilizar a imigração de indivíduos despossuídos e disciplinar a mão de obra estrangeira.
Em 1863, o ministro de Portugal no Brasil tentou iniciar as tratativas do acordo com o governo brasileiro. Porém, tanto o ministro das Relações Exteriores, marquês de Abrantes, quanto o ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Pedro de Alcântara Bellegarde, sugeriram o adiamento das tratativas, alegando a necessidade de alterar a lei de 1837 para a assinatura do acordo.134
3. Para as cidades e os arsenais: operários e artífices
Importa agora demonstrar brevemente que a proposta de Vasconcellos Drummond, pela qual era necessário saturar as cidades com artífices e liberar a mão de obra escravizada para o trabalho na lavoura, de certa forma foi executada. Desde a Regência, os governos provinciais e imperial recorriam aos representantes do Brasil em Portugal para assegurar a disponibilidade de trabalhadores qualificados no país. Portanto, não eram apenas os empregadores privados que compunham, junto dos capitães de navios e agentes consulares, a tríade que incentivou a emigração portuguesa. Ministros do Império e presidentes de província aproveitaram a formação da rede de engajamento e transporte para contratar portugueses e complementar a mão de obra escravizada ou substituí-la, fazendo com que a escravidão prosseguisse inabalada nos campos.
O engajamento de marinheiros e operários para os Arsenais da Marinha e da Guerra parece ter sido o que mais ocupou o tempo dos agentes consulares. Quanto ao primeiro, pode-se afirmar que os portugueses com ofícios recrutados pelos agentes consulares participaram desse “espaço caleidoscópico e multifacetado” que era o Arsenal da Marinha. Segundo Alves-Melo, nele conviviam “índios de diferentes grupos étnicos, preferencialmente engajados como remadores, africanos livres que dividiram o espaço das oficinas” e “operários especializados como carpinteiros de machado, escravos de origem africana levados pelos seus senhores para ganho, ‘escravos da nação’ e um sem número de prisioneiros”.135 Soares e Gomes observaram ainda que, na primeira metade do XIX, o Arsenal representava “um sistema prisional com dimensões internacionais”, que utilizava trabalho compulsório e reunia “escravos, libertos, livres, soldados e marinheiros, estes de várias origens e procedências”,136 sendo muitos portugueses.
Em fevereiro de 1837, o ministro da Marinha, Salvador Maciel, ordenou o pagamento das passagens137 dos “operários ajustados para o serviço do Arsenal da Marinha”138 pelo cônsul-geral, transportados pelo Monte Deserto.139 Pelo mesmo ofício, Maciel encaminhou a avaliação dos ditos operários, realizada pelo inspetor do Arsenal, e a análise da pertinência dos jornais acertados para orientar futuros engajamentos. Naquele mesmo mês, o cônsul-geral Marianno Corrêa comunicava que, pelo brigue Tino, remetia “para servirem no Arsenal da Marinha nessa corte quatro operários ajustados segundo as ordens” transmitidas por Maciel.140 Em abril, Corrêa assegurou que, no Porto, “mais de trinta operários para o Arsenal da Marinha” aguardavam a obtenção de passaporte para embarcar.141
No ano seguinte, Maciel Monteiro se desculpou por não remeter os “espingardeiros pedidos para o Arsenal do Exército”, alegando a falta de tempo para o engajamento. No entanto, afirmou que dentre os “cento e tantos colonos que leva[va]” o Monte Deserto, alguns eram espingardeiros e outros carpinteiros e serralheiros. Monteiro enviou a relação desses indivíduos e solicitou ao capitão que “antes de dar destino aos ditos colonos”, os pusesse à disposição do governo imperial.142
Em 1842, Vasconcelos Drummond engajou 11 artífices para o Arsenal da Marinha a serem transportados pelo brigue Caravanne e remeteu ao ministro da Marinha as despesas feitas com passagens e passaportes. O responsável pela Legação se comprometeu a enviar, pela barca Lízia, “um maior número de indivíduos engajados para as repartições públicas dessa corte”.143 Meses depois, Drummond afirmava que, a bordo do Caravanne e da Lízia, foram “7 serralheiros para o Arsenal de Guerra” e “13 carpinteiros de machado e um torneiro de metal” ao Ministério da Marinha, totalizando “20 artífices, quase todos casados que levaram suas mulheres e filhos”.144
A bordo do Caravanne seguiam também 14 carpinteiros e serralheiros e seus respectivos familiares, contratados pelo cônsul-geral, que era encarregado de “ajustar operários de determinados ofícios para irem servir nessa corte”.145 Pelo contrato de engajamento, o governo pagava a viagem e fornecia o necessário ao estabelecimento dos operários no país, e eles aceitavam servir no Rio de Janeiro. Do salário, seria deduzida uma quantia até que fossem pagos os adiantamentos feitos pelo governo.146
Ainda em 1842, os representantes do Brasil em Portugal foram encarregados de “empregar as diligências necessárias a fim de se obterem nos portos do reino marinheiros para o serviço da Armada Imperial”,147 que seriam transportados ao Brasil pela fragata Paraguasú para servir por três anos mediante salários variados. Em novembro, já haviam sido engajados 387 marinheiros, com contratos regulados pela lei de 1837.148 Viajaram ainda na fragata sete operários, “pois mesmo que o governo deles não carecesse, eram indivíduos úteis que iam aumentar a população do Brasil”.149
Em 1857, o presidente de Pernambuco solicitou carpinteiros e canteiros para o Arsenal da Marinha da província. O governo adiantaria o custo do transporte aos engajados, que se comprometiam a “trabalhar nas oficinas do Arsenal […] e mais estabelecimentos e obras do governo”150 pelo prazo de três a seis anos. Posteriormente, foram também solicitados pedreiros e carpinteiros a serem empregados nas mesmas condições.151 Em abril de 1858, o cônsul-geral enviou “22 operários dos ofícios de canteiro, pedreiro e carpinteiro”, contratados por três anos “para o Arsenal da Marinha e mais obras públicas” de Pernambuco.152
Mas o recrutamento de mão de obra especializada nem sempre era fácil. Em 1836, o vice-cônsul no Porto encontrava dificuldades em engajar ferreiros e carpinteiros, cujos jornais subiam na cidade. Muitos tinham “uma vinha ou um pequeno campo donde colhem parte do sustento”, e aceitariam emigrar apenas mediante salários mais altos - dos quais ainda seriam descontados os fretes.153 A resistência dos trabalhadores evidencia que os agentes consulares não eram um elo passivo entre indivíduos que já desejavam emigrar, capitães e empregadores. Eles atuavam como verdadeiros recrutadores de mão de obra, animando e incentivando a emigração.
A documentação diplomática levantada no Arquivo do Itamaraty abriu uma janela para o oitocentos, pela qual foi possível observar ainda na Regência a articulação entre representantes do Brasil em Portugal, empregadores que buscavam mão de obra e capitães de navios para viabilizar o transporte de portugueses despossuídos ao Império. Perante as incertezas quanto ao futuro do tráfico, a tríade possibilitou um fluxo de trabalhadores complementar à mão de obra escravizada e a liberação dos escravizados urbanos para a lavoura, viabilizando a longa duração da escravidão.
Enquanto os capitães de navios lucravam com o transporte de imigrantes, cônsules e vice-cônsules cooperavam no engajamento de trabalhadores, animando a emigração das cidades portuárias portuguesas, e os responsáveis pela Legação em Lisboa se empenhavam em influenciar as políticas emigratórias lusitanas. Com isso, empregadores no Brasil, incluindo os ministérios do Império e os governos provinciais, dispunham de uma mão de obra barata e dócil, presa a contratos regulamentados por um arcabouço legal que impelia os imigrantes ao trabalho até que quitassem suas dívidas de viagem.
Assim, através da janela aberta pelo Arquivo do Itamaraty, foi possível ver nas cidades portuárias portuguesas agentes do Brasil e capitães de navio incentivando uma emigração que não se deu de forma autônoma e independente, a qual diversificou a mão de obra disponível nas cidades portuárias brasileiras.
Bibliografia
- ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Proletários e escravos: imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio de Janeiro (1850-1872). Novos Estudos, São Paulo, n. 21, p. 29-56, 1988.
- ALENCASTRO, Luiz Felipe de e RENAUX, Maria Luiza. Caras e modos dos migrantes e imigrantes. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). História da vida privada no Brasil: Império- vol. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 291-337.
- ALVES, Jorge Fernandes. Os brasileiros: emigração e retorno no Porto oitocentista. Porto: Reunidos, 1994.
-
ALVES-MELO, Patrícia. Trabalho e trabalhadores livres: Os índios no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, século XIX. Topoi, Rio de Janeiro, v. 23(50), 2022, p. 497-515. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101X02305008
» https://doi.org/10.1590/2237-101X02305008 - BASTOS, Cristiana e SPRANGER, Ana Isabel. Da Madeira a Demerara em 1847: fome, fuga e futuros incertos. Revista Islenha, Funchal, n. 68, 2021, p. 37-50.
-
BRANDON, Pepijn, FRYKMAN, Niklas e ROGE, Pernille. Free and unfree labor in Atlantic and Indian Ocean port cities (17th-19th centuries). International Review of Social History, Cambridge, vol. 64, 2019, p. 1-18. https://doi.org/10.1017/S0020859018000688
» https://doi.org/10.1017/S0020859018000688 - BROWNE, George P. Política imigratória no Brasil Regência. Revista do IHGB, Rio de Janeiro, vol. 307, 1975, p. 37-48.
- CARVALHO, Marcus de. O ‘tráfico da escravatura branca’ para Pernambuco. Revista do IHGB. Rio de Janeiro, vol. 149(358), 1998, p. 22-51.
- CORDEIRO, Carlos. A emigração açoriana para o Brasil nos debates parlamentares de meados do século XIX. In: SOUSA, Fernando et al (coords). Um passaporte para a terra prometida. Porto: Cepese e Fronteira do Caos, 2011, p. 83-94.
-
CRAVO, Télio; RODRIGUES, Pedro e GODOY, Marcelo. Imigração internacional e contratos de trabalho no Centro-Sul do Brasil na década de 1830: colonos artífices na construção de estradas em Minas Gerais. Almanack, São Paulo, n. 25, 2020. https://doi.org/10.1590/2236-463325ea00519
» https://doi.org/10.1590/2236-463325ea00519 -
CHRYSOSTOMO, Maria Isabel e VIDAL, Laurent. Do depósito à hospedaria de imigrante: gênese de um ‘território de espera’ no caminho da emigração para o Brasil. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, vol. 21(1), 2014. https://doi.org/10.1590/S0104-59702014005000008
» https://doi.org/10.1590/S0104-59702014005000008 -
GALVANESE, Marina Simões. Criação e fracasso de um projeto: Sá da Bandeira e a tentativa de regulamentar a emigração portuguesa para o Brasil (1835-1843). Varia História. Belo Horizonte, 35 (69), 2019. https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300006.
» https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300006 - GALVANESE, Marina Simões. Os sentidos da emigração portuguesa: discursos, diplomas e políticas entre Portugal e Brasil (1835-1914). Tese (Doutorado em História Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.
-
GALVANESE, Marina Simões. Imigrantes açorianos na transição da escravatura para o trabalho livre no Brasil (décadas de 1830 e 1840). Revista de História. São Paulo, 181, 2022. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2022.181788.
» https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.2022.181788 - HERCULANO, Alexandre. A emigração para o Brasil. Diário do Governo. Lisboa: n. 12, 1838, p. 47-48.
- LAGO, Luiz Aranha Corrêa. Da escravidão ao trabalho livre, Brasil (1550-1900). São Paulo: Companhia das Letras , 2014.
- LEITE, Joaquim da Costa. Emigração portuguesa: a lei e os números (1855-1914). Análise Social. Lisboa, vol. XXIII(97), 1987, pp. 463-480.
- MARQUES, João Pedro. Os sons do silêncio. O Portugal de oitocentos e a abolição do tráfico de escravos. Lisboa: ICS, 1999.
- MARQUES, João Pedro. Sá da Bandeira e o fim da escravidão: vitória da moral, desforra do interesse. Lisboa: ICS , 2008.
-
MELÉNDEZ, José Juan Pérez. Reconsiderando a política de colonização no Brasil imperial: os anos a Regência e o mundo externo. Revista Brasileira de História, vol. 34 (68), p. 35-60, 2014. https://doi.org/10.1590/S0102-01882014000200003.
» https://doi.org/10.1590/S0102-01882014000200003 - MELÉNDEZ, José Juan Pérez. The business of peopling: colonization and politics in Imperial Brazil (1822-1860). Tese (Doutorado em História). Universidade de Chicago, Ilinois, 2016.
- MENDONÇA, Joseli Maria. Leis para ‘os que se irão buscar’ - imigrantes e relações de trabalho no século XIX brasileiro. História: questões e debates, nº 56, 2012, p. 63-85.
- MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS. Documentos sobre a emigração portuguesa coligidos e publicados por ordem do ministro dos Negócios Estrangeiros. Lisboa: Imprensa Nacional, 1873.
- PARRON, Tâmis Peixoto. Política do tráfico negreiro: o Parlamento imperial e a reabertura do comércio de escravos na década de 1830. Estudos Afro-Asiáticos, 29 (1/2/3), 2007, p. 91-121.
- PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão no Império do Brasil (1826-1865). Dissertação (Mestrado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 18º ed.São Paulo: Brasiliense: 1976.
- RIBEIRO, Gladys Sabina. A liberdade em construção. Identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: Faperj, Relume-Dumará, 2002.
- SCOTT, Ana Silvia Volpi. Uma história de despedidas: a emigração portuguesa para o Brasil (1822-1914). Revista de Ciências Humanas. Florianópolis, nº 27, 2000, p. 29-56.
- SCOTT, Ana Silvia Volpi. As duas faces da imigração portuguesa para o Brasil (décadas de 1820-1930). In: CONGRESSO DE HISTÓRIA ECONÓMICA DE ZARAGOZA, 2001, p. 1-28.
-
SOARES, Carlos Eugênio e GOMES, Flávio. Revoltas, marinheiros e sistema prisional no Arsenal da Marinha: notas sobre o trabalho compulsório e cultura política num Rio de Janeiro Atlântico (1820-1840). História Social. Campinas, n. 12, 2006, p. 11-33. https://doi.org/10.53000/hs.n12.183
» https://doi.org/10.53000/hs.n12.183 - SOUZA, Marjorie Carvalho de. Negotiating the terms of wage(less) labour: free and freed workers as contractual parties in 19th century Rio de Janeiro. In: BATISTA, Anamarija; Müller, Viola; Peres, Carolina(eds.). Coercion and wage labour: exploring work relations through History and Art. London: UCL Press, 2024, p. 253-271.
-
3
Herculano, 1838.
-
4
Ribeiro, 2002, 145.
-
5
Prado Júnior, 1976.
-
6
Leite, 1987.
-
7
Scott, 2001, 25.
-
8
Scott, 2000, 30.
-
9
Alves, 1994.
-
10
Alencastro, 1988, 37.
-
11
Ribeiro, 2002,
-
12
Browne, 1975, 37.
-
13
Lago, 2014, 66. O livro resulta da tese de doutorado do autor defendida em 1978.
-
14
Meléndez, 2014, 45.
-
15
Meléndez, 2014, 56.
-
16
Meléndez, 2016.
-
17
Meléndez, 2014, 255.
-
18
Vice-cônsul no Funchal ao cônsul-geral em Lisboa (doravante apenas cônsul-geral), 02.09.1827. Arquivo Histórico do Itamaraty (doravante AHI), Repartições Consulares (doravante RC), E. 657, pr. 1, mç. 3.
-
19
Vice-cônsul no Faial, 10.04.1828. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.3.
-
20
Vice-cônsul no Faial, 06.06.1828. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.3.
-
21
Vice-cônsul no Funchal, 16.06.1828. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.3.
-
22
Vice-cônsul em São Miguel, 05.08.1829. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.3.
-
23
Vice-cônsul em São Miguel, 23.01.1830. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.3.
-
24
Vice-cônsul em São Miguel, 16.09.1829. AHI/RC/E. 657/pr.1/mç.3.
-
25
Jornal do Comércio (doravante JC), 11.03.1830.
-
26
Sobre essa lei, e a lei de locação de serviços de 1837: Mendonça (2012). Para análises de contratos feitos com portugueses: Cravo, Rodrigues e Godoy (2020) e Souza (2024).
-
27
Diário do Rio de Janeiro (doravante DRJ), 19.01.1831. O navio partiu da Madeira e chegou ao Rio de Janeiro no dia 18 de janeiro de 1831 com 105 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, lavradores ou de ofícios mecânicos.
-
28
DRJ, 24.01.1830. A embarcação partiu do Faial e chegou ao Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro de 1831 com 113 pessoas das ilhas, sendo alguns lavradores.
-
29
DRJ, 5.09.1833. O iate partiu da Terceira e chegou ao Rio de Janeiro no dia 4 de setembro de 1833 com 89 ilhéus.
-
30
DRJ, 11.04.1834. A escuna chegou ao Rio de Janeiro no dia 10 de abril de 1834, com 48 portugueses, vindo de Lisboa com passagem pelo Faial.
-
31
DRJ, 13.01.1835. O brigue chegou a o Rio de Janeiro no dia 12 de janeiro de 1835, vindo do Faial, com 111 portugueses (dentre os quais, 23 mulheres).
-
32
Parron, 2007, 97.
-
33
Portaria-circular de 19 de janeiro de 1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
34
Colonização de açorianos para as oito províncias do Sul do Brasil. Rio de Janeiro: Typographia do Diário de N. L. Vianna, 1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
35
Idem.
-
36
Parron, 2009.
-
37
Vice-cônsul no Faial, 25.04.1835. AHI/RC/E.252/pr.4/mç.6.
-
38
Vice-cônsul no Faial, 08.05.1835. AHI/RC/E.252/pr.4, mç.6.
-
39
Vice-cônsul no Faial, 13.05.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
40
Cônsul-geral, 12.06.1835. AHI/RC/Lisboa/E.251/pr.2/mç.14.
-
41
Vice-cônsul no Faial, 22.07.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
42
Ministro das Relações Exteriores aos vice-cônsules no Faial, 03.08.1835 e 06.10.1835, e na Terceira, 18.08.1835. AHI/RC/E.252/pr.4/mç. 6.
-
43
Vice-cônsul na Terceira, 07.09.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
44
Vice-cônsul em São Miguel, 04.09.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
45
Vice-cônsul em São Miguel, 16.08.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/ mç.6.
-
46
Cônsul-geral, 30.04.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.14.
-
47
Cônsul-geral, 16.08.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
48
“Passagem gratuita para o Brasil a bordo do Maria Carlota”, 1837. E.251/pr.2/mç.16.
-
49
Cônsul-geral, 09.10.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
50
Esta e as citações seguintes foram retiradas de: Vice-cônsul na Terceira, 26.11.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
51
Vice-cônsul na Terceira, 26.12.1835. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.6.
-
52
DRJ, 11.01.1836.
-
53
Vice-cônsul na Terceira, 26.12.1835. AHI/RC/E. 657/pr.1/ mç.6.
-
54
Ver: Galvanese, 2019.
-
55
Cônsul-geral, 06.03.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/ mç.15. Não foram encontradas maiores informações sobre Ernesto Biester. Possivelmente, era um negociante envolvido com o transporte de portugueses ao Brasil.
-
56
Cônsul-geral, 06.03.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/ mç.15.
-
57
Cônsul-geral, 08.04.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.14.
-
58
Cônsul-geral, 25.11.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/ mç.14.
-
59
Cônsul-geral, 20.05.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
60
Galvanese, 2019. Sobre o termo “escravatura branca”, ver: Carvalho (1988) e Galvanese (2021).
-
61
Cônsul-geral, 20.05.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
62
Nota do visconde de Sá da Bandeira de 09.05.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
63
Cônsul-geral, 10.06.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
64
Cônsul-geral, 13.08.1842. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.17. As citações seguintes foram retiradas do mesmo documento.
-
65
A circular não foi encontrada, mas foi mencionada em: Cônsul-geral, 13.02.1842. AH/ RC/E.251/pr.2/mç.17.
-
66
Vice-cônsul em São Miguel, 30.06.1842. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.8.
-
67
A circular não foi encontrada, mas foi mencionada em: Cônsul-geral, 11.09.1856. AHI/RC/E.251/pr.3/mç.2.
-
68
Vice-cônsul na Terceira, 02.10.1849. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.13.
-
69
Vice-cônsul na Terceira, 15.04.1851. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.15.
-
70
Bastos e Spranger, 2021, 42.
-
71
Vice-cônsul na Madeira, 22.11.1844. AHI/RC/E.245/pr.3/mç.24.
-
72
Vice-cônsul na Madeira, 04.01.1843. AHI/RC/E.245/pr.3/mç.24.
-
73
Vice-cônsul na Madeira, 20.03.1844; 24.09.1844; 31.12.1844. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.10. O patacho Zargo chegou a 15 de abril de 1844, com 46 portugueses (DRJ, 16.04.1844).
-
74
Galvanese, 2022.
-
75
Brandon, Frykman e Roge, 2019.
-
76
Circular do ministro das Relações Exteriores, 28.11.1835. AHI/LIB/E.413/pr.1/mç.20.
-
77
Circular do ministro das Relações Exteriores, 17.02.1836. AHI/LIB/E.413/pr.1/mç.20.
-
78
Ministro das Relações Exteriores, 17.04.1837. AHI/LIB/E.413/pr.1/mç.20.
-
79
Ministro das Relações Exteriores, 24.08.1842. AHI/LIB/E.413/pr.1/mç.20.
-
80
Ministro das Relações Exteriores, 04.08.1835. AHI/Legações do Império do Brasil (doravante LIB)/E.413/pr.1/mç.20.
-
81
Responsável pela Legação em Lisboa, 20.05.1837. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.2. O Ministério Setembrista se formou após a Revolução de 9 de Setembro de 1836 levar ao poder a ala mais radical do liberalismo português.
-
82
Responsável pela Legação em Lisboa, 07.03.1838. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.2.
-
83
Cópia da resposta enviada ao Nacional, 04.03.1838. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.2.
-
84
Diário do Governo (doravante DG), 06.03.1839.
-
85
Responsável pela Legação em Lisboa, 08.03.1839 e 12.03.1839. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.2.
-
86
Portaria de 19 de agosto de 1842. Coleção Geral da Legislação Portuguesa, 1842, p. 321.
-
87
Responsável pela Legação em Lisboa, 26.08.1842. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.5.
-
88
Ministro das Relações Exteriores, 09.11.1842. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.5.
-
89
Alves, 1994; Galvanese, 2019.
-
90
Responsável pela Legação em Lisboa, 20.03.1843. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.6.
-
91
Diário da Câmara dos Pares do Reino, 24.11.1843, p. 1700.
-
92
Galvanese, 2019; 2021.
-
93
Responsável pela Legação em Lisboa, 30.11.1843. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.6. As citações seguintes foram retiradas do mesmo documento.
-
94
Sobre o abolicionismo de Sá da Bandeira: Marques, 2008.
-
95
Marques, 1999.
-
96
Parron, 2009, 147.
-
97
Responsável pela Legação em Lisboa, 25.05.1843. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.6. As citações seguintes pertencem ao mesmo documento.
-
98
Alencastro e Renaux, 1997, p. 293.
-
99
Parron, 2009, 165.
-
100
Parron, 2009, 222.
-
101
Responsável pela Legação em Lisboa, 26.04.1843. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.6.
-
102
Ministro das Relações Exteriores, 24.01.1843. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.5
-
103
Chegou ao Rio de Janeiro em 01 de janeiro de 1843, proveniente de São Miguel por Pernambuco, com 120 passageiros. DRJ,02.01.1843.
-
104
Não foi identificada a entrada de nenhuma embarcação “Nova Sociedade”, mas “Sociedade”, que chegou ao Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1842 proveniente do Faial transportando 101 portugueses. DRJ, 24.12.1842.
-
105
Chegou ao Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 1842, proveniente da Terceira, com 109 passageiros. DRJ, 30.12.1842.
-
106
Chegou ao Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1842, proveniente do Faial, com 132 portugueses. DRJ, 29.12.1842. No dia 07 de janeiro de 1843, havia a bordo “senhoras costureiras, engomadeiras e próprias para todo serviço caseiro” e “homens bons lavradores e para quaisquer empregos, inclusive o de olaria”. DRJ, 07.01.1843.
-
107
Responsável pela Legação em Lisboa, 26.04.1843. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.6. As próximas citações pertencem ao mesmo documento.
-
108
Ministro das Relações Exteriores, 14.07.1843. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.5
-
109
Galvanese, 2021, 251 e Cordeiro, 2011, 88.
-
110
Galvanese, 2021, 262.
-
111
Regulamento da Associação Central de Colonização do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Empresa Nacional do Diário, 1857.
-
112
DRJ, 22.05.1856.
-
113
Chrysostomo e Vidal, 2014, p. 7.
-
114
Circular de 14.10.1857, Ministério do Império. AHI/RC/E.658/pr.1/mç.14.
-
115
Cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, 08.07.1858. Arquivo Nacional Torre do Tombo (doravante ANTT)/Ministério do Reino (doravante MR)/liv.11/mç.3300.
-
116
Ministro das Relações Exteriores, 07.06.1859. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
117
Responsável pela Legação em Lisboa, 10.07.1959. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.4.
-
118
Portaria de 02.07.1859. DG, 05.07.1859.
-
119
Ministro das Relações Exteriores, 07.09.1859. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
120
Responsável pela Legação em Lisboa, 11.11.1859 AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.4.
-
121
Ministro das Relações Exteriores, 09.03.1860. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
122
Cópia da nota enviada ao ministro do Reino, 09.03.1860. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç;4.
-
123
Responsável pela Legação em Lisboa, 13.04.1860. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.4.
-
124
Ofício ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 07.03.1861. ANTT/MR/liv.11/mç.3313.
-
125
Cópia do ofício do vice-cônsul no Porto, 04.05.1861. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.5.
-
126
Ministro das Relações Exteriores, 22.03.1861. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
127
Galvanese, 2021, 355.
-
128
Responsável pela Legação em Lisboa, 10.03.1859. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.4.
-
129
Ofício do ministro de Portugal no Brasil ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, 27.11.1859. Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1873, p. 71.
-
130
Responsável pela Legação em Lisboa, 10.03.1859. AHI/LIB/E.214/pr.1/mç.4.
-
131
Ministro das Relações Exteriores, 07.11.1860. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
132
Ministro das Relações Exteriores, 07.06.1861. AHI/LIB/E.215/pr.3/mç.7.
-
133
Projeto de Convenção com o Brasil, 1859. Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1873, p. 80.
-
134
Ministro de Portugal no Brasil, 08.06.1863; Ministro dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 08.10.1863. Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1873, p. 150 e p. 157.
-
135
Alves-Melo, 2022, 504.
-
136
Soares e Gomes, 2006, 12.
-
137
Ministro da Marinha, 10.02.1837. AHI/RC/E.658/pr.1/mç.14.
-
138
Cônsul-geral, 03.12.1836. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.14.
-
139
Chegou ao Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1837, transportando “13 operários para o governo, 158 portugueses e 20 galegos”. DRJ, 17.01.1837.
-
140
Cônsul-geral, 13.02.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16. O bergantim Tino chegou em 28 de março de 1837, transportando 8 portugueses, um espanhol e um sardo e carga de sal, vinho e fazendas. DRJ, 29.03.1837.
-
141
Cônsul-geral, 06.04.1837. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.16.
-
142
Responsável pela Legação em Lisboa, 05.05.1838. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.2
-
143
Responsável pela Legação em Lisboa, 19.07.1842. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.5.
-
144
Responsável pela Legação em Lisboa, 20.09.1842. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.5.
-
145
Cônsul-geral, 19.07.1842. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.17.
-
146
Contrato de engajamento, 15.07.1842. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.17.
-
147
Cônsul-geral, 22.10.1842. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.17.
-
148
Responsável pela Legação em Lisboa, 08.11.1842. AHI/LIB/E.213/pr.4/mç.5.
-
149
Cônsul-geral, 09.11.1842. AHI/RC/E.251/pr.2/mç.17
-
150
Presidente de Pernambuco, 21.11.1857. AHI/RC/E.658/pr.2/mç.2.
-
151
Presidente de Pernambuco, 07.01.1858. AHI/RC/E.658/pr.2/mç.7.
-
152
Cônsul-geral, 12.04.1858. AHI/RC/E.251/pr.3/mç.2.
-
153
Vice-cônsul no Porto, 22.11.1836. AHI/RC/E.657/pr.1/mç.7.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
07 Jun 2024 -
Aceito
29 Out 2024
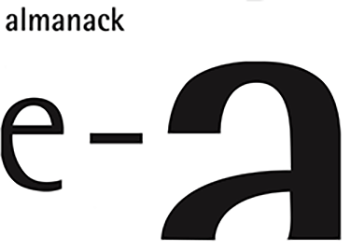
 NOS PORTOS E NOS GABINETES: REPRESENTANTES DO IMPÉRIO DO BRASIL EM PORTUGAL E O INCENTIVO À EMIGRAÇÃO PORTUGUESA (1835-1860)
NOS PORTOS E NOS GABINETES: REPRESENTANTES DO IMPÉRIO DO BRASIL EM PORTUGAL E O INCENTIVO À EMIGRAÇÃO PORTUGUESA (1835-1860)