Resumo
A seca de 1877-1879 impulsionou a migração em diferentes pontos do Norte do Império brasileiro, seja para fora dele ou para províncias limítrofes. Do Ceará, parte da população se deslocou para o Piauí, mas ao chegarem a essa província, continuaram vivenciando dificuldades, como fome, doenças e mortes. Acometidos pelas moléstias da época, muitos recorriam à Santa Casa de Misericórdia de Teresina, onde se juntavam aos piauienses. Partindo disso, este artigo analisa a presença de cearenses e piauienses internados na Santa Casa de Misericórdia de Teresina, no ano de 1879. Utilizando como fonte o Livro de Registros de internados daquele ano, verificou-se grande presença de cearenses entre os que procuravam atendimento no hospital, em número superior aos piauienses, reforçando a expressividade da migração do Ceará para o Piauí naquele período. As moléstias mais frequentes eram febre intermitente, febre paludosa, cachexia paludosa, úlceras, vermes e diarreias. Observou-se extensos períodos de internação, o que permitiu levantar hipóteses acerca das estratégias de sobrevivência da população pobre e migrante.
Palavras-chave:
Migração; Ceará; Piauí; Doenças; Febres
Abstract
The drought of 1877-1879 boosted migration in different parts of the North of the Brazilian Empire, either outside it or to neighboring provinces. From Ceará, part of the population moved to Piauí, but upon arriving in that province, they continued to experience difficulties, such as hunger, disease and death. Affected by the illnesses of the time, many turned to the Santa Casa de Misericórdia de Teresina, where they joined the people of Piauí. Based on this, this article analyzes the presence of people from Ceará and Piauí admitted to the Santa Casa de Misericórdia de Teresina, in the year 1879. Using as a source the Book of Records of inmates from that year, there was a large presence of people from Ceará among those who sought care. in the hospital, in a greater number than the number of people from Piauí, reinforcing the expressiveness of migration from Ceará to Piauí in that period. The most common illnesses were intermittent fever, paludous fever, paludous cachexia, ulcers, worms and diarrhea. Extensive periods of hospitalization were observed, which allowed us to raise hypotheses about the survival strategies of the poor and migrant population.
Keywords:
Migration; Ceará; Piauí; Illnesses; Fevers
Introdução
O Norte4 do Brasil foi afetado por constantes períodos de secas prolongadas no século XIX, e as províncias que atualmente compõem a região Nordeste eram comumente as áreas mais atingidas. No Ceará, quando se acentuava a crise provocada pelas consequências do fenômeno climático, a população migrava para diferentes pontos do país, como Amazônia e Sudeste, porém foram desbravando outros caminhos nessas jornadas migratórias. Na seca de 1877-1879, um grande volume de cearenses se deslocou em direção ao Piauí, fazendo o percurso a pé, em meio a condições adversas, chegando nessa província em locais como Oeiras, Jaicós, Príncipe Imperial e Campo Maior; e dessas localidades, quase sempre davam prosseguimento à caminhada em direção à Teresina.
A presença de homens, mulheres, idosos e crianças nas ruas da cidade de Teresina nos anos de 1877-1879 foi considerada um fenômeno de “desordem”, trazendo “para a vida diária, cenas de um espetáculo lamentável” e gerando “sentimento de medo, pavor” e intranquilidade na população, pois com os pobres e migrantes, vinham a miséria e suas manifestações, conferindo “à cidade uma imagem de crise”. A existência desses excedentes sociais constituía para a elite uma ameaça constante, pois “eles eram vistos como os principais responsáveis pela desordem física, moral e social da cidade”5.
No mês de abril de 1878, o jornal A Época6 estimava que o número de migrantes no Piauí já alcançava a quantia de 20 mil pessoas7. Na tentativa de administrar essa alta demanda, dando-lhes a assistência possível, o governo provincial autorizou a criação das Comissões de Socorros Públicos em vários municípios do Piauí. Em 1877, a Comissão de Socorros de Oeiras, em ofício encaminhado ao presidente na capital, descreveu “o estado vexatório em que se acha a população deste município em presença de grande número de emigrantes das províncias vizinhas, Ceará e Paraíba, que se tem acumulado nesta cidade e seus arredores”. Pela quantidade de pessoas presentes, os membros da comissão se viam impossibilitados de oferecer assistência a todos, entre outros fatores, pela falta de cereais e carne8.
A chegada de cearenses em diferentes pontos do Piauí exigiu a necessidade urgente de medidas para administrar a presença dessa massa populacional, que pela fragilidade que se encontrava, estava exposta a doenças e a mortandade. No transcurso do segundo ano da seca, o jornal A Época anunciou: “o morticínio diário do povo quer nas vilas, quer pelas estradas, é espantoso! As febres perniciosas têm se desenvolvido de um modo horrível […]”9.
Ao pesquisar sobre as epidemias que afetavam a cidade do Rio de Janeiro no século XIX, o historiador Sidney Chalhoub, com base nas conclusões dos infeccionistas da época, afirmou que as moléstias tinham dois fatores principais para o seu surgimento: “em primeiro lugar, à negligência geral em relação às condições sanitárias da capital e, em segundo lugar, à entrada de imigrantes no Brasil”10.
A atribuição da existência de endemias no século XIX à presença de população estrangeira não era uma ação restrita ao Rio de Janeiro. Com a chegada dos cearenses em Teresina a partir de 1877, o governo provincial autorizou a criação dos Núcleos Coloniais, que eram sítios particulares arrendados pelo poder público, distantes algumas léguas da capital, que deveriam ter a “vantagem real” “de evitar a aglomeração de indigentes em Teresina, já pouco salubre em tempos normais e onde a peste viria naturalmente sacrificar a todos”11. Com essa medida, além de excluir a massa de pobres do cenário urbano, evitava-se que as doenças se propagassem com a sua presença.
O historiador Antônio Melo Filho, em pesquisa acerca da condição da saúde pública na capital do Piauí na primeira República, atribuiu à presença dos migrantes da seca nessa cidade desde o período imperial o “agravamento do estado da saúde pública em Teresina”, gerando uma relação em cadeia: iniciava com a seca, essa impulsionava as migrações, e com a população migrante chegavam as doenças12.
Dayane Julia Carvalho Dias, ao analisar os índices de mortalidade em Fortaleza entre os anos de 1877 e 1879, identificou que houve um aumento significativo principalmente em 1878, quando foram registrados 13.849 óbitos associados, “[…] principalmente, […] a dois fatores: a migração massiva de retirantes refugiados da seca e a disseminação de doenças epidêmicas”13.
Em Teresina, no ano de 1879, existia uma Comissão Sanitária que recebia dos armazéns do governo “farinha, carne e sal” para assistir às pessoas “verdadeiramente necessitadas alistadas […] nos distritos sanitários, surtindo essas pessoas não só de alimentos, mas também socorrendo com medicamentos e atendimento médico”14. É visível a iniciativa do poder público em oferecer assistência e até mesmo distanciar esses enfermos da elite local, sendo os adoentados atendidos na Santa Casa de Misericórdia. Diante da grande quantidade de migrantes, foram criadas as “enfermarias de emigrantes”, funcionando no Quartel de Polícia e em um local distante duas léguas de Teresina, denominado Santo Antonio dos Morros, onde eram tratados os enfermos existentes nos Núcleos Coloniais15.
Partindo desse cenário, este texto tem como objetivo analisar a presença de cearenses e também de piauienses internados na Santa Casa de Misericórdia de Teresina no ano de 1879, tendo como referência o contexto migratório do período, ocasionado pela seca que já estava no seu terceiro ano de curso. Como metodologia, realizou-se pesquisa, catalogação e análise de documentação variada, incluindo informações produzidas pelos periódicos teresinenses da época, pelos relatórios governamentais e, principalmente, pelo Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina de 187916. Por meio do último documento citado, é possível encontrar diversos elementos sobre o público atendido por essa instituição de assistência hospitalar, como: nome, naturalidade, idade, estado civil, cor, diagnóstico (moléstia), data de entrada e saída, período de internação, evasão, assim como o índice de mortalidade.
A Santa Casa de Misericórdia de Teresina e o atendimento à população pobre
A irmandade da Santa Casa de Misericórdia foi fundada por iniciativa do presidente da província, Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, em dezembro de 1861. “Apelando para os sentimentos generosos dos homens mais influentes da província”, esta instituição tinha como função substituir o Hospital da Caridade17. Ao longo das décadas que se estenderam após a sua fundação, a instituição sobreviveu com muitas dificuldades financeiras, funcionando inicialmente no Quartel de Polícia, mesmo local onde existiu o hospital que ela substituiu.
Em relatório de 1879, o presidente da província, Dr. Sancho de Barros Pimentel, relatou o estado do hospital. Segundo ele, “esta instituição acha-se, por assim dizer, inteiramente desnaturada. Criada para viver pelo concurso dos irmãos, sua receita conta quase exclusivamente da subvenção que lhe dá a província, pois que pouco são os que tem entrado com joias e mensalidades”18. Pelo que se percebe, o hospital sobrevivia em grande medida com os repasses do poder público. No relatório apresentado em dezembro de 1879, João Pedro Belfort Vieira apresentou o mapa com os valores destinados à instituição: entre os anos de 1861 e 1879, a subvenção provincial para o hospital chegou à soma de 127:496$220, enquanto as diversas receitas, que incluíam as doações dos irmãos, foram na cifra de 18:500$997. Em pesquisa realizada por Santana e Silva (2019) acerca dos valores recebidos pela Santa Casa de Misericórdia no período de 1899 a 1930, identificou-se que, mesmo irregulares e às vezes de difícil identificação, as doações existiam, porém sempre inferiores aos valores repassados pelo Estado. A quantia investida pelo poder público era aumentada nas épocas de picos de internação, como ocorria durante as epidemias, e por isso eram comuns as queixas do governo pela baixa iniciativa da população em ceder donativos para manutenção do hospital.
As doações de particulares ocorriam de diversas naturezas, como alimentos (farinha, arroz), lenços, toalhas, lençóis e vidros com medicamento19. As doações também eram feitas na forma de oferta em dinheiro, quase sempre realizadas por pessoas de vulto na sociedade teresinense e divulgado pela imprensa local. Episódio do tipo ocorreu quando Miguel Borges fez um “importante donativo” à Santa Casa em 1877, comprometendo-se a doar “dos seus ordenados, 50$000 reis mensais por espaço de um ano”20.
A atuação da Santa Casa de Misericórdia em Teresina era caracterizada pelo seu caráter assistencialista, oferecendo “uma gama de ações que perpassavam pela atenuação do sofrimento do doente, como o consolo, acolhimento, hospedaria para emigrantes e preparação para a morte. Atendia a enfermos portadores de todos os tipos de doenças, inclusive as contagiosas”21. Por sua natureza assistencialista, “os segmentos sociais mais beneficiados na Santa Casa pertenciam às baixas camadas da população teresinense, isso caracteriza o hospital como um lugar de atendimento que proporcionava a suavização da pobreza através de auxílio aos desvalidos”22.
Por meio do relatório apresentado pelo presidente da província, Dr. João Pedro Belfort Vieira, verifica-se que entre dezembro de 1860 e junho de 1879, o hospital recebeu 3.334 doentes; destes, 439 faleceram, principalmente os classificados como “pobres”, que foram 437 de um total de 2.162. Os demais grupos sociais foram identificados como “presos de justiça” (341), “soldados de polícia” (384), “educandos” (303), “escravos nacionais” (106) e “escravos particulares” (38)23. Pela grande quantidade de pessoas identificadas como “pobres” (64.8%), bem como a profissão e a situação jurídica dos demais doentes considerados na soma, fica evidente que a instituição prestava atendimento principalmente aos grupos sociais mais vulneráveis socialmente.
Se a assistência de saúde na Santa Casa já enfrentava dificuldades motivadas principalmente por fatores econômicos, as complicações decorrentes da migração sobrecarregavam ainda mais a instituição, necessitando a gestão do hospital buscar financiamento adicional para lidar com o aumento de pacientes e enfrentar a resistência das autoridades governamentais, que alegavam dificuldades econômicas da província ou consideravam a “caridade pública” como um problema separado da administração do Estado24.
Com a migração de cearenses e piauienses para Teresina entre os anos de 1877 e 1879, o cenário urbano da capital foi modificado, passando a existir o temor do “perigo e desordem na cidade, seja pela possibilidade de roubos, furtos e motins, ou por tornarem-se vetores de transmissão de doenças”. A solução encontrada pelo poder público, junto das elites piauienses, foi oferecer ocupação pelo trabalho e assistência médica para aqueles que perambulavam pela cidade25, com a finalidade de proteger as camadas sociais mais abastadas dos males que esses “excedentes sociais” representavam26.
Os historiadores Sanglard e Ferreira (2018) afirmam que, diante das mudanças políticas e sociais na humanidade, houve a necessidade do poder público, assim como da própria sociedade, situar os “mendigos” e os “vagabundos” fora dos limites da cidade. Com efeito, “a organização da assistência é um dos mecanismos postos em prática; bem como a manutenção de hospitais e instituições congêneres”27.
Além da Santa Casa de Misericórdia, em determinadas épocas foram instalados lazaretos28 no Piauí, como medida para alojar as pessoas que apresentavam doenças consideradas contagiosas. Em 1879, o presidente da província Dr. João Pedro Belfort Vieira mandou construir em Teresina um pequeno lazareto, “cujos benefícios se têm feito sentir”29. Pela fala do presidente, é possível acreditar que ele se refere ao lazareto criado no Sítio Morro, de propriedade do capitão Antonio Martins dos Reis Lima, pela quantia de 300:000 réis mensais, com a finalidade de “dar-se ali tratamento a indigentes e emigrantes que se acham doentes”30. Para o lazareto de Teresina foram enviados os emigrantes que ainda estavam estabelecidos nos Núcleos Coloniais como o Santa Philomena, de propriedade de Raimundo Sinval de Vasconcelos em 1879, quando foram desativados, e “que por enfermidade se achassem impossibilitados para o trabalho”31, além daqueles que chegavam em embarcações vindos de locais como Parnaíba com sintomas da varíola, “a fim de que a peste não se desenvolvesse”32.
Na concepção de Foucault (1984), “os lazaretos […] são a programação de uma espécie de hospital perfeito. Mas trata-se, essencialmente, de um tipo de hospitalização que não procura fazer do hospital um instrumento de cura, mas impedir que seja foco de desordem econômica ou médica”33. Desse modo, conclui-se que os hospitais criados pelo governo tinham a função não somente de prestar assistência aos enfermos, mas também de excluí-los do núcleo urbano. Eram um mecanismo de controle do social, pois “a partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de assistência, deve, por isso mesmo, se submeter a vários controles”, em sistema de pares com caráter dúbio “assistência-proteção, assistência-controle”34. Diante disso, os lazaretos funcionavam como uma estratégia para distanciar o doente e o pobre dos olhos da sociedade e do poder público, pois esses eram expulsos
[…] do espaço comum, posto fora dos muros da cidade, exilado em um lugar confuso […]. O mecanismo da exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era uma medicina de exclusão35.
Observa-se, com isso, que os lazaretos se constituíam como “espaços de atenção social, bem como responsáveis pela promoção da segregação e do isolamento compulsório como medida preventiva cautelar”36.
Partindo desse ponto, admite-se que, em termos de estruturação do isolamento e da segregação, havia uma designação de espaços específicos para abrigar os doentes e os marginalizados, mantidos sob controle a fim de se evitar a propagação de doenças e impedir que representassem uma ameaça para a sociedade. Esse método, também identificado em outros contextos e momentos históricos, foi adaptado de acordo com a presença de epidemias que afetavam a vida dos menos favorecidos37.
Os migrantes, as febres 38 e as doenças em Teresina na segunda metade do século XIX
A edição completa do jornal A Imprensa39 do dia 4 de abril de 1879 dedicou as suas quatro páginas para informar, exaltar as qualidades e lamentar a morte do Dr. Constantino Moura, ocorrida no dia anterior. Com um ícone fúnebre impresso no topo de cada página, logo abaixo veio a mensagem de modo destacado. Na primeira, lia-se o seguinte: “Uma vida preciosa acaba de dissipar-se ao sopro gélido da morte! Já não existe o dr. Constantino Luiz da Silva Moura! Uma febre perniciosa o fez ontem pelas 10 horas da noite tombar a campa, depois de 40 dias de acerbo pungir! […]”40. Para além dessa primeira página, as duas seguintes exaltavam a sua personalidade em vida, rememorando a influência política, bem como demonstrando votos de saudade e descanso eterno. A quarta página possuía apenas mais um ícone fúnebre centralizado.
Tamanha homenagem no periódico do Partido Liberal não foi por falta de merecimento. Membro daquela agremiação política, o Dr. Constantino Moura possuía influência na administração pública piauiense, tendo sido deputado provincial pelo Piauí e quarto vice-presidente, chegando a exercer o cargo de presidente da província de forma interina entre 13 e 19 de dezembro de 1879. Quando do seu óbito, em 1879, contava com 40 anos.
Para além de ter a intenção de provocar impacto com a edição completa dedicada a um único obituário, a homenagem póstuma que exaltava a importância do político falecido chama atenção pela causa da morte: Dr. Constantino Moura foi acometido por uma febre perniciosa. As febres (e as suas diferentes variações terminológicas) aparecem com frequência como causadoras das internações e dos falecimentos nos obituários de grande parte das pessoas menos favorecidas, como na lista da Santa Casa de Misericórdia e, por vezes, nos periódicos piauienses. Isso mostra que elas atingiam ricos e pobres, independentemente da classificação.
No relatório provincial de dezembro de 1879, o presidente Dr. João Pedro Belfort Vieira afirmou: “não tem sido dos mais lisonjeiros o estado sanitário da província. Além das febres de mau-caráter, diarreias e desinterias, que costumam desenvolver-se por ocasião da mudança de estação e da vazante dos rios, vai também grassando em diferentes pontos […] a varíola”, sendo as regiões mais afetadas no Piauí pelas febres: Teresina, Parnaíba, Oeiras, Amarante, Picos e Jaicós41.
Pela fala do presidente, a posição geográfica da capital, situada entre os rios Paraíba e Poti, favorecia o desenvolvimento das febres e das doenças que afetavam o sistema digestivo. A propagação das febres intermitentes pelas vazantes dos rios já era tema difundido em solo piauiense antes das considerações de Belfort Vieira. Em 1858, o jornal O Propagador informou sobre o estado sanitário do Piauí: sem incidência de febre amarela, cólera-morbo e tifo, e com poucos casos de bexiga, “a única moléstia endêmica que sofremos de caráter mais geral e pernicioso são as febres intermitentes, as quais, porém só se manifestam com intensidade nos lugares em que as inundações de um de nossos rios deixam em suas margens”42.
No século XIX, era comum associar o surgimento das febres intermitentes às características ambientais do lugar. Um estudo sobre as febres no Rio de Janeiro no século XIX verificou a existência de extensas áreas cortadas por grandes e numerosos pântanos “mesmo nas ruas mais centrais, onde atualmente o comércio se ostenta com mais atividade e opulência, existiam muitos brejos, e as emanações paludosas faziam-se em elevada escala”43. Na obra Tratado das febres, de 1886, o autor João Damasceno Peçanha enumerou as três condições indispensáveis para o desenvolvimento do miasma palustre:
[…] terra, porque o elemento palustre jamais se desenvolveu em alto mar; calor, porque as regiões polares se têm conservado preservadas de manifestações d’este terrível princípio mórbido; humidade, porque, secando os pântanos por efeito de calor ardente, cessa o desprendimento do miasma palustre, que reaparece ativo, ostentando sua influência maléfica, logo que sobrevêm condições favoráveis ao seu desenvolvimento44.
Possivelmente seguindo esse preceito, o jornal O Propagador reproduziu na sua crônica que as margens dos rios cobertas de folhas e vegetais, junto com a água parada, favoreciam o desenvolvimento de outros desses vegetais que se proliferavam e morriam, “entrando depois tudo com o ardor do sol em putrefação e exalação”, sendo “reconhecido pela experiência e demonstrado pela ciência que os miasmas pútridos que se depreendem dessas águas, corrompendo o ar que respiramos, nos fazem absorver partículas deletérias, que são a causa das intermitentes”45. Baseado no excerto, pode-se “entender que no período de chuva, anualmente, havia incidência de febres, mas como esta era uma patologia de caráter endêmico, os casos poderiam se dar em vários momentos ao longo do ano”46.
As febres são frequentemente identificadas como moléstias que atingiam a população no século XIX. “Febre intermitente”, “febre paludosa”, “febre palustre”, “febre perniciosa”, “febre catarral”, “febre verminosa”, “febre tifoide” e “febre congestiva” são alguns termos encontrados na documentação e na literatura da época. Muitas dessas nomenclaturas eram usadas para se referir aos sintomas do que se conhece hoje como malária (quatro primeiras febres citadas).
Nisso, pode-se concluir que havia uma dificuldade entre os médicos e os profissionais de saúde em identificar qual doença estava presente ao aparecer o sintoma da febre, pois em geral, chamava-se de febre “o desarranjo qualquer de uma ou muitas funções, ajuntando-se-lhe alteração sensível do sistema circulatório e servindo para especificar a febre, o órgão, ou a mesma natureza das funções alteradas”47. Reconhecendo essa dificuldade, o autor considerou prudente descrever todos os sintomas que seriam facilmente identificados em uma pessoa com febre.
Dizemos que um doente tem febre, quando na presença ou de calafrios, ou de frio, ou de tremor mostra pulso pequeno, contraidos, e muitas vezes irregular, com o semblante pálido, nariz afilado, faces como chupadas, urinas aquosas, e às vezes vômitos, quando depois vai pouco a pouco aquecendo, até chegar a um calor mais ou menos extraordinário com dor, ou ao menos peso de cabeça. Então o pulso se dilata, e se faz frequente, o semblante se torna vermelho, afogueado, e parecendo inchado e contraido, que estava, e as urinas muito coloradas. Vem sede, e secura insaciável, inquietação, e abatimento geral no sistema muscular, e dores vagas pelo corpo principalmente costas, e cadeiras. As palmas das mãos ficam secas, e como de lixa; e os tendões dos pulsos mais ou menos entesados. A respiração […] padece notável alteração. […] Tudo isto, quando o acesso é regular, se termina por suor geral48.
Como se nota, baseava-se em sintomas genéricos acompanhados de aumento da temperatura corporal para diagnosticar os enfermos. É possível depreender, a partir disso, a motivação para a forte presença das febres como enfermidades que atingiam a população piauiense no século XIX.
Por meio da consulta do Livro de Registros de 1879 da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, identifica-se as principais doenças que afetavam a população naquele ano. Entre elas, há forte presença das febres, como: febre intermitente (215), febre paludosa (210), febre catarral (19), febre (5) e outras, como cachexia (5), cachexia paludosa (67), úlcera (65), vermes e vermes intestinais (20), diarreia (25), catarro pulmonar (7), bronquite (5), reumatismo (7), sífilis, gastrite, indigestão, catarro peitoral, bronquite catarral e coqueluche. Além dessas, há uma grande quantidade de pessoas que apresentavam mais de uma doença, havendo comumente combinações como febre paludosa e diarreia, cachexia e diarreia, febre paludosa e úlceras, vermes e febre paludosa, cachexia e vermes, reumatismo e febre paludosa, e diarreia e úlceras, além de outras conjunções de doenças que quase sempre apareciam em dupla.
Em clima de alerta e receio de novas crises epidemiológicas, o comércio de medicamentos ofertava o que era utilizado como tratamento das enfermidades. Para a cura das febres, encontrava-se anúncios nos periódicos de Teresina, como na figura 1.
Anúncio de medicamentos para febres (Teresina-1879). Fonte: A Época, nº 63, p. 04, 16 jun. 1879.
Pela análise da lista de internados na Santa Casa de Misericórdia de Teresina no ano de 1879, identificou-se uma grande presença de cearenses, contabilizando os dados expostos na Tabela 1.
Naturalidade dos internados na Santa Casa de Misericórdia (Teresina-1879). Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, 1879.
Do total de 918 enfermos que foram internados na instituição, mais da metade (53.1%) era de cearenses; além desses, havia uma pequena parcela de migrantes de outras províncias, como Pernambuco, naquele último ano de seca. A expressividade do total de cearenses, superior até mesmo a de piauienses (44.7%), mostra que esse grupo social estava presente na capital do Piauí para além daqueles que eram destinados aos Núcleos Coloniais, e eram supostamente atendidos em enfermarias específicas ou lazaretos destinados para eles. Verifica-se também um elevado número de pessoas atendidas na Santa Casa em poucos meses (o registro inicia com datação de junho e se estende pelos meses seguintes do ano de 1879) se comparado com a quantidade de enfermos recebidos no ano 1877-1878, que foi apenas de 90 pessoas; destes, 68 ditos pobres (45 mulheres e 28 homens), 15 soldados e 2 escravizados50. Com isso, abstrai-se que o movimento do hospital foi menos de 10% da quantidade descrita no documento datado de 1879.
Além da grande quantidade de pessoas que receberam atendimento na instituição a partir do sexto mês no ano em 1879, também é digna de nota a duração das internações, tendo sido identificado um significativo número de pessoas que permaneceram na enfermaria do hospital por mais de 30 dias, muitos para além de 100.
Em visita à Santa Casa no ano de 1878, o presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel comentou sobre o público que se encontrava alojado na instituição, afirmando ter verificado que “[…] são antes mendigos e inválidos que ali tinham entrada do que os doentes que pela natureza da instituição devem ser recebidos, a fim de restabelecer a saúde”51.
Dos 918 enfermos, 748 registros apresentam as datações do período em que cada um ficou internado: 45 permaneceram entre 100 e 120 dias; e 65 mais de 120 dias. Natural do Piauí, com 66 anos, José Bernardo da Costa foi o paciente com maior tempo hospedado na Santa Casa: diagnosticado com febre paludosa, ficou por lá 177 dias. Outros casos também se aproximaram desse período de tempo, como 173 e 172 dias. As piauienses Theresa Gomes de Melo e Porfíria Gomes de Melo, com 12 e 13 anos, respectivamente, ambas com febre intermitente, também tiveram estadia prolongada, ficando por 165 dias sob os cuidados da Santa Casa. Diagnosticadas a primeira com febre paludosa e a segunda com vermes, as crianças Maria Órfã e Benedito Órfão, ela com oito e ele com quatro anos, constam como instalados na enfermaria do hospital por 50 dias. Se considerados esses exemplos, além de vários outros que o documento apresenta, e observadas as doenças com que os mesmos eram diagnosticados, pode-se aferir que havia um prolongamento demasiado do período de internação de adultos e crianças, que pelos exemplos anteriores, perceptivelmente eram familiares no primeiro caso e órfãos no segundo.
Com isso, não se pode ignorar a duração prolongada da internação de muitas pessoas na Santa Casa, tendo como referência os diagnósticos até então de doenças que seriam de sintomatologia breve por sua natureza, como diarreias, por exemplo. A cearense Ana Órfã, de quatro anos, diagnosticada com vermes e diarreia, faleceu em 23 de setembro de 1879, após ficar 101 dias na instituição. A piauiense de nome Sebastiana, de seis anos, diagnosticada com vermes, permaneceu no hospital por 123 dias, enquanto Maria Magdalena de Jesus, também do Piauí, esteve sob os cuidados da Santa Casa por 132 dias, para tratamento de febre paludosa.
Nos casos de internação breve, o menor deles foi o do cearense Antonio Alves Bezerra, de 13 anos. Apresentando cachexia e diarreia, permaneceu um dia na Santa Casa, logo falecendo. O também cearense José Maurício de Abreu, de 12 anos, teve o mesmo destino que o seu conterrâneo. Com febre paludosa, foi a óbito no terceiro dia de internação. Partindo desses exemplos, levantam-se as seguintes questões: se os casos mais breves de internação são encerrados com o falecimento dos pacientes, algo que é possível encontrar diversas vezes no documento, e considerando doenças que não seriam capazes de manter uma pessoa por meses em um leito de hospital por sintomatologia e índice de letalidade, como por exemplo vermes intestinais, é possível pensar que parte dessas pessoas, por serem migrantes em sua maioria cearenses e piauienses considerados pobres, na condição de vulnerabilidade (inclusive alimentar) em que se encontravam, podem ter procurado o atendimento da Santa Casa e por lá permanecido por tanto tempo por ser um local que prestava determinado tipo de assistência, onde se poderia ficar habitando e, principalmente, recebendo alimentação diária. Crianças, idosos, viúvos e o aparentemente grupos familiares podem ter visto no local de atendimento aos doentes uma estratégia para sobrevivência. Na tabela seguinte, verifica-se a possível existência de parentesco entre os internados, tendo como base o sobrenome, a origem e o estado civil. Dos listados, todos permaneceram na Santa Casa por igual período, somando 95 dias de internação, iniciados em 16 de julho e findados em 18 de outubro de 1879.
Lista de internados na Santa Casa de Misericórdia (Teresina-1879). Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, 1879.
Dos oito nomes citados na tabela, pode-se abstrair que se trata de três famílias diferentes. No caso da família “Santos” e “Borges”, verifica-se um padrão: na primeira, mãe viúva, e na segunda, o pai viúvo, ambos com seus respectivos filhos ainda adolescentes. No caso da família “Sousa”, há a existência de duas crianças e, possivelmente, sua mãe. O estado de viuvez e orfandade no período que se estendeu a seca, de 1877 a 1879, era muito frequente. Não resistindo aos desafios do deslocamento, como fome e sede, e às doenças, muitos faleciam antes mesmo de chegarem a Teresina. Com isso, os sobreviventes de um grupo familiar, diante da continuidade da seca, recorriam aos serviços de assistência pública, como a Santa Casa de Misericórdia. De certo modo, esse fenômeno pode ser visto como uma forma de resistência52. A tabela seguinte mostra a idade por naturalidade dos internados na instituição. Destaca-se a superioridade no número de cearenses e o grande volume de crianças.
Idade por naturalidade dos internados na Santa Casa de Misericórdia (Teresina-1879). Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, 1879.
Além das pessoas representadas pelos números acima, houve a internação: dos paraibanos João Antonio Liandro e Luís Ribeiro de Sousa, ambos com 20 anos, diagnosticados com febre intermitente, ficando o primeiro sob os cuidados da instituição por 23 dias e o segundo por 20 dias; e da viúva Guilhermina Maria da Conceição, de 48 anos, natural do Rio Grande do Norte, que ficou internada por 21 dias. Somados esses três sujeitos com os apresentados na tabela, encontramos o total de 918 pessoas.
O de idade mais avançada foi Manoel do Carmo Cavalcante, pernambucano de 77 anos que deu entrada dia 16 de julho de 1879, apresentando reumatismo, ficando 20 dias no leito do hospital. Com idade próxima, para além dele se localizou o cearense Anastácio, de 75 anos, que procurou a Santa Casa de Misericórdia e foi diagnosticado com diarreia e febre intermitente. Alcançar essa idade era muito raro devido à baixa expectativa de vida do brasileiro no século XIX53, sendo comuns as mortes nos primeiros anos de vida ou em idade ainda jovem. Nos períodos de crise, quando as doenças se alastravam com maior facilidade, os índices de mortalidade ficavam mais visíveis. Percebe-se isso na frequência de óbitos registrada entre os internados na Santa Casa de Teresina. Dos 918, 171 não resistiram à enfermidade que os acometeu, o que representa uma taxa de letalidade de 18.6% em relação ao universo analisado.
Naturalidade dos internados que foram a óbito Santa Casa de Misericórdia (Teresina-1879). Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, 1879.
Como se observa, proporcionalmente por existirem em maior volume na Santa Casa, mais elevado foi o número de cearenses que teve o óbito registrado. De 488 pessoas, 97 delas (ou 19.8%) não resistiram. Em relação aos piauienses, a incidência foi menor, registrando-se 17%. Nesse universo, observa-se a grande presença de crianças e jovens, como é possível verificar na Tabela 5:
Idade dos internados que foram a óbito na Santa Casa de Misericórdia (Teresina-1879). Fonte: Arquivo Público do Estado do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, 1879.
Da mesma forma que foi possível observar a forte presença de crianças entre os migrantes, também foi grande a taxa de mortalidade entre esse grupo na faixa etária de 0 a 10 anos, representando 39,1%, ou seja, 67 óbitos em um universo de 171, seguido por 34 falecimentos entre aqueles que possuíam idades entre 11 e 20 anos, a segunda maior incidência. Um desses foi o de Maria Alves da Conceição, natural do Ceará, que tinha seis anos quando faleceu na Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internada por 20 dias, apresentando febre paludosa. Ao analisar as taxas de mortalidade na Província do Piauí do século XIX, a historiadora Miridan Knox Falci identificou que “de ‘febre’, tanto morriam crianças de poucos dias como ancião de 90 anos e jovens de 15 anos”, havendo alta taxa de mortalidade de crianças, e “em relação à mortalidade infantil (entre 0 e 4 anos), a causa ‘febre’ foi responsável por 55% das mortes […], no período de 1831-1840”54.
Segundo Claudia Pancino e Lygia Silveria, “a mortalidade infantil era, ainda em 1877, elevadíssima e era ‘normal’ que as crianças morressem; mas em uma sociedade marcada pela alta taxa de mortalidade infantil, as próprias crianças não eram mantidas alheias ao fato de que a morte as espreitava”, pairando, por assim dizer, “o conceito social de infância […] determinado pela consciência um tanto fatalista de que uma criança podia estar presente um dia e no dia seguinte não mais”55
Nos períodos de secas e epidemias, esse parecia ser o grupo social mais afetado. Dias (2019) encontrou alta taxa de mortalidade infantil em Fortaleza durante os três anos de crise da década de 1870, afirmando serem elas as vítimas fatais da seca, com a mortalidade nesse grupo representando 54,3% entre as mortes ocorridas naquela cidade no ano de 1878.
Pelo exposto, percebe-se que as febres e as demais doenças citadas eram muito frequentes no século XIX, e igualmente afetavam a população que vivia em Teresina. No mês de agosto de 1879, foram registrados 66 sepultamentos na capital do Piauí; desses, as febres foram responsáveis pela morte de 37 pessoas, seguidas de anasarca, diarreia, pleurisias, tísica pulmonar, tuberculose, varíola, hidropisia, reumatismo, além de outras56. Ainda em outubro daquele ano, o mesmo jornal divulgou o obituário do mês anterior na capital da província. Foram sepultadas 48 pessoas, e entre as causas da morte e o número de vítimas de cada uma das moléstias, o periódico especificou: febres (6), febre perniciosa (9), febre palustre (1), febre verminosa (1), febre tifoide (1) febre e diarreia (2), febre congestiva (1), cachexia palustre (2), anasarca (5), diarreia (4), pleurisias (3) e pneumonia (1)57.
Considerações finais
Ao analisar o processo migratório de cearenses impulsionado pela seca ao longo do século XIX para o Piauí, deve-se considerar que essa população se fez presente em vários espaços e cenários da província, seja em municípios distantes da capital ou mesmo em Teresina.
No documento tomado como fonte para análise e construção deste texto, cearenses, junto com piauienses e migrantes de outras províncias como Pernambuco, aparecem como sujeitos acometidos por diferentes moléstias, como consta na lista de 918 pessoas que foram internadas na Santa Casa de Misericórdia de Teresina a partir de junho do ano de 1879.
Das várias doenças que se pode identificar, as febres são destaque tanto pelo número de pessoas que receberam esse diagnóstico como também pela sua letalidade. Porém, mais do que observar o comportamento das doenças em relação aos seres humanos, deve-se entender como esses sujeitos se moviam não só para escapar das doenças e/ou fugir das febres, mas também perceber que essas moléstias, que causavam pânico em muitos, podem ter sido usadas como estratégia para fugir de outros problemas que os afligiam, como a fome e o destino incerto no transcurso de uma seca prolongada.
As hipóteses levantadas neste texto, percebidas a partir da dinâmica visualizada no documento consultado, abrem a possibilidade de várias interpretações, entre elas que os ditos pobres e migrantes usavam as doenças ou até mesmo fingiam tê-las para conseguir “hospedagem” e alimento na instituição hospitalar. O que se põe é a percepção de um comportamento que exprime mais uma forma que migrantes pobres, homens, mulheres e crianças buscaram para resistir e garantir a continuidade de suas vidas. Com isso, exprime-se que, mais do que estar atento aos números, deve-se considerar as ações dos sujeitos que formam os quantitativos, pois elas revelam importantes dinâmicas no curso da história.
Fontes
- A Época, nº 02, ano I, 13 abr. 1878.
- A Época, nº 21, ano I, 24 ago. 1878.
- A Época, nº 63, ano II, p. 04, 16 jun. 1879.
- A Imprensa, nº 587, ano XIV, 04 abr. 1879.
- A Imprensa, nº 608, ano XV, 10 set 1879.
- A Imprensa, nº 612, ano XV, 07 out. 1879.
- A Imprensa, nº 503, ano XII, 07 xxx. 1877
- A Imprensa, nº 604, ano XV, 05 ago. 1879.
- A imprensa, suplemento ao nº 607, ano XV, 22 ago. 1879.
- A Imprensa, nº 605, ano XV, 12 ago. 1879.
- A Imprensa, nº 605, ano XV, 12 de agosto de 1879.
- ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, de 1879.
- O Propagador, nº 41, ano I, 18 out. 1852.
- Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Piauí, no dia 1º de junho de 1878, pelo presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel. Maranhão, Typ. do País, 1878.
- Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente Dr. João Pedro Belfort Vieira, passou a administração da Província do Piauí, ao Exmo. Sr. Dr. Manoel Idelfonso de Souza Lima, 4º vice-presidente da mesma província no dia 11 de dezembro de 1879. Teresina, Typ. do Semanário, 1879.
Bibliografia
- ALMEIDA, Candido Mendes de(Org.). Atlas do Imperio do Brazil comprehendendo as respectivas divisões administrativas, ecclesiasticas, eleitoraes e judiciarias (….). Rio de Janeiro: Litographia do Instituto Philomatico, 1868.
- ARAÚJO, Maria Mafalda Baldoino de. Cotidiano e pobreza: a magia da sobrevivência em Teresina. Teresina: EDUFPI, 2010.
- CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiço e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- DIAS, Dayane Julia Carvalho. Mortalidade e migração no período da seca de 1877-1879 na freguesia de São José (Fortaleza/CE). Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, v. 27, n. 2, p. 175-194, 2019.
- FALCI, Miridan Britto Knox. Viver nos trópicos: aspectos da mortalidade na província do Piauí. In: CASTELO BRANCO, Pedro Vilarinho; QUEIROZ, Teresinha; FERREIRA, Ronyere; SOUSA, Talyta Marjorie Lira (Orgs.). O Piauí oitocentista: economia, política, sociedade e cultura. Teresina: Cancioneiro, 2023. p. 187-195.
- FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984.
- FRANCO, Francisco de Mello. Ensaio sobre as febres com observações analyticas ácerca da topographia, clima, e demais particularidades, que influem no caracter das febres do Rio de Janeiro. Lisboa: Typografia da mesma academia, 1829.
- FREITAS, Clodoaldo. História de Teresina. São Paulo: Mentes Abertas, 2020.
- LEAL, Vinicius Antonius Holanda de Barros. História da medicina no Ceará. Fortaleza: INESP, 2019.
- MARTINS, Hévila de Lima. Lazareto de Jacarecanga e da Lagoa Funda: varíola, poder e assistência na cidade de Fortaleza (1820-1880). Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-graduação em História - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013
- MELO FILHO, Antônio. A condição da saúde pública em Teresina na primeira república (1889-1930). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000.
- PANCINO, Claudia e SILVERIA Lygia. “Pequeno demais, pouco demais”: a criança e a morte na Idade Moderna. Cadernos de História da Ciência, v. 6, n. 1, p. 179-212, 2010.
- SANGLARD, Gisele; FERREIRA, Luiz Otávio. Caridade & Filantropia: elites, estado e assistência à saúde no Brasil. In: TEIXEIRA, Luiz Antônio; PIMENTA, Tânia Salgado; HOCHMAN, Gilberto (Orgs.). História da Saúde no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2018. p. 145-181.
- SANTANA, Márcia Castelo Branco; SILVA, Rafaela Martins. Estado, caridade e filantropia: a Santa Casa e o Asilo de Alienados na assistência médica em Teresina (1889-1909). Embornal, v. 10, n. 19, p. 63-84, 2019.
- SILVA, Alexandre Wellington dos Santos. A pobreza urbana em Parnaíba, Piauí (1890-1920). Dissertação (Mestrado em História Social), Programa de Pós-graduação em História Social - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
- SILVA, João Damasceno Peçanha. Tratado das febres. Rio de Janeiro: Typographia Central, 1886.
- SILVA, Márcio Douglas de Carvalho e. Emigrados do sertão: secas e deslocamentos populacionais Ceará-Piauí (1877-1891). Teresina: Cancioneiro, 2024.
- SILVA, Rafaela Martins. As faces da misericórdia: a Santa Casa de Teresina na assistência pública (1889-1930). Dissertação (Mestrado em História), Programa de Pós-Graduação em História - Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2016.
- SILVA, Rafaela Martins. Seca e doenças em Teresina: a Santa Casa de Misericórdia e a assistência médica aos pobres na cidade (1877-1915). Synthesis, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 96-106, maio/ago. 2020.
- SILVA, Rodrigo Caetano. As doenças que matavam os escravos em Teresina (1877-1887). Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), Belém, v. 08, n. 02, jul-dez. 2021.
- TORRES HOMEM, João Vicente. Estudo clínico sobre as febres do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lopes do Couto & C., 1886.
-
1
Este artigo é resultado das atividades desenvolvidas durante o estágio de pós-doutoramento, realizado no Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí, sob a supervisão do professor doutor Francisco Gleison da Costa Monteiro.
-
4
Segundo Almeida (1868), compreendiam o Norte as seguintes províncias: Amazonas, Grão-Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
-
5
ARAÚJO, 2010, p. 53-54.
-
6
O periódico piauiense editado em Teresina na segunda metade do século XIX, com início de suas atividades no ano de 1878, tinha como discurso principal a defesa do Partido Conservador no Piauí.
-
7
A Época, nº 02, p. 01, 1878.
-
8
Ofício encaminhado ao presidente da Província do Piauí pela Comissão de Socorros de Oeiras, em 16 de outubro de 1877.
-
9
A Época, nº 21, p. 02, 1878.
-
10
CHALHOUB, 1996, p. 66.
-
11
Relatório do presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel, 1878, p. 10.
-
12
MELO FILHO, 2000, p. 64.
-
13
DIAS, 2019, p. 185.
-
14
A Imprensa, nº 605, p. 01, 1879.
-
15
SILVA, 2024.
-
16
Arquivo Público do Estado Do Piauí. Livro de Registros da Santa Casa de Misericórdia de Teresina, de 1879.
-
17
FREITAS, 2020, p. 70.
-
18
Relatório do presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel, 1878, p. 21.
-
19
SANTANA E SILVA, 2019.
-
20
A Imprensa, nº 503, p. 06, 1877.
-
21
SILVA, 2016, p. 34.
-
22
SILVA, 2016, p. 34.
-
23
Relatório do presidente da província Dr. João Pedro Belfort Vieira, 1879 p. 54.
-
24
SILVA, 2020.
-
25
SILVA, 2020, p. 97.
-
26
SILVA, 2020, p. 99.
-
27
SANGLARD E FERREIRA, 2018, p. 145.
-
28
Os lazaretos surgiram na Idade Média, em Pisa, junto à igreja de São Lázaro. Essa instituição hospitalar atendia especialmente as pessoas vítimas de epidemias, muito frequentes naquele período. A partir daí, foram criados outros espaços com a mesma finalidade (LEAL, 2019).
-
29
Relatório do presidente da província Dr. João Pedro Belfort Vieira, 1879, p. 47.
-
30
A Imprensa, nº 605, p. 01, 1879.
-
31
A Imprensa, nº 604, p. 01, 1879.
-
32
A Imprensa, nº 607, p. 06, 1879.
-
33
FOUCAULT, 1984, p. 104.
-
34
FOUCAULT, 1984, p. 95.
-
35
FOUCAULT, 1984, p. 88.
-
36
MARTINS, 2013, p. 53.
-
37
SILVA, 2018.
-
38
Embora se refira neste texto à febre como doença em si pois a documentação sugere essa interpretação, dando-a como diagnóstico e classificando-a como moléstia, “não podemos definir a febre como doença, na medida que é um sintoma marcado pelo aumento da temperatura corporal em consequência da resposta do organismo a invasores, normalmente, vírus e bactérias. No entanto, a presença de vírus e bactérias no organismo, pode ser sinal de alguma doença infecciosa” (DIAS, 2019, p. 187).
-
39
O jornal A Imprensa constitui uma das importantes fontes hemerográficas para as pesquisas de História do Piauí no século XIX. Periódico ligado ao Partido Liberal, “foi um dos principais noticiosos que, vestidos da ideologia política a que serviam, fizeram intenso uso das letras para explorar a condição dos migrantes cearenses que estavam no Piauí” (SILVA, 2024, p. 23).
-
40
A IMPRENSA, nº 587, p. 01, 1879.
-
41
Relatório do presidente da província Dr. João Pedro Belfort Vieira, 1879, p. 47.
-
42
O Propagador, nº 41, p. 02, 1852.
-
43
TORRES HOMEM, 1886, p. 50.
-
44
SILVA, 1886, p. 27.
-
45
O Propagador, nº 41, p. 02, 1852.
-
46
SILVA, 2022, p. 123.
-
47
FRANCO, 1829, p. 07.
-
48
FRANCO, 1829, p. 08.
-
50
Relatório do presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel, 1878, p. 22.
-
51
Relatório do presidente da província Dr. Sancho de Barros Pimentel, 1878, p. 21.
-
52
Mesmo que seja possível esboçar essa interpretação a partir dos dados apresentados no documento, nem todos preferiam permanecer na Santa Casa. Entre os 918 internados, registrou-se um número relevante de fugas, evadindo-se do local 20 piauienses e 10 cearenses.
-
53
Estimativas do ano de 1900 indicam que a expectativa de vida do brasileiro era de 33,7 anos. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-08/ibge-expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumentou-mais-de-75-anos-em-11#:~:text=Em%201900%2C%20a%20expectativa%20de,75%2C4%20anos%20em%202014. Acesso em: 12 de janeiro de 2024.
-
54
FALCI, 2023, p. 150-151.
-
55
PANCINO E SILVERIA, 2010, p. 184-186.
-
56
A Imprensa, nº 608, p. 04, 1879.
-
57
A Imprensa, nº 612, p. 04, 1879.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
01 Set 2024 -
Aceito
11 Nov 2024
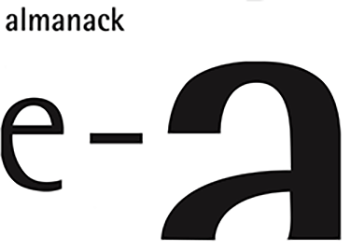
 MIGRAÇÕES, MOLÉSTIAS, SOBREVIVÊNCIAS: CEARENSES E PIAUIENSES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (TERESINA-1879)
MIGRAÇÕES, MOLÉSTIAS, SOBREVIVÊNCIAS: CEARENSES E PIAUIENSES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA (TERESINA-1879)

 O historiadorRodrigo Caetano Silva, ao verificar as principais doenças que vitimavam escravizados na Província do Piauí entre os anos de 1877 e 1887, identificou que, além deles, os “ingênuos”, as “pessoas livres”, os “pobres” e os “imigrantes” eram afetados em igual medida pelas febres e pela malária (febre intermitente, febre paludosa, febre perniciosa), além de diarreia, disenteria e tuberculose.
O historiadorRodrigo Caetano Silva, ao verificar as principais doenças que vitimavam escravizados na Província do Piauí entre os anos de 1877 e 1887, identificou que, além deles, os “ingênuos”, as “pessoas livres”, os “pobres” e os “imigrantes” eram afetados em igual medida pelas febres e pela malária (febre intermitente, febre paludosa, febre perniciosa), além de diarreia, disenteria e tuberculose.