Resumo
O voto, nas democracias contemporâneas, é visto como um exercício de cidadania que deve ser praticado - de modo livre e consciente - por cada indivíduo. No Brasil do século XIX, essa visão não estava consolidada ou plenamente estabelecida. Muitos estudos já patentearam que as eleições oitocentistas eram dominadas por diferentes espécies de fraudes e violências; e que, portanto, as votações não expressavam a “vontade popular”. Nessa perspectiva, pela tônica do falseamento do sistema representativo, a participação dos homens livres pobres no cenário das urnas foi geralmente encarada sob o signo da dependência. Propondo outra chave de leitura para analisar o papel do voto e dos indivíduos com direito a exercê-lo, este artigo põe em destaque o caráter coletivo e público das votações no Império brasileiro e, particularmente, na província de São Paulo da segunda metade do Oitocentos. Servindo-se de variadas fontes, como leis, ofícios, cartas e relatos coetâneos, o trabalho busca demonstrar que o voto como prática coletiva se explica não só pelas condições socioeconômicas, políticas e culturais dos votantes da época, mas também pelas definições estabelecidas pela própria legislação eleitoral entre 1846 e 1881, período aqui em análise. Desse modo, pode-se indagar se no século XIX existia - e como poderia existir - o chamado “voto livre”. Um voto não necessariamente corrompido ou falseado; mas, em todo caso, um voto que era exercido em condições muito distintas daquelas em que o mesmo ato é hoje praticado.
PALAVRAS-CHAVE:
Eleições; votantes pobres; legislação eleitoral; voto coletivo; província de São Paulo; Brasil Império
ABSTRACT
Voting, in contemporary democracies, is seen as an exercise of citizenship that must be practiced - freely and consciously - by each individual. In Brazil in the 19th century, this vision was not consolidated or fully established. Many studies have already shown that nineteenth-century elections were dominated by different types of fraud and violence; and that, therefore, the votes did not express the “popular will”. From this perspective, the participation of poor free men at the polls was generally seen under the sign of dependence. Proposing another reading key to analyze the role of voting and the individuals with the right to exercise it, this article highlights the collective and public nature of voting in the Brazilian Empire and, particularly, in the province of São Paulo during the second half of the 19th century. Using various sources, such as laws, letters, official correspondence, and contemporary reports, seeks to demonstrate that voting as a collective practice is explained not only by the socioeconomic, political, and cultural conditions of voters at the time, but also by the definitions established by the electoral legislation between 1846 and 1881. In this way, one can ask whether in the 19th century there existed - and how it could exist - the so-called “free vote”. A vote not necessarily corrupted or falsified; but, in any case, a vote that was exercised under conditions very different from those in which the same act is practiced today.
KEYWORDS:
Elections - poor voters; electoral legislation; collective voting; province of São Paulo; Brazil Empire
Introdução
Distintos estudos de envergadura já sublinharam que as eleições, no século XIX brasileiro, eram corrompidas - em escala apreciável - por variadas espécies de fraudes e violências. Respaldada por incontáveis fontes, a ideia do falseamento sistemático do regime representativo, fosse ele atribuído mais à intervenção sobranceira da Coroa ou mais aos partidos políticos e seus inúmeros agentes nas províncias, não encontrou muitas dificuldades para se consolidar na historiografia. Embora o voto, no sistema indireto estabelecido pela Constituição de 1824, fosse concedido nas eleições primárias à “massa dos cidadãos ativos”,3 a participação dessas pessoas no cenário das urnas foi geralmente entendida sob o signo da dependência. Em outras palavras, se, como diversos trabalhos já constataram, havia uma expressiva participação popular no Brasil Império de antes da Lei Saraiva (1881), a realidade é que “a vontade do povo ficava reduzida em última instância à vontade do Imperador”;4 e o voto, por sua vez, expressaria “a imensa cadeia do ‘cabresto’ e do comando da vontade do eleitor”,5 podendo ser “um ato de obediência forçada ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade e de gratidão”.6
Sem negar o fato da dependência a que estavam sujeitos (para com os chefes locais), em diferentes níveis, muitos dos cidadãos qualificados votantes, entre os quais havia um número significativo de homens livres pobres que possuíam ocupações ou ofícios bastante modestos, compreende-se, no presente estudo, que uma outra chave de leitura se faz necessária para analisar o papel do voto e dos indivíduos com direito a exercê-lo. Afinal, esses homens adultos livres ou libertos, aos quais a Carta de 1824 deu a função de escolha dos eleitores que votariam nos representantes da nação e das províncias, adquiriam certo protagonismo em época de eleições, que eram episódios frequentes e, em geral, muito disputados pelos atores políticos da maior parte das localidades do Império. A ênfase no caráter distorcido do sistema, que se revelava em tantas denúncias de intervenções fraudulentas nos pleitos, e a que se associava - já no próprio Oitocentos - a (fácil) manipulação de votantes, que eram, por via de regra, “a turbamulta”, “ignorante, desconhecida e dependente”,7 parece ter contribuído mais para obscurecer (e mesmo para reforçar estereótipos) do que para lançar luz sobre os sujeitos do voto e as formas possíveis de participação eleitoral no século XIX.8 Por essas razões, o processo eleitoral em todas as suas dimensões, do exame da legislação ao estudo da cultura e das práticas políticas, foi relegado a um lugar secundário no rol das questões para as quais convergiram os olhares dos pesquisadores do Oitocentos; situação essa que, na historiografia brasileira, só mui recentemente vem sendo alterada.9
Com efeito, na historiografia latino-americana, diversos trabalhos, que abordam distintas regiões no decorrer do século,10 já apontaram que o voto não era uma prática individual, produto de uma vontade isolada, isto é, de um cidadão “livre” e “consciente” - como se espera de um eleitor em uma democracia contemporânea. A novidade do sistema representativo, como fundamento da nova ordem política de feitio liberal, após as independências, impôs uma dinâmica complexa com as antigas hierarquias e formas de interação típicas do Antigo Regime. Como bem assinalou Antonio Annino, “una elección decimonónica era una práctica cultural que articulaba diferentes instituciones: políticas y no políticas, corporativas, comunitarias, territoriales, económicas, etcétera; que operaban no necesariamente en contra de las normas, sino paralelamente”.11 E o protagonista da política moderna - o cidadão com direito a voto - não corresponde, concretamente, ao indivíduo definido pelas normas, ou seja, ao homem apartado de seus vínculos particulares e pertencente a um corpo de caráter abstrato, a que se denominou “nação”. Nesse sentido, recuperar a dimensão social e cultural do ato de votar é fundamental para compreender como esse novo “corpo político” se sobrepôs - articulando-se e amoldando-se de variadas formas - a outros tipos de representação e outras práticas de voto que existiam antes da “era liberal”; costurando relações em que os indivíduos não apareciam como tais, e sim como membros de comunidades ou grupos sociais distintos.
No interior de uma organização social de cunho hierárquico e patriarcal, forjada durante os séculos de sua existência como colônia portuguesa, o voto não era visto como um direito individual a ser proferido livremente. O voto era uma expressão de relações e vínculos preestabelecidos que, no momento da escolha daqueles que exerceriam funções políticas de relevo, deveriam ser diligentemente honrados ou reafirmados em espaço público. Pode-se dizer que a tensão entre o indivíduo livre - o cidadão pleno, definido pela Constituição e dotado de direitos civis e políticos - e a estrutura social de que fazia parte foi um elemento característico da participação eleitoral ao longo do século XIX.12 E o próprio sistema eleitoral, esposando nesse ponto o que afirmou François-Xavier Guerra em relação à Constituição de Cádiz e ao mundo hispânico, pode ser entendido como uma mescla de disposições e práticas que poderiam favorecer a individualização ou, ao contrário, permitir a continuidade (ou mesmo o reforço) de comportamentos de índole comunitária.13
Com base em vários estudos que enfatizam a participação grupal nas eleições da época, com suas especificidades locais, em diferentes partes da Europa e da América, Paolo Ricci apresentou o conceito de “representação coletiva” (collective representation), empiricamente por ele exemplificado, no caso brasileiro, com dados sobre a República entre 1889 e 1937. Trazendo para o centro da análise uma questão aparentemente simples - e amiúde negligenciada pelos estudiosos do sistema representativo -, o autor desenvolve suas reflexões partindo de uma indagação a respeito da natureza dos eleitores no Oitocentos, questionando a ideia do eleitor como indivíduo, haja vista o entendimento de que o “cidadão-indivíduo” ou o “cidadão-eleitor”, no século XIX, nada mais é que uma abstração, uma figura imaginária que ganha substância no decorrer do tempo. Não sendo, em realidade, um exercício privado e individual, o ato de votar era caracterizado por três dimensões centrais: tratava-se de um ato público, coletivo e local. Tal organização abrangia o processo eleitoral como um todo, do alistamento à votação: as pessoas se alistavam (ou eram alistadas) em grupos e votavam em grupos. Para Ricci, o caráter coletivo do voto não é explicado somente por uma visão sociológica do homem da época: “The question is that the electoral legislation itself stimulated the dominance of the collective element”.14 Essa questão, direcionada para o estudo do votante e do exercício do voto no Brasil Império, servirá de fio condutor para o exame a ser empreendido nas próximas páginas deste artigo.
Compreende-se que a investigação aqui encetada é essencial para que sejam vislumbradas as condições e possibilidades da prática do voto no Brasil oitocentista, evitando-se possíveis anacronismos. Assim é que, em meio a uma estrutura hierárquica e eivada de vínculos garantidos pela dominação (sobretudo em âmbito rural), pode-se reencontrar - tendo em vista o clientelismo, diga-se de passagem, como uma tessitura complexa e dinâmica - o papel do indivíduo, do simples cidadão votante, capaz de valorizar sua agência e negociar sua participação.
A pesquisa tem como cenário a província de São Paulo da segunda metade do século XIX, centrando-se no período compreendido entre os anos de 1846 e 1881, quando as eleições eram indiretas: entre a lei eleitoral de 19 de agosto de 1846, “que constituiu a lei básica durante trinta e cinco anos”,15 e o decreto de 9 de janeiro de 1881 (a Lei Saraiva), que estabeleceu o voto direto para a escolha de todos os ocupantes de cargos eletivos e ofereceu estímulos à “individualização” do eleitor - um processo que ficará aqui apenas sugerido, pois foge ao escopo deste texto. Assim sendo, cumpre tentar esclarecer, ainda que sucintamente, os mecanismos por meio dos quais se concretizavam, no período em tela, os processos de alistamento dos votantes, para depois enfocar alguns aspectos-chave em termos de organização, comportamento e vigilância desses mesmos cidadãos que se conduziam (ou eram conduzidos) para o palco das urnas.
A legislação, o voto e o votante na província de São Paulo oitocentista
Em seu livro de memórias, cuja primeira parte foi redigida nos meses finais de 1887, Francisco de Paula Ferreira de Rezende descreveu com vivas cores o processo de uma das eleições anteriores à qualificação prévia de votantes, isto é, o pleito de 1840 na freguesia da Campanha (Minas Gerais).16 Naquele tempo, uma eleição era feita de “muita gente, muita animação, muito pouca ordem; e a eleição era boa”. Isso se dava porque nela havia somente um único representante da autoridade, o juiz de paz, que era, aliás, uma autoridade eletiva e geralmente escolhida dentre os homens poderosos da própria localidade. Desse modo, a eleição era invariavelmente vencida pela maioria, ou seja, por quem tivesse “mais gente e por consequência, mais força”. Ferreira de Rezende também destacou que, nos dois meses precedentes ao pleito, eram empregados muitos esforços ou astúcias para aliciar votantes e, posteriormente, para “reuni-los e aquartelá-los”, pois vinham de diferentes distritos da freguesia, por vezes bastante distantes do distrito central, onde ocorreria a votação. E acomodando-os em casas apropriadas, seriam esses votantes servidos e alimentados, até com certa abundância, e finalmente vigiados e conduzidos por seus chefes ou homens de confiança até a igreja matriz. Nem mesmo na igreja esses grupos se confundiam, pois cada um já sabia que lado do templo lhe pertencia: os conservadores ocuparam o lado direito, os liberais se puseram do lado esquerdo. E ali, nesse momento, com todas as forças reunidas, “puderam os adversários se mirar e medir”, calculando com mais precisão o número real de votantes com que cada partido havia de contar.17
Esse quadro pode ser destrinchado em suas diversas dimensões coletivas ou comunitárias, que aqui serão elencadas em três níveis distintos. Em primeiro lugar, o seu núcleo básico, a família,18 estava representado na figura do chefe de domicílio ou na do pai de família, que, embora não fossem explicitamente nomeados no texto constitucional, eram os votantes por excelência; não só porque os homens casados tinham direito de votar com idade reduzida (aos 21 anos), como também pela exclusão dos “filhos-famílias”, aqueles que vivessem na companhia de seus pais, salvo se desempenhassem “ofícios públicos” (circunstância que importaria sua emancipação política).19 As mulheres, os filhos que dependessem dos pais e outros eventuais “dependentes” do chefe de família estavam excluídos do exercício do voto, mas se achavam nele simbolicamente contemplados por meio da vontade expressa pelo patriarca.20 Em segundo lugar, para além do núcleo familiar ou da família de sangue, o caráter ampliado do voto - que era, não obstante, exercido individualmente - compreendia, numa sociedade hierárquica como a do Brasil oitocentista, as pessoas que se achavam subordinadas àquele chefe por vínculos de lealdade, deferência ou compadrio, vivessem ou não sob o mesmo teto. Nessas circunstâncias, encontrando-se imersos em uma densa rede de relações recíprocas e obrigações, os votantes, mesmo sendo legalmente livres para votar em quem quisessem, tendiam a votar em conformidade com a opção política do elo mais forte dessa cadeia - o proprietário, o fazendeiro ou, como quer que fosse, o chefe partidário local.21 Nesse mesmo sentido, um terceiro nível de expressão coletiva do sufrágio estava relacionado às identidades políticas - referidas aos partidos em que se dividia uma localidade -, que muitas vezes se sobrepunham ou se articulavam, de maneira nem sempre estática ou permanente, aos vínculos sociais preexistentes. Como dá mostra clara a eleição narrada por Ferreira de Rezende, tratando-se, aliás, de uma prática comum no século XIX, os votantes ostentavam publicamente a sua filiação partidária, dirigindo-se “agrupados” até o centro da freguesia, onde costumavam se hospedar em casas distintas, e mantendo-se geograficamente separados no próprio recinto da votação. Em tais condições, ainda que existissem medidas para resguardar o segredo da escolha de cada votante, o voto dificilmente seria o produto de uma consciência individual, livremente manifesta. E a eleição adquiria a forma de uma luta coletiva, na qual a maioria dos votantes participava exibindo suas identidades partidárias, frequentemente sedimentadas por outros vínculos comunitários (a família, o clientelismo), que podiam ficar mais ou menos - e temporariamente - ocultos.
Como em toda organização intrincada e multifária, essas teias de relações sociais, que tornavam o voto uma expressão coletiva, não eram fixas e imutáveis; e os votantes, embora atados a elas, não estavam irremissivelmente fadados a votar como lhes era determinado. Não é raro encontrar indícios, na documentação, de práticas relativas ao agir autônomo dos votantes pobres, à negociação de demandas e lealdades, que por vezes se refaziam no próprio decurso do que se poderia chamar de campanha eleitoral. Não é irrelevante notar que, além de aludir ao “primeiro serviço de aliciar votantes” - o que sugere que estes poderiam não estar automaticamente alinhados a alguma chefia ou liderança -, a narrativa de Ferreira de Rezende mencionava a questão da vigilância exercida sobre os votantes “recrutados” por determinada parcialidade, para que não cedessem à “tentação de desertar”,22 o que leva a crer que a fidelidade eleitoral poderia ser negociada ou renegociada. É possível inferir que esses votantes não pertenciam a uma clientela inteiramente dependente de um grande proprietário, pois, nos casos de estreita dependência, desertar não seria uma alternativa. Possibilidades concretas (de um voto não dependente ou negociado) que, na verdade, eram não raramente postas em prática.
Deixando em suspenso o tópico - aqui apenas tangenciado - da negociação do voto, faz-se oportuno abordar o problema da qualificação de votantes, a fim de demonstrar como alguns elementos constitutivos do próprio sistema de eleições, juridicamente arquitetado, favoreciam a manutenção de um modelo coletivo de participação eleitoral, no qual o votante estava absorvido e do qual foi lentamente se destacando no decorrer do século.
Com efeito, o processo de qualificação instaurado em 1842 - e vigente até 1880 - não exigia a presença dos que pretendiam se alistar diante da junta paroquial e não reclamava qualquer outra ação que dependesse da vontade dos indivíduos que seriam alistados. A lista geral, segundo a lei de 1846, tinha de ser feita por distritos e quarteirões - e por ordem alfabética em cada quarteirão -, sendo os nomes dos votantes sucessivamente numerados, de modo que o último número mostrasse a totalidade dos que foram registrados. Em frente do nome de cada alistado, era necessário mencionar a sua idade, ao menos provável, profissão e estado civil.23 A lei de 1875 (conhecida como Lei do Terço) ampliou o rol de informações que deveriam ser registradas pelas juntas paroquiais, acrescentando “a declaração de saber ou não ler e escrever, a filiação, o domicílio e a renda conhecida, provada ou presumida”.24 Afinal, o que faziam os membros das juntas - em paróquias que muitas vezes, convém sublinhar, eram territorialmente extensas - para obter tais dados, uma vez que estes não lhes eram fornecidos pelos próprios cidadãos qualificados votantes? A lei estabeleceu que os juízes de paz em exercício nos distritos de cada paróquia seriam obrigados a enviar ao presidente da junta, anualmente, uma lista parcial de seus respectivos distritos, contemplando todos os indivíduos legalmente capacitados que ali morassem (e seus dados).25 Além dessas listas obrigatórias, a junta poderia requisitar esclarecimentos de diversas autoridades locais - párocos, juízes de paz, delegados, subdelegados, inspetores de quarteirão, coletores, administradores de rendas e quaisquer outros empregados públicos - para levar a bom termo seus trabalhos, que poderiam ser assistidos pelos párocos e juízes de paz na qualidade de informantes.26 Aquelas listas eram fundamentais para o funcionamento das juntas, e há queixas de que algumas autoridades, por negligência ou por interesse partidário, dificultavam-lhes o acesso às informações precisas para conhecer quem eram os cidadãos de cada distrito com direito ao voto.27
Em todo esse processo, só havia espaço para a participação dos próprios qualificados ou de quaisquer cidadãos da paróquia quando, uma vez finalizados os trabalhos da junta, iniciava-se a etapa de apresentação de “queixas, reclamações ou denúncias” acerca de faltas e irregularidades cometidas; ou, finalmente, quando se tratava da interposição de recursos para fins de inclusão de nomes ou exclusão dos já alistados. Por isso era fundamental que as juntas paroquiais e, a partir de 1875, também as juntas municipais afixassem os resultados de seus trabalhos em local público e (de novo em conformidade com a Lei do Terço) os divulgassem, quando houvesse publicação de jornais no município, pela imprensa.28 O lugar público por excelência para a afixação desses editais era a igreja matriz, onde diariamente circulavam e se encontravam muitas pessoas, sobretudo por ocasião das missas dominicais e das festividades religiosas, para as quais confluíam (quase) todos os moradores das redondezas.
A questão referente à publicidade das listas motivou um arrazoado que o presidente da província dirigiu, em agosto de 1862, ao juiz de paz mais votado de Guaratinguetá, dando conta de uma representação apresentada pelo tenente João Baptista Gomes Deolinda contra a qualificação e revisão de votantes dessa paróquia. Alegava este cidadão que a lista com os nomes dos votantes qualificados (art. 21 da lei de 1846) fora “afixada em lugar muito alto, fora do interior da Matriz, de modo que não podia ser examinada pelos interessados”; e ainda afirmava que essa lista teria desaparecido antes de findarem os 30 dias durante os quais devia estar afixada, sem que o juiz de paz a substituísse. Dos depoimentos de algumas testemunhas e dos demais documentos apresentados, o presidente chegou à conclusão de que o fato da inutilização da lista no decorrer dos 30 dias legais não fora “suficientemente provado”; ficando demonstrado, no entanto, que “a lista geral dos votantes foi afixada na face externa de uma das portas laterais da Matriz em lugar tão alto que não oferecia fácil e cômoda leitura”. Esse procedimento, embora configurasse uma clara irregularidade, no entender do presidente não seria de natureza que por si só bastasse para justificar a anulação da qualificação; visto que, como constava da ata de uma das sessões da junta, “fora apresentada uma reclamação por parte de 829 indivíduos, o que se não poderia ter feito sem conhecimento da referida lista geral”.29 A esse respeito, é relevante dizer que se tratava de uma reclamação de 829 cidadãos feita in loco por um indivíduo, Pedro Augusto Bitencourt, que compareceu diante da junta como representante de todos aqueles que não podiam - ou que nem sequer tinham algum motivo para - comparecer.
O alistamento de uma paróquia podia ser feito a várias mãos, isto é, podia ter por base a cooperação de diversas autoridades locais, como informantes, mas independia da presença e da anuência dos próprios alistados, que amiúde estavam completamente alheios ao processo. Como escreveu um delegado de polícia a um inspetor de quarteirão, ordenando-lhe que mandasse notificar os votantes de sua circunscrição para comparecerem às eleições de juízes de paz e vereadores, em 1856, “muitos votantes de longe ignoram não só o dia das eleições como se são ou não qualificados votantes”.30 Embora o direito ao voto fosse individual, não fora ainda estabelecido que o indivíduo é quem deveria reclamá-lo. Os votantes eram coletivamente alistados e reconhecidos como tais pelas autoridades de suas respectivas paróquias e distritos de paz. A cada cidadão era dada a possibilidade de reclamar seu direito, por intermédio de protestos ou recursos. Ainda assim, como se vê pelo caso dos 829 cidadãos anteriormente referidos, era prática comum que um indivíduo pugnasse pelos direitos de um grupo - mesmo numericamente expressivo - de votantes. Em 1876, como declarou um ofício do governo de São Paulo a um membro da junta municipal de Bragança, “nenhuma disposição legal proíbe que diversos cidadãos constituam um procurador, e que este em uma só petição requeira por todos os constituintes”.31 E o indivíduo que requeria em nome de muitos cidadãos era, geralmente, um homem de partido, em nome do qual atuava pela inclusão de votantes agrupados ou pela exclusão de seus contrários.32
Esse sistema de qualificação foi caracterizado pela instabilidade dos quadros de votantes, que poderiam variar significativamente a cada revisão anual, havendo mudança do partido dirigente no governo central e, por conseguinte, nas províncias. E a isso respondeu a Lei do Terço com “o caráter de permanência que o novo regime eleitoral imprimiu à qualificação, cuja eficácia consiste unicamente em não poder ser excluído da qualificação senão por sentença do poder judiciário o indivíduo que perdeu as condições de votante”.33 A responsabilidade atribuída ao Judiciário no que tange ao alistamento, embora tenha sido um passo considerável no caminho da racionalização do processo - que seria apartado das mãos de juízes de paz e outros cidadãos eletivos com estreitos e múltiplos vínculos em nível local -, por si só não bastou para conferir ao eleitorado a fixidez de seu direito, isto é, a garantia do exercício do voto aos que dispusessem dos requisitos legais, que geralmente ficavam sujeitos a interpretações interessadas e tendenciosas.34
No transcorrer do século XIX, antes das alterações trazidas pela lei de 1881, a qualificação eleitoral foi se tornando uma atividade dirigida por agentes partidários locais (inclusive em instâncias recursais), razão pela qual os votantes qualificados eram imediatamente identificados aos partidos a que pertencessem - ou a que, por suposição, estivessem momentaneamente ligados. Um alistamento não era um simples registro de todos os votantes cujos direitos foram atestados, já que se poderia mesmo julgar, como faziam os políticos da época, se uma qualificação lhes tinha sido mais ou menos “favorável”. Foi o que escreveu de Araraquara, em março de 1867, um proprietário (cujos recursos achavam-se empregados “em casas, terrenos e em 2 sítios”) a seu influente amigo, o tenente-coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho - o futuro Conde do Pinhal -, abastado fazendeiro dedicado à produção de café, na região de São Carlos, fazendo-lhe notar que
[...] a qualificação não nos é em nada favorável; porque metade dos votantes é ligueira, e o Dr. Leite Moraes nada nos pode fazer; porque também é membro da qualificação, e agora é que lembra-se que nisso fez mal, e vai procurar anular a qualificação; isto por aqui eu suponho que não endireita mais.35
Um dos aspectos interessantes das disputas eleitorais oitocentistas é que, mesmo se orientando inicialmente pelos resultados da qualificação, que poderia ser decisiva, elas tendiam a recrudescer nas proximidades do pleito primário, podendo percorrer novos caminhos. Obtendo ou não uma qualificação favorável, que poderia ou não ser anulada pela autoridade competente, qualquer chefia partidária tinha de desenvolver um trabalho árduo para reunir leais aderentes ou atrair prosélitos, que poderiam determinar sua sorte. O processo só se completava no dia da eleição e na igreja matriz, onde as articulações prévias seriam postas à prova e os esforços dos combatentes seriam coroados de êxito ou cerceados pela frustração da derrota, chegado o momento derradeiro, a votação e a posterior contagem de votos. O momento eleitoral era também o ápice de uma forma de expressão coletiva do sufrágio, que tinha início em uma espécie de peregrinação dos votantes, partindo de diferentes bairros da freguesia até o templo designado para a votação, no centro da localidade. É sobre isso que os parágrafos seguintes irão tratar.
Para tanto, faz-se conveniente resgatar o vívido conteúdo das linhas escritas por Ferreira de Rezende, que traz a lume o semblante de uma localidade em clima de eleição. A citação é válida pela elucidação de diversos aspectos relevantes das operações pré-eleitorais. Na véspera da eleição, dia de emoções e tensões que fervilhavam, anunciando a batalha próxima, começavam a chegar de todos os pontos os votantes esperados pelos contendores; e cada uma das “tropas” ou dos “contingentes”, à proporção que chegava, encaminhava-se para o seu respectivo “quartel”. Não é fortuita, nesse sentido, a analogia com um cenário de guerra:
E desde que ali entravam, ficavam todos como se tivessem entrado para um verdadeiro quartel militar ou antes para uma verdadeira praça de guerra; pois que desde que ali penetravam, já ninguém, a não serem os chefes ou oficiais, podia em regra dali sair sem licença ou convenientemente acompanhado, para que não fosse sujeito a alguma tentação de desertar; entretanto que de dia e de noite, nunca deixava de haver sentinelas mais ou menos vigilantes, para que não entrassem inimigos ou espiões na praça, que pudessem avariar as munições ou subornar os soldados. Se, porém, a disciplina era assim tão rigorosa; por outro lado, todos os votantes como verdadeiros soldados que eram, não só tinham direito à etapa que se lhes fornecia com toda a largueza; mas ainda, se não eram cadetes ou soldados particulares, que por sua nobreza e haveres dispensavam qualquer auxílio estranho, tinham igualmente direito a todo o fardamento ou pelo menos a uma certa porção dele; porque havendo então de fato o sufrágio universal, e nem todos podendo se apresentar em forma de um modo suficientemente decente, tornava-se necessário que da caixa saísse o preço de uma roupa mais ou menos apresentável, e muito mais ainda de um bom par de sapatos, que para a gente da roça ainda hoje não se tornou um objeto de primeira necessidade.
Chegado que foi o dia da eleição, e logo depois do almoço, onde, além de uma alimentação simples mas suculenta, não deixava de correr, e de correr com uma certa abundância, a aguardente e muitas vezes mesmo o vinho, cada um dos quartéis começou a despejar o povo que até então tinha encerrado, e todos em forma e bem vigiados, dirigiram-se para a igreja.36
A narrativa do autor poderia ser encarada como uma descrição característica dos “currais eleitorais” e dos “votos de cabresto”, fenômenos constantemente apontados como definidores das eleições no século XIX e na Primeira República (1889-1930). Essa interpretação, contudo, é insuficiente e algo simplificadora. Para Ferreira de Rezende, o que estava em tela não era o que se poderia hoje considerar, sem muita dificuldade, um relato desabonador do modo como os atores se preparavam para o combate eleitoral; era, isto sim, um retrato do que o autor concebia como uma eleição “boa” dos tempos de outrora. Também não havia desdouro em dizer que os votantes eram controlados e vigiados, pois que não se pode afirmar que se tratava, rigorosamente, de uma condição não assentida pelos próprios votantes, que sabiam muito bem quais eram os ganhos que a oportunidade lhes ofertava. Por fim, mas não menos importante, há que se dizer que a prática de conduzir votantes agrupados e de assim os conservar no interior da igreja, mesmo que desenvolvida por costume e nunca validada por lei alguma, também não foi proibida por um dispositivo legal ao longo do período monárquico, ao que tudo indica. Pelo menos foi isso o que categoricamente expressou o governo imperial, presidido pelo Marquês de Olinda, em 1863, no tocante a diversas dúvidas e representações pertinentes à “execução das Leis de eleições”, deliberando ser digna de aprovação a resposta dada pelo presidente de São Paulo ao
[...] declarar que não há disposição alguma que proíba aos votantes pernoitarem em grupo em uma só casa, e se apresentarem da mesma forma para votar, uma vez que não haja nisso coação, porque havendo, deve a autoridade empregar os meios legais para os libertar dela.37
Essa resposta equivalia a dizer que uma forma coletiva de deslocamento e preparação para o voto era não só política e socialmente praticada, mas também legalmente admitida, desde que não houvesse “coação”. Ora, as definições de “coação” podiam ser múltiplas, e sua constatação não era objetivamente simples. As acusações mais ponderáveis em geral envolviam a atuação de pessoas que exerciam algum cargo público ou posição de autoridade, às quais habitualmente estava vedada, por força de muito reiteradas determinações ministeriais, qualquer intervenção no sentido de “cooptar” ou “exercer pressão” sobre os votantes. “Constou-me e geralmente se falou” - palavras do delegado de polícia suplente de Mogi das Cruzes em 1856 - “que muitos votantes na véspera do dia da eleição foram reclusos na Chácara do Subdelegado e daí no dia seguinte foram emgrupados [sic] e conduzidos para a Matriz. Fato semelhante a este deu-se na Chácara de João de Almeida Mello Freire, e em algumas casas desta Cidade”.38 A essas e outras acusações respondeu o subdelegado dizendo que sua atuação fora perfeitamente legal e costumeira:
A minha chácara estava cedida ao Ajudante José de Mello Franco, e que ali reuniu amigos seus; que estiveram francamente, vinham à Cidade e comunicavam-se com quem queriam. V. Sa. sabe que em uma eleição, em que tem de reunir-se avultado número de indivíduos moradores de fora da povoação, não é possível deixar de dar-se o fato de alguns amigos aprontarem acomodações, que é o que realizou-se na eleição de Novembro, mesmo da parte do meu acusador e seus amigos.39
Nesse caso e em outras ocasiões similares, evidencia-se que a crítica exposta nos documentos não se concentrava na prática em si; isto é, no costume de se dirigirem agrupados, em direção ao centro da freguesia, os votantes vindos do interior, das fazendas ou dos bairros rurais mais afastados, para depois serem acomodados e finalmente deslocados, sob certa vigilância, até o recinto eleitoral. O problema estava na atuação de indivíduos dotados de autoridade, como delegados e subdelegados, que mais frequentemente eram alvos de acusações por ingerência espúria nos pleitos. É exemplar, nesse sentido, a justificativa apresentada pelo delegado de Sorocaba, acusado de maquinar em favor dos liberais, quando respondeu aos “fatos” alegados pelos membros da mesa paroquial que se constituiu a 2 de novembro de 1856. Não era verdade, do ponto de vista dessa autoridade,
[...] que em nome do Delegado se fizesse apreensão de votantes pobres, que depois eram conduzidos e conservados presos em casa de Antônio Lopes d’Oliveira; o que houve a esse respeito é o que sempre acontece em toda a parte em ocasião de eleição; os votantes de longe, que não têm casa sua na Cidade, recolhem-se nas de seus amigos, foi o que sucedeu aqui não só em casa de Antônio Lopes, mas de outros Cidadãos; o mesmo deu-se em casa de Antônio Joaquim Broxado, um dos influentes saquaremas, onde se reuniu dias antes da eleição uma boa porção de votantes, e no entanto não dizem os liberais que esses homens aí estiveram presos.40
Pronunciando-se sobre os incidentes ocorridos no dia da eleição primária em Sorocaba, onde teria havido desordens e até “pancadaria”,41 o juiz municipal também fez alguns comentários a propósito do comportamento dos chefes partidários e seus votantes. Não obstante o dissesse em tom de condenação, o juiz destacava que alguns procedimentos eram comuns a ambos os partidos, e não se pode afirmar que fossem legalmente proibidos. O problema era o estado de tensão - e de disposição para a briga - alimentado por esse modelo de confronto entre grupos de votantes adversários - já que “era o povo em massa que gritava” para apoiar ou rechaçar as decisões da mesa -, que poderiam trazer consequências daninhas para a manutenção da ordem pública:
Quanto ao grupo, que entrou na Matriz capitaneado pelo Cidadão Antônio Lopes de Oliveira, é de lastimar que os chefes de um e outro partido julguem necessário reunir os seus votantes em grupo, e assim apresentarem-se na Igreja; porque assim como entrou esse capitaneado pelo Cidadão Antônio Lopes de Oliveira, entrou outro capitaneado por outro Cidadão saquarema. É também digno de lastimar-se que os mesmos chefes julguem para maior segurança ter por alguns dias em suas casas os seus votantes para em grupo apresentá-los na Igreja no dia da eleição: sendo porém certo que os liberais muitos dias antes da eleição foram reunindo os seus votantes e guardando-os em casa.42
Às autoridades locais cabia, idealmente, o duplo dever de garantir que esse modo de organização das forças partidárias não ameaçasse a conservação da ordem e, ao mesmo tempo, não implicasse uma restrição à liberdade dos cidadãos que se aglutinavam para votar. É impossível - e seria ilusório - dizer que não havia coação ou constrangimento dos votantes por parte das autoridades; mas é também muito difícil estabelecer se um agrupamento de votantes fora constituído por livre aquiescência das partes ou se, ao contrário, sua formação se devera a comportamentos de caráter coercitivo e intimidatório. A feição coletiva do modo de preparação para o voto dava amplo lastro para o reforço dessa última narrativa, que podia ser habilmente propalada como instrumento de censura ou desestabilização do oponente partidário. Não raramente os ocupantes de cargos policiais se viam em face da circunstância aludida, tendo de justificarem suas ações perante o governo provincial, que lhes requisitava informações sobre mobilização de guardas ou de gente armada nas proximidades do pleito, e de maneira especial no lugar e no dia da eleição. Foi o caso do delegado de Bragança, que, em 1852, teve de responder a diversas alegações da mesa paroquial. Quanto à acusação de que na véspera da eleição, à noite, patrulhas de guardas nacionais e policiais teriam sido estacionadas nas entradas da vila, para revistar os votantes que chegavam, incorporando alguns à tropa e levando outros para casas de antemão preparadas (de onde sairiam para votar), afirmou o delegado que seu único intento foi garantir que os votantes não se apresentassem “armados em grupos, e mesmo assim não se lhes devia fazer a menor violência, mas somente desarmá-los, e deixar seguir o seu caminho”. Seria igualmente falsa a queixa de que alguns desses votantes teriam sido conduzidos por patrulhas ambulantes até determinadas casas, uma vez que
[...] os votantes que por aí passaram já vinham acompanhados de pessoas influentes, que os tinham reunido nos Bairros de suas residências; não nego que o Partido Saquarema tivesse casas destinadas para a hospedagem dos votantes, assim como também as tivera a oposição, mas no procedimento de um e outro lado se notava uma grande diferença, e vinha a ser que os votantes governistas tinham a faculdade de sair a qualquer hora e de fato foram vistos constantemente a percorrer as ruas desta Vila, sem guardas e todos dispersos; enquanto que os votantes do lado oposto se haviam recolhido fora de horas nas casas de Luiz Gonzaga, Jacinto Ozorio e outras, e daí não saíram senão quando a modo de rebanhos foram conduzidos ao Templo para depositarem as suas cédulas na urna.43
Ao delegado importava declarar que os votantes não tiveram sua liberdade de ir e vir cerceada. Contudo, nada obstava que pudesse dizer que também os votantes saquaremas tinham sido reunidos em certas residências, a partir das quais teriam seguido em grupo até o lugar destinado à eleição. Em suma, poderiam ser diversas as táticas ou estratégias pelas quais tanto conservadores quanto liberais congregavam e supervisionavam seus respectivos grupos de votantes pouco antes da efetivação das votações; mas o modus operandi de ambas as parcialidades era, em todo caso, bastante similar. A coação era uma daquelas práticas ilegais que, por coibirem a liberdade de escolha dos votantes, tinham o condão de difamar a atuação dos chefes partidários, mas não o de desautorizar o modo de proceder dos partidos em suas legítimas reuniões e manifestações coletivas na véspera, no dia e, inclusive, no próprio momento da votação. É assim que se pode interpretar a acusação que levou o subdelegado de Itaquaquecetuba a responder ao chefe de polícia, em 1860, a respeito do argumento de que teria fechado em uma casa certa porção de votantes, coagindo-os a votarem contra suas convicções políticas. Dizendo não ter tomado a menor parte nas eleições do dia 7 de setembro, constava-lhe, porém,
[...] que alguns Cidadãos que se interessavam nas eleições do referido dia fizeram reunir uma porção de votantes em uma casa onde estavam publicamente na maior liberdade, pois passeavam e mantinham relações recíprocas com a massa dos votantes; mas nisso eu não tive a mais pequena parte nem sei que houvesse coação de votantes nessa reunião, que toda foi voluntária. É portanto falsa a notícia que chegou a V. Exa., que não dará peso a notícias dadas por pessoas suspeitas e despeitadas.44
A natureza coletiva e pública dessas movimentações partidárias estendia-se ao recinto eleitoral, no interior do qual, de novo e definitivamente, duas ou mais parcialidades rivais se defrontavam. No Oitocentos, não havia nenhum consenso em torno da conveniência de ser adotado o sufrágio secreto, que só na segunda metade do século começou a ser praticado em alguns países, associando-se ao chamado “voto australiano”.45 Além disso, deve-se considerar que, na época, a ideia de “voto secreto” era diferente do entendimento que atualmente se tem da expressão. Na prática, como bem explicitou Paolo Ricci a respeito dessa antiga concepção, “it was limited in many cases to the moment when the voter deposited the voting slip in the ballot box in public view. It is no accident that the idea of a secret ballot contrasted with the idea of an open vote, viva voce, made by raising one’s hand or declaring one’s vote in front of everyone present”.46
Ainda na segunda metade do XIX, havia, entre os estudiosos do regime eleitoral brasileiro, aqueles que se opunham frontalmente à ideia da “superioridade” do voto secreto para a livre manifestação do eleitorado. Para José de Alencar, que escreveu sobre o tema na década de 1860, a publicidade do voto seria essencial ao sistema representativo; e nenhum cidadão, que se pretendesse livre, deveria “enunciar sua vontade de outro modo”. Para que todas as opiniões formadas no país estivessem representadas no parlamento, seria indispensável que elas se discriminassem e se destacassem, “a fim de não usurpar uma o direito da outra”. “Como avaliar das forças de um partido”, pergunta o autor, “quando os membros dele se esquivam na sombra, e esgueiram em silêncio deixando apenas um voto anônimo? Não acontecerá muitas vezes que essas unidades sejam realmente o contrário do que figuram nas urnas, e se disfarçassem por uma trica eleitoral para arredar qualquer temido adversário?”. A conclusão a que chegou Alencar é de que um povo “digno da verdadeira representação” deveria ter a coragem de revelar suas ideias, vencedoras ou vencidas; e assim, só haveria verdadeira opinião quando os seus adeptos ousassem “assumir absolutamente a responsabilidade dela”.47 O escritor rebatia a posição de outros políticos e defensores da opinião contrária, segundo a qual o voto secreto seria preferível, pois resguardaria o povo da poderosa influência dos agentes governamentais, cuja ação intimidatória se faria sentir de modo mais intenso sobre votantes que devessem emitir abertamente seu voto.
No Brasil oitocentista, embora tenha prevalecido uma situação na qual o votante não era (conforme o ordenamento legal) obrigado a revelar publicamente o voto, diversas práticas, às quais se achava articulado o exercício do sufrágio, contribuíam para torná-lo público e acessível à assembleia paroquial, como expressão de uma identidade partidária (por vezes solidificada por vínculos sociais subjacentes). Essas práticas, convém salientar, encontravam-se fundamentadas em variadas disposições da legislação eleitoral aprovada no parlamento; um arcabouço legal que, da lei de 1846 à de 1875, não alterou substancialmente o modo como os cidadãos votavam nas eleições de primeiro grau.48
O que primeiro determinava o caráter público da votação era o espaço em que ela se encerrava, a igreja matriz, onde a eleição seria realizada entre dois atos religiosos comunitários: antes do pleito, uma “Missa do Espírito Santo”, acompanhada de “uma Oração análoga ao objeto”; depois de finalizados os trabalhos, já com os eleitores escolhidos, “um Te Deum solene”. Após aquela primeira cerimônia religiosa, dava-se início ao rito da eleição, que tinha sua própria liturgia, entendida como o conjunto de elementos e práticas que acompanhavam o ato de votar. Colocada no corpo do templo uma mesa, proceder-se-ia à leitura de alguns trechos das leis e regulamentos eleitorais e, em seguida, à designação dos membros da mesa e à instalação da assembleia paroquial. A partir de então, os votantes seriam chamados pela ordem em que estivessem seus nomes inscritos no alistamento - por distrito e por quarteirão, em ordem alfabética. Dos que não acudissem à primeira chamada se faria um rol, pelo qual se procederia a uma segunda e, finalmente, a uma terceira chamada (no dia imediato ao do encerramento da segunda), que concluía o prazo definido para o recebimento das cédulas. O cidadão seria admitido a votar quando fosse chamado a depositar sua cédula, por meio da proclamação de seu nome, na primeira ocasião ou em uma das duas chamadas subsequentes. Nessa circunstância, com o exíguo espaço da matriz muitas vezes apinhado de votantes, que eram agrupados por seus pertencimentos partidários, e sob os olhares atentos de fiscais e lideranças dos partidos, é que cada cidadão era convocado a dar seu voto.
A cédula deveria ser entregue pelo próprio votante, pois o voto por procuração, admitido pelas instruções de 1824, foi proibido pelo decreto de 1842 e finalmente pela lei de 1846, que também estabeleceu que a lista (ou cédula) não teria que ser assinada pelo votante.49 A legislação manifesta, desde então, uma preocupação com o sigilo do voto, entendido em sentido restrito, isto é, em relação ao momento em que os votantes eram chamados a comparecer perante a mesa paroquial, quando tinham de introduzir na urna as suas cédulas, que deveriam ser “fechadas por todos os lados”, segundo foi determinado por um aviso de 1856, “com obreia, lacre ou outra substância apropriada”.50 No que tange a esse ponto, ainda mais interessante é perscrutar o modo como essas cédulas, com os nomes dos cidadãos votados e suas ocupações, chegavam às mãos dos votantes.
Não havia distribuição de cédulas impressas - com os nomes dos candidatos aos respectivos cargos - pela mesa eleitoral ou pelas autoridades públicas competentes no dia da eleição. Os votantes já chegavam à votação portando cédulas que lhes tinham sido dadas, na maioria dos casos, por seus chefes políticos ou superiores hierárquicos; ou ainda por certas autoridades locais que, embora frequentemente censuradas por este expediente, distribuíam suas listas de candidatos aos cidadãos que lograssem alcançar. Foi essa a queixa - que se referia a uma prática, não raro, denunciada às autoridades superiores da província, envolvendo a suposta mobilização dos inspetores de quarteirão - imputada a um subdelegado que, nas vésperas de uma eleição, conforme o relato do juiz de paz de Apiaí, teria se empenhado em fazer espalhar suas cédulas. Assim, teria ordenado “a todos os Inspetores que intimassem aos votantes para irem receber as cédulas em sua casa a fim de dali as conduzirem à urna, isto debaixo da intimação e ameaça de serem perseguidos e remetidos para fora do Município a conduzir ofícios a diversas Autoridades”. No dia da eleição, ainda segundo o juiz de paz, o subdelegado teria ousado se postar ao topo da mesa, “tomando nota com lápis das pessoas que votavam na oposição para as obrigar a passar mal a noite guardando a urna”.51
A luta pela distribuição de cédulas podia dar ensejo a episódios burlescos, como foi o incidente havido na freguesia de Pirassununga, consoante a narrativa de quatro autoridades que se defendiam de certas acusações por intervenção indevida nos pleitos:
Quase na hora das eleições compareceu em casa do 2º abaixo assinado o mencionado Benedito José Corrêa, pediu-lhe uma cédula, e foram juntos para Igreja, e lá um companheiro de nossos acusadores, José Joaquim Corrêa de Siqueira, meteu a mão na algibeira do referido Benedito, tomou-lhe a cédula, e substituiu-a por outra, sem que o 2º abaixo assinado dissesse uma palavra, e isto mesmo está pronto a jurar o mesmo Benedito, se preciso for.52
Em poucas linhas, o quadro pode ser sintetizado da seguinte forma: as cédulas, com os nomes dos candidatos (para eleitores, juízes de paz ou vereadores) manuscritos, eram distribuídas aos votantes pelos agentes partidários, os mesmos que os reuniam e organizavam bem antes da data marcada para o início da votação. Aproximando-se o dia do pleito, os votantes dos lugarejos e rincões interioranos eram conduzidos até a sede da freguesia, onde eram convenientemente acomodados e mantidos. Chegado o dia da eleição, dirigiam-se em grupos, acompanhados de seus chefes, à igreja matriz, no interior da qual costumavam manter-se em suas posições, sendo facilmente distinguíveis pelo pertencimento a dado agrupamento partidário localmente organizado. Cada um desses votantes seria então chamado pelo nome a comparecer diante da mesa, em cuja urna seria recolhida ou depositada uma cédula (geralmente) não assinada, à vista dos mesários e sob a mira dos líderes partidários que se mantinham mobilizados junto a seus aliados.53
Considerações finais
Um voto poderia ser “livre” nas condições anteriormente descritas? Pode-se admitir que sim, mas de maneira geral seria, por contraditório que possa parecer, um voto sigiloso manifestado em público, e um voto individual que expressava uma organização coletiva. Não poderia ser o voto como é contemporaneamente conhecido e exercido, já que não se poderia exigir que o votante da época se comportasse como o eleitor contemporâneo. Mas não se trata apenas de reconhecer as especificidades do votante do século XIX, tendo em vista as relações sociais que o constituíam e sua interação com o mundo da política. Aqui se sustenta que as próprias normas inerentes ao processo eleitoral não contribuíam para autonomizar o cidadão com direito a voto, isto é, não colaboravam para que suas escolhas fossem manifestadas sem interferências externas no palco da votação. Além disso, para que existisse efetiva “liberdade de voto”, no sentido atual da expressão, seria necessário que o combate à fraude garantisse que o voto do eleitor havia de ser respeitado; um combate incessante que, embora tenha alcançado alguns resultados positivos a cada mudança da legislação eleitoral, estava longe de considerar-se satisfeito ou vitorioso ao findar do último decênio do Império.
Ainda havia um longo caminho rumo à “individualização” do cidadão votante: um processo que exigiria, além do voto secreto e das alterações legais no sentido da eliminação de tudo o que pudesse favorecer comportamentos comunitários (como as próprias assembleias paroquiais, as cerimônias religiosas e o aludido rito de recebimento das cédulas), uma série de fatores de ordem socioeconômica e cultural (como o debilitamento das relações clientelistas, a urbanização, a diversificação profissional e a expansão do trabalho livre assalariado). Há que se considerar, todavia, que um fator decisivo nesse processo foi o aprendizado obtido nas lides políticas ao longo do tempo, um aprendizado da cidadania e do exercício do voto; e este, que não se pode afirmar que fosse, pela maioria do povo, considerado como um direito, e tampouco como um dever, não tardou a ser amplamente reconhecido por sua têmpera cívica, que se relacionava ao pertencimento de cada cidadão a uma comunidade política, ainda que muito abstrata - o Estado-nação brasileiro. Não foi a falta de ardor patriótico, entretanto, e sim o reconhecimento do valor de seu voto o elemento determinante que fez com que muitos cidadãos - ao menos aqueles que garantiam a duras penas a própria sobrevivência - passassem a vislumbrar nesse ato uma importante moeda de troca. Em outros termos, um valioso artefato que, com inteligência e sagacidade, atributos que as elites dificilmente discerniam nas classes populares, poderia ser negociado ou utilizado segundo interesses e objetivos particulares.
Diga-se, a título de conclusão, que foi esse aprendizado que fez com que a luta por votos adquirisse certa dinamicidade no decorrer das décadas imperiais, constituindo um jogo de disputas, negociações e ajustes que se faziam e refaziam a cada período eleitoral; e com participação ativa dos cidadãos votantes que se sabiam portadores de uma “função” - o sufrágio - altamente prestigiada pelas lideranças políticas locais. Essa discussão abre espaço para o exame - a ser desenvolvido em outros trabalhos - das possibilidades de “autonomia” dos votantes, em suas múltiplas vertentes, dentro e fora do palco das urnas.
Bibliografia
- ALENCAR, José de. O sistema representativo Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1868. Edição fac-similar. Brasília: Senado Federal, 1996.
- ANNINO, Antonio(org.). Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1995.
-
ANNINO, Antonio. El voto y el XIX desconocido. Istor, Revista de Historia Internacional, ano V, n. 17, p. 43-59, 2004. Disponível em:Disponível em:http://www.istor.cide.edu/archivos/num_17/dossier3.pdf Acesso em: 20 mar. 2024.
» http://www.istor.cide.edu/archivos/num_17/dossier3.pdf - BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Público brasileiro e análise da Constituição do Império [1857]. In: KUGELMAS, Eduardo (org.). José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente São Paulo: Editora 34, 2002.
- CARTA de Cândido Borba a Antônio Carlos de Arruda Botelho, 01/03/1867. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, Brasil. Cópia digital acessada na base de dados da Casa do Pinhal, id. 3376 e 3567.
- CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
-
COLEÇÃO das Leis do Império do Brasil. Anos diversos. Disponível em: Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis Acesso em:18 mar. 2024.
» https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis -
COLOMER, Josep M. On the origins of electoral systems and political parties: The role of elections in multi-member districts. Electoral Studies, 26(2), p. 262-273, 2007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.02.002.
» https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.02.002 -
CONSTITUIÇÃO Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. Disponível em: Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis/copy_of_colecao2.html Acesso em: 16 mar. 2024.
» https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/colecao-anual-de-leis/copy_of_colecao2.html -
CORREIO Paulistano. São Paulo, ano III, n. 465, 08/11/1856, p. 2. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em:Disponível em:https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ Acesso em: 18 mar. 2024.
» https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ - CORRESPONDÊNCIAS diversas: CO2472; CO2474; CO2489; CO4783; CO4844; CO7707; CO7709; CO7764; E00273; E00448. Anos diversos. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). São Paulo, Brasil.
- DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.
-
DOLHNIKOFF, Miriam. Governo representativo e legislação eleitoral no Brasil do Século XIX. Journal of Iberian and Latin American Research, 20:1, p. 66-82, mar. 2014. DOI: https://doi.org/10.1080/13260219.2014.888940.
» https://doi.org/10.1080/13260219.2014.888940 -
DOLHNIKOFF, Miriam. Governo representativo e eleições no século XIX. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, a. 178 (474), p. 15-46, maio/ago. 2017. DOI: http://10.23927/issn.2526-1347.RIHGB.2017(474):15-46.
» https://doi.org/10.23927/issn.2526-1347.RIHGB.2017(474):15-46 - FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Globo , 2001.
-
FERREIRA, Manoel Jesuíno. Prontuário eleitoral: compilação alfabética e cronológica das leis, decretos e avisos sobre matéria de eleições, compreendendo as disposições desde a Constituição Política do Império até o presente. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1871. Disponível em:Disponível em:https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518630 Acesso em: 18 mar. 2024.
» https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518630 - GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
- GRAHAM, Richard. Ciudadanía y jerarquía en el Brasil esclavista. In: SABATO, Hilda(org.). Ciudadanía política y formación de las naciones Perspectivas históricas de América Latina. México: Fideicomiso de Historia de las Américas de El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 345-370.
- GUERRA, François-Xavier. El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina. In: SABATO, Hilda(org.). Ciudadanía política y formación de las naciones Perspectivas históricas de América Latina. México: Fideicomiso de Historia de las Américas de El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica , 1999, p. 33-61.
- HOLANDA, Sérgio Buarque de. Do Império à República In: HOLANDA, Sérgio Buarque de(org.). História Geral da Civilização Brasileira Tomo II: O Brasil monárquico, vol. 7. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
- MOREIRA, Gustavo Alves Cardoso. Legislação eleitoral e política regional: Um estudo sobre o impacto das reformas de 1855, 1860 e 1875 no sul fluminense. Tese (Doutorado em História). Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
- MUNARI, Rodrigo Marzano. Deputados e delegados do poder monárquico: eleições e dinâmica política na província de São Paulo (1840-1850). São Paulo: Intermeios, 2019.
- MUNARI, Rodrigo Marzano. O Império das urnas: legislação, eleições e votantes pobres na província de São Paulo (1850-1889). Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.
- PIMENTA, Evaristo Caixeta. As urnas sagradas do Império do Brasil: governo representativo e práticas eleitorais em Minas Gerais (1846-1881). Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
- REZENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas recordações [1887]. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1944.
-
RICCI, Paolo. Political Representation as Collective Representation Considerations Based on the Brazilian Case. Representation, 55(3), p. 265-283, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1594351.
» https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1594351 - SABATO, Hilda(org.). Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México: Fideicomiso de Historia de las Américas de El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica , 1999.
- SILVA, Lyana Maria Martins da. Reforma Gorada: a Lei do Terço e a representação das minorias nas eleições de 1876 em Pernambuco. Dissertação (Mestrado em História). Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- SOUZA, Francisco Belisário Soares de. O sistema eleitoral no Império [1872]. Com apêndice contendo a legislação eleitoral no período 1821-1889. Brasília: Senado Federal , 1979.
-
3
Art. 90 da Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824.
-
4
Holanda, 2005, p. 87.
-
5
Faoro, 2001, p. 430.
-
6
Carvalho, 2009, p. 35.
-
7
Palavras do conservador Francisco Belisário Soares de Souza, em sua muito conhecida e reproduzida publicação de 1872 (1979, p. 33).
-
8
Embora venha sendo questionado em distintos trabalhos surgidos nos últimos anos, o feitio supostamente “generalizado” de práticas vistas como fraudulentas ou corruptas, que imporiam sérios óbices à expressão popular nos pleitos, ainda tem força nos estudos historiográficos. Segundo Pimenta (2012), a corrupção, que o autor distingue da fraude, “era um componente inerente às práticas eleitorais oitocentistas” (p. 139); dado que, em outras palavras, “o sistema eleitoral do Império operava em meio a uma cultura política condescendente com as práticas eleitorais desonestas” (p. 216-217). Há ainda interpretações que reafirmam que as mudanças implantadas na legislação eleitoral, ao longo do Império, obedeciam a uma “lógica interna decididamente excludente”, voltada para a manutenção de “eleitorados diminutos” (Moreira, 2014, p. 296-298); de que é exemplo a “reforma gorada” de 1875, a Lei do Terço, que, de acordo com Silva (2014), não logrou garantir a representação das minorias no parlamento e não bastou “para fazer frente à tão criticada interferência do governo nas urnas, através da violência e fraude institucionalizadas” (p. 142).
-
9
Destacam-se, sob a perspectiva que contesta a ideia do falseamento do regime representativo em funcionamento no Brasil do século XIX, os trabalhos de Dolhnikoff (2005, 2014, 2017, entre outros). Para o caso de São Paulo, aqui em tela, cf. Munari (2019 e 2024).
-
10
Entre muitos outros estudos, cf. as obras organizadas por Annino (1995) e Sabato (1999).
-
11
Annino, 2004, p. 46.
-
12
Como sugeriu Graham (1999), notando o impacto, nos anos posteriores à Independência, das ideias trazidas do Velho Mundo (como liberalismo, individualismo, igualdade, democracia e cidadania) e das instituições criadas sob sua inspiração, “puede decirse que Brasil vivía dos vidas simultáneamente: una del Ancien Régime, de órdenes y jerarquías horizontales, y otra, nueva, en la cual los ciudadanos ejercían el poder de manera igualitaria, eligiendo a sus representantes a través de comicios” (p. 349).
-
13
Guerra, 1999, p. 49.
-
14
Ricci, 2019, p. 267.
-
15
Graham, 1997, p. 107.
-
16
O alistamento prévio foi criado pelas instruções eleitorais de 4 de maio de 1842; pois, pelas instruções anteriores (26 de março de 1824), os votantes eram confusamente admitidos ou rejeitados como tais, pela mesa da assembleia paroquial, no próprio dia da eleição. Não havia limites claramente definidos para as atribuições da mesa, que assim gozava de ampla margem para o arbítrio, podendo aceitar os votos de quem quisesse e recusá-los quando, por presunção, julgasse que os cidadãos não reuniam as condições legais. Tampouco havia chamada ou prazo marcado para o recebimento das cédulas, tudo ficando a critério da mesa. Para mais informações sobre os resultados das experiências eleitorais feitas sob esses dois regulamentos, cf. Souza, 1979, p. 49-59.
-
17
Rezende, 1944, p. 123-129.
-
18
Cumpre destacar que a dimensão grupal do voto associada à família não será objeto de discussão no presente artigo, já que as próprias fontes nas quais se baseia o trabalho não permitem explorar a contento esse aspecto. Todavia, e até como sugestão para aprofundamento em futuros trabalhos, convém pôr em relevo a família (ou a família alargada) enquanto forma exemplar do modus operandi do voto; isto é, enquanto núcleo básico de uma forma de expressão coletiva do sufrágio, em que um voto não aparece como a manifestação de um único indivíduo na arena eleitoral, mas corresponde à vontade de um “corpo” (um grupo definido por laços sanguíneos ou por vínculos socialmente estabelecidos em cada localidade) que manifesta publicamente sua preferência política no cenário das urnas.
-
19
Art. 92 da Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Sobre os “filhos-famílias”, cf. Bueno, 2002, p. 266; e Ferreira, 1871, p. 327.
-
20
Interessante nesse sentido é a concepção exposta por José de Alencar, segundo a qual “o cidadão é a partícula da soberania, é o voto”. Este, portanto, deveria pertencer, “no domínio da verdadeira democracia”, a qualquer indivíduo que fizesse parte de uma nacionalidade. No entanto, embora detentores de direitos políticos, diversos desses cidadãos estavam por algum motivo privados de exercer sua faculdade. Em outras palavras, “a incapacidade determina apenas o modo de ação, o exercício”. Para Alencar, “o sexo, a idade, a moléstia e outros impedimentos inabilitam certas pessoas para o exercício próprio ou direto da soberania; mas estas ficam sujeitas como a família a seu chefe ou representante civil; e por seu órgão, devem exercer os direitos que lhe competem. Não há, não pode haver um ente racional, unido por título de origem ou de adoção a qualquer estado que não participe de uma fração correspondente de soberania”. O autor defendia, mais como uma “aspiração de futuro”, pois que não lhe parecia realizável naquele momento, uma justa e “legítima representação dos direitos políticos inativos”; por meio da qual aquelas que eram, por exemplo, “esposas, mães, filhas e irmãs de cidadãos” teriam seus votos contados e participariam da vida política “por seus órgãos legítimos”, e não de modo direto e individual (com exceção das mulheres que assumissem “a direção da família na falta do chefe natural”, caso em que exerceriam “por si mesmas o direito de cidade, servindo de curadora ao marido ou de tutora aos filhos”). Alencar, 1996, p. 79-82.
-
21
É pertinente aqui a observação de que um voto baseado em vínculos ou relações clientelistas não era, necessariamente, um voto falseado ou irrefletido para o votante pobre. Esse voto se fundava em relações nas quais havia alguma reciprocidade (troca de favores e, sobretudo, proteção contra adversários ou ameaças de agentes governamentais, como o temido recrutamento forçado). Além disso, pode também não ser exato afirmar que se tratava de um voto constrangido ou imposto. Há que se considerar que um voto livre no século XIX, como apontou François-Xavier Guerra em já referido artigo, não era obrigatoriamente um voto individualista, produto de uma vontade isolada. Essa perspectiva pode ser apropriadamente adaptada para pensar o Brasil oitocentista, escapando às interpretações que veem os votantes pobres como sujeitos inteiramente manipulados ou incapazes de fazer suas próprias escolhas: “Inmerso en una red de vínculos sociales muy densos, el ciudadano se manifiesta libremente a través de su voto como lo que es: ante todo, miembro de un grupo, sea cual fuere el carácter de éste (familiar, social o territorial). El elector escoge con libertad a aquellos que mejor representan a su grupo, normalmente a sus autoridades o a los que éstas designan, como lo corroboran los resultados electorales de que disponemos”. Guerra, 1999, p. 52.
-
22
Rezende, 1944, p. 125-126.
-
23
Art. 19 da Lei no 387, de 19 de agosto de 1846. Em termos práticos, conforme o artigo seguinte da mesma lei, a junta de qualificação paroquial celebraria “as suas Sessões em dias sucessivos, principiando às 9 horas da manhã, e terminando ao Sol posto, devendo concluir o seu trabalho no espaço de 20 dias ao mais tardar”.
-
24
Art. 1º, § 4º, do Decreto no 2.675, de 20 de outubro de 1875.
-
25
Um decreto do governo deu instruções para a “boa execução” da lei nesse ponto, definindo que as listas deveriam ser organizadas pelos juízes de paz dos distritos sobre a base do alistamento anterior, resultando em duas relações que seriam enviadas ao presidente da junta paroquial: uma “dos cidadãos incluídos na última qualificação e que devam ser eliminados pela Junta por haverem falecido, por se terem mudado ou perdido as qualidades de votantes”; e outra “dos nomes dos cidadãos que devam ser incluídos na lista da qualificação pela Junta revisora por se haverem mudado para o distrito, ou adquirido as qualidades de votantes depois da última qualificação”. Decreto no 2.865, de 21 de dezembro de 1861.
-
26
Artigos 20 e 31 da Lei no 387, de 19 de agosto de 1846. Criada a junta municipal para organização definitiva das listas de votantes de cada município, em 1875, foi ela incumbida de servir-se “dos trabalhos das Juntas paroquiais, das informações que devem prestar-lhe os agentes fiscais das rendas gerais, provinciais e municipais, bem como todas as autoridades e chefes de repartições administrativas, judiciárias, policiais, civis, militares e eclesiásticas; finalmente, de todos os esclarecimentos e meios de prova necessários para verificação da existência dos cidadãos alistados e das qualidades com que o devem ser”. Art. 1º, § 11, do Decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875.
-
27
Em 1849, dois membros da junta de Pindamonhangaba reclamaram de irregularidades na qualificação, com exclusão deliberada de cidadãos votantes (de 963 em 1848, teriam se reduzido a 518 no ano seguinte), para o que teriam concorrido as ordens das autoridades aos inspetores de quarteirão, a fim de que no alistamento dos fogos fizessem “grande exclusão deles, resultando apresentarem tão imperfeitos alistamentos, que para nada serviam”; ao que se devia acrescentar o fato de o próprio juiz de paz, presidente da junta, não ter apresentado a lista de que trata o art. 19 da lei de 1846, ficando a junta sem base para a qualificação, que se fez a partir de informações fornecidas por algumas autoridades ditas “suspeitas” - 16/05/1849 - CO4844. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). Nessa mesma localidade, em 1876, o presidente provincial dirigiu-se ao delegado de polícia, transmitindo-lhe representação do presidente da junta paroquial, na qual se dizia que as autoridades policiais da cidade se recusavam a fornecer as informações necessárias para a junta; e ordenando-lhe que, pelos inspetores de quarteirão, fossem fornecidas as respectivas listas dos cidadãos aptos para votantes - 18/04/1876 - E00448. APESP.
-
28
Artigos 21 e 22 da Lei no 387, de 19 de agosto de 1846. Art. 1º, §§ 13 e 14, do Decreto nº 2.675, de 20 de outubro de 1875.
-
29
Ofício do presidente da província de São Paulo, João Jacinto de Mendonça, ao juiz de paz mais votado de Guaratinguetá, 16/08/1862 - E00273. APESP.
-
30
Ofício do delegado da vila de São José do Paraíba, José Caetano de Mascarenhas Ferraz, ao inspetor de quarteirão Francisco José de Oliveira, 11/07/1856 - CO2472. APESP. Grifos meus.
-
31
Ofício do governo provincial de São Paulo a Antônio Silveira, membro da junta municipal de Bragança, 22/07/1876 - E00448. APESP. Grifos meus.
-
32
Em 1862, por exemplo, o presidente da junta de qualificação da paróquia de Porto Feliz informou ao presidente provincial, João Jacinto de Mendonça, que um cidadão (Joaquim Ribeiro Homem) apresentou dois requerimentos, um pedindo a exclusão de 44 votantes qualificados, e outro solicitando a inclusão de 66 indivíduos; requerimentos dos quais a junta não tomou conhecimento por não estarem devidamente documentados - 12/03/1862 - E00273. APESP.
-
33
Ofício do governo provincial de São Paulo ao Ministério do Império, 14/06/1878 - CO7764. APESP.
-
34
Vale aqui apontar que outra mudança trazida pela lei de 1875 foi a listagem dos documentos que deveriam ser admitidos como prova da renda legal, com o intuito de diminuir a arbitrariedade das juntas. Medida salutar, mas que não fez da prova documental o único meio de alistamento, já que os cidadãos com “renda conhecida” ou “presumida” poderiam ser igualmente alistados.
-
35
Carta de Cândido Borba a Antônio Carlos de Arruda Botelho, 01/03/1867. Acervo do Arquivo Nacional. Cópia digital disponível na base de dados da Casa do Pinhal, id. 3376 e 3567.
-
36
Rezende, 1944, p. 125-127.
-
37
Ofício do Ministério do Império ao governo provincial de São Paulo, 06/08/1863 - CO7709. APESP. Grifos meus.
-
38
Ofício do 4º delegado de polícia suplente de Mogi das Cruzes, Veríssimo Affonso Fernandes, ao chefe de polícia da província de São Paulo, Antônio Roberto de Almeida, 09/11/1856 - CO2474. APESP.
-
39
Ofício do 2º juiz de paz e subdelegado de Mogi das Cruzes, Pedro Paulino dos Santos, ao chefe de polícia da província de São Paulo, 15/01/1857 - CO2474. APESP.
-
40
Ofício do delegado de Sorocaba, Francisco José Rodrigues, ao chefe de polícia da província de São Paulo, Antônio Roberto de Almeida, 18/11/1856 - CO2474. APESP. Grifos meus.
-
41
Segundo correspondência publicada no Correio Paulistano (ano III, n. 465, 08/11/1856, p. 2), “cada partido tinha a sua casa de depósito de votantes, que chamavam viveiro”. No dia da eleição, “os liberais conduziram o seu grupo de votantes para a igreja, e o acostaram para o lado do antigo cemitério que tem uma porta para a rua, e os saquaremas conduziram o seu para outro lado. Cada partido blasonava que a vitória seria de sua parte; mas ambos agarravam-se aos galhos”.
-
42
Ofício do juiz municipal de Sorocaba, João Feliciano da Costa Ferreira, ao chefe de polícia da província de São Paulo, Antônio Roberto de Almeida, 28/11/1856 - CO2474. APESP. Grifos meus.
-
43
Ofício do delegado de Bragança, Joaquim Pinto Porto, ao presidente da província de São Paulo, 06/02/1852 - CO7707. APESP.
-
44
Ofício do subdelegado de Itaquaquecetuba, Francisco José de Araújo, ao chefe de polícia da província de São Paulo, Ludgero Gonçalves da Silva, 17/09/1860 - CO2489. APESP.
-
45
“The new ballot, which was now printed and distributed by the electoral authority, listed the candidates of all parties instead of only one. As its name indicates, this new form of ballot was first introduced in the British colonies of Australia in 1856 and New Zealand in 1870; it was adopted by Britain in 1872, Canada in 1874, Belgium in 1877, several states in the US from 1888, and later adopted by most other countries with democratic experience. The Australian ballot ensures a secret vote if the procedure includes a booth where the voter can mark the ballot unobserved”. Colomer, 2007, p. 268-269.
-
46
Ricci, 2019, p. 268-269.
-
47
Alencar, 1996, p. 117-124.
-
48
Além dos textos legais das principais reformas eleitorais anteriores a 1881 (1846, 1855, 1860 e 1875) e seus regulamentos, a discussão aqui encetada tem por base o Prontuário eleitoral elaborado por Manoel Jesuíno Ferreira, que fez uma pormenorizada compilação de leis, decretos e avisos sobre matéria de eleições até a data da publicação em segunda edição (1871).
-
49
As cédulas dos votantes para eleitores poderiam ou não ser assinadas, ou seja, a assinatura era opcional; já as cédulas para vereadores e juízes de paz, obrigatoriamente, não poderiam conter assinaturas, devendo ser inutilizadas no caso de estarem assinadas. Cf. Ferreira, 1871, p. 149 e 168; artigos 108 e 134 do Decreto no 6.097, de 12 de janeiro de 1876.
-
50
Aviso circular de 27 de setembro de 1856. In: Ferreira, 1871, p. 79-81. Art. 11 do Decreto no 2.621, de 22 de agosto de 1860. Quanto ao recebimento das cédulas, a lei de 1846 (art. 48) estabeleceu apenas que elas seriam recolhidas em uma urna à proporção que fossem recebidas pela mesa. Já pelo aviso de 1856, definia-se expressamente que os votantes introduziriam na urna as suas cédulas, quando chamados pela mesa. Pela lei de 1875 (art. 2º, § 9º), o mesmo processo seria aclarado: “Instalada a mesa paroquial, começará a chamada dos votantes, cada um dos quais depositará na urna uma cédula fechada por todos os lados”.
-
51
Ofício do juiz de paz mais votado de Apiaí, Francisco de Paula Ribeiro de Arruda, ao presidente da província de São Paulo, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, 18/09/1856 - CO2472. APESP.
-
52
Ofício dirigido por Manoel Joaquim de Oliveira e Silva, Antônio José de Araújo, Miguel Carlos Cardoso e Ivo Joaquim Gordiano ao delegado de Limeira, Joaquim Franco de Camargo, 08/11/1856 - CO2472. APESP.
-
53
Além da presença ostensiva dos chefes partidários, que poderiam exercer pressão sobre os votantes no interior do recinto eleitoral, havia certas medidas acordadas entre os partidos e que, sem ferir nenhuma disposição legal, tinham o potencial de influir no ânimo dos cidadãos presentes. Exemplo disso era uma providência que, segundo uma autoridade de Sorocaba em 1863, vinha sendo “sempre admitida por ambos os partidos e pelas autoridades policiais”, e que consistia na “medida pacífica da nomeação de uma comissão de ambos os partidos para revistar a todas as pessoas que entrassem na Matriz”. Ofício do juiz municipal e delegado de Sorocaba, João Feliciano da Costa Ferreira, ao juiz de direito Joaquim Otávio Nébias, 18/09/1863 - CO4783. APESP. Grifos meus.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
13 Jan 2025 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
12 Jun 2024 -
Aceito
08 Out 2024
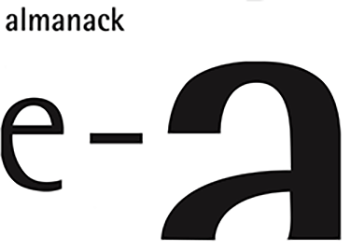
 AGRUPAR, CONDUZIR E VIGIAR: O VOTO COMO PRÁTICA COLETIVA NO BRASIL DO SÉCULO XIX (PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 1846-1881)
AGRUPAR, CONDUZIR E VIGIAR: O VOTO COMO PRÁTICA COLETIVA NO BRASIL DO SÉCULO XIX (PROVÍNCIA DE SÃO PAULO, 1846-1881)