RESUMO
Neste trabalho, procuramos evidenciar o papel das relações textuais (tais como as de argumento, preparação e comentário) na atribuição de ações, ou seja, no processo por meio do qual os interlocutores usam diferentes recursos verbais e não-verbais para projetar e reconhecer ações, como pedir informação, convidar, ameaçar, parabenizar, criticar, etc. Na literatura sobre o tema, reconhece-se o papel fundamental da linguagem verbal nesse processo de atribuição de ações. Contudo, pouca atenção se deu ao papel que as relações textuais podem exercer nesse processo. Articulando contribuições teóricas da Pragmática conversacional e da Análise da Conversa etnometodológica, estudamos o papel das relações textuais na atribuição de ações em dois debates eleitorais presidenciais. O que se verificou com as análises foi que essas relações, expandindo o turno, fazem com que sentenças que, sem as relações, poderiam ser identificadas como asserções, pedidos de informação e conselhos sejam reconhecidas, em razão das relações, como desafios (provocações), críticas, acusações, ameaças, promessas, etc.
Atribuição de ação; Relações textuais; Debate eleitoral
ABSTRACT
In this paper, we study the role of textual relations (such as argument, preparation, and comment) in action ascription, that is, in the process through which interlocutors use different verbal and non-verbal resources to project and recognize actions, such as asking for information, inviting, threatening, congratulating, criticizing, etc. The literature on the subject acknowledges the central role of verbal language in this process of action ascription. However, little attention has been paid to the role that textual relations can play in this process. Articulating theoretical contributions from Conversational Pragmatics and ethnomethodological Conversation Analysis, we study the role of textual relations in the action ascription in two presidential election debates. The analysis showed that these relations, by expanding the turn, result in sentences that would otherwise be identified as assertions, requests for information, and advice to be recognized, instead, as challenges (provocations), criticisms, accusations, threats, promises, etc.
Introdução
Na perspectiva interacionista dos estudos da linguagem, o estudo dos recursos textuais e linguísticos importa na medida em que constituem procedimentos para (inter)agir. Nesse estudo, o valor desses recursos mede-se e avalia-se em contexto, uma vez ser por meio deles e de procedimentos não-verbais que os interactantes podem agir e reagir, reparar problemas interacionais, definir conjuntamente a situação que vivenciam, reivindicar autoridade sobre domínios de conhecimento, endossar papéis sociais e imagens identitárias, regular e definir (as)simetrias hierárquicas e de poder, etc. (Ford; Fox; Thompson, 2002a; Heritage, 2013a; Kerbrat-Orecchioni, 1992; Schegloff, 2007). Por isso, o estudo sistemático da língua e do texto ocupa um lugar central nessa perspectiva, mas evidentemente não se postula uma autonomia da gramática e do texto em relação ao ambiente em que emergem e que ajudam a constituir. Nessa visão, a gramática e o texto são elementos indissociáveis do contexto.
Inseridas nesse vasto campo interacionista, diferentes abordagens têm contribuído para a compreensão do papel de recursos textuais e linguísticos na interação. No campo da pragmática linguística, os estudos sobre a im/polidez têm revelado que vários fenômenos linguísticos usados na interação, como advérbios modalizadores, determinados tempos verbais e construções sintáticas, encontram explicação e motivação nas considerações de face (positiva e negativa) dos interactantes (Brown; Levinson, 1987; Culpeper, 2011; 2016). No campo da Análise da Conversa etnometodológica e da Linguística Interacional, revela-se o papel de primeira importância da sintaxe na realização de ações fundamentais para o desenvolvimento da interação, como projetar o fim do turno de fala ou o lugar relevante de transição, mudar o tópico da conversa, construir enunciados conjuntamente, assumir posturas de maior ou menor conhecimento em relação ao interlocutor, etc. (Clayman, 2013; Ford; Fox; Thompson, 2002a; Ochs, Schegloff, Thompson, 1996; Thompson; Couper-Kuhlen, 2005). No âmbito do grupo da organização textual-interativa, integrante da Gramática do Português Falado, demonstrou-se a função interacional que exercem, em entrevistas e elocuções formais, como aulas universitárias, os marcadores discursivos (interacionais e sequenciadores), os turnos de pergunta e resposta, a estruturação do enunciado em tema e rema, determinados tempos verbais, as atividades de formulação textual, etc. (Koch; Jubran, 2006).
Filiados a essa perspectiva interacionista, temos buscado, nos últimos anos, compreender o papel na interação das relações textuais e seus marcadores (conectores e construções sintáticas). Afastando-nos de uma visão que os concebe como simples mecanismos de coesão, temos procurado revelar, a partir de uma concepção praxiológica ou acional da linguagem, que, mais do que permitir ao produtor do texto oral ou escrito elaborar um texto que possa ser avaliado como coerente pelo leitor ou ouvinte, essas relações são procedimentos de que os interactantes se valem para interagir (Cunha, 2022a).
Focalizando sobretudo interações institucionais, como debates eleitorais e entrevistas midiáticas, temos obtido evidências do efetivo papel que as relações textuais desempenham na interação, algumas das quais são as seguintes:
-
A decisão do locutor por estabelecer uma relação, como a de reformulação, é sensível à posição sequencial do turno, essa decisão podendo ser motivada pelas ações realizadas pelo interlocutor no turno anterior e podendo impactar as ações que este realizará no turno seguinte (Cunha, 2022a).
-
As relações textuais, como as de causalidade, contra-argumento e comentário, permitem ao locutor antecipar-se a possíveis objeções do interlocutor quanto à natureza ofensiva de sua intervenção, para fazer com que este não interprete essa intervenção como um ataque à sua face (positiva ou negativa) (Cunha, 2020a; 2020b; 2022b).
-
Relações como a de comentário metadiscursivo auxiliam, em interações conflituosas, como debates, cada locutor a desempenhar uma linha de conduta tensa, por meio da qual avalia constantemente a intensidade dos ataques e das defesas que realiza em relação às suas próprias faces, bem como às faces do interlocutor (adversário) e de terceiros (Cunha; Braga, 2018; Cunha; Braga; Brito, 2019).
-
Relações, como as de preparação, contra-argumento e reformulação, permitem aos interlocutores gerirem a dimensão epistêmica, realizando ações como as de reivindicar autoridade epistêmica sobre determinados tópicos, hierarquizar informações, endossar posições de maior ou menor conhecimento, etc. (Cunha, 2023a; 2023b).
Desenvolvendo essa perspectiva para o estudo das relações textuais, procuramos neste trabalho evidenciar sua importância na atribuição de ações, ou seja, no processo por meio do qual os interlocutores usam diferentes recursos (linguagem verbal, prosódia, gestos, objetos, etc.) para projetar e reconhecer ações, como pedir informação, assertar, convidar, ameaçar, parabenizar, criticar, etc. (Deppermann; Haugh, 2022; Levinson, 2013; Schegloff, 2007; Stivers, Rossi, Chalfoun, 2023). Como será discutido no próximo item, esse processo de atribuição de ações é central em toda e qualquer interação, por ser o processo por meio do qual os interlocutores negociam (reconhecem, validam, contestam, reconsideram) “o que é que está acontecendo aqui?” (Goffman, 2012 [1974], p. 30) e avaliam a in/adequação dos comportamentos realizados. Como observam Stivers, Rossi e Chalfoun (2023, p. 1555), “a atribuição de ação bem-sucedida pode fazer a diferença entre fortalecer e desgastar um relacionamento, desempenhando um papel crucial na produção de solidariedade, conflito e autoridade”.
Na literatura sobre o tema, reconhece-se o papel fundamental da linguagem verbal nesse processo de atribuição de ações (Deppermann; Haugh, 2022; Heritage, 2012; 2013b; Levinson, 2013; Stivers, Rossi, Chalfoun, 2023). Contudo, pouca atenção se deu ao papel que as relações textuais podem exercer nesse processo. Mesmo abordagens interacionistas para o estudo das relações textuais, como a Pragmática conversacional (ou do discurso) (Roulet, 2002; 2006; Roulet et al., 1985), não se ocuparam da atuação dessas relações na projeção e no reconhecimento de ações. Este trabalho busca trazer contribuições para o entendimento dessa atuação, investigando em que medida a articulação de um enunciado a outro no interior de um turno colabora na projeção e no reconhecimento de ações.
Para realizar esse estudo, articulamos contribuições teóricas e metodológicas da Pragmática conversacional (Roulet, 2002; 2006; Roulet; Filliettaz; Grobet, 2001; Roulet et al., 1985), relativas à definição das relações textuais e à atuação dos marcadores ilocucionários na atribuição de ações, bem como da Análise da Conversa etnometodológica, no que se refere à formação e atribuição de ações (Heritage, 2012; 2013b; Levinson, 2013; Schegloff, 2007; Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023). Essas contribuições serão apresentadas no próximo item. As evidências empíricas do papel dessas relações na atribuição de ações foram coletadas em dois debates eleitorais presidenciais brasileiros. Um deles ocorreu em 2018, no primeiro turno da campanha à presidência da República, enquanto o segundo debate ocorreu em 2022, no segundo turno da campanha à presidência da República. Maiores detalhes sobre o corpus e o percurso de análise serão fornecidos no item sobre os procedimentos metodológicos que adotamos. A análise do papel das relações textuais na atribuição de ações pelos participantes desses debates será apresentada após as considerações de natureza metodológica.
Atribuindo ações: a projeção e o reconhecimento de ações na interação
Nas pesquisas que focalizam a língua em uso e a interação, uma problemática incontornável é a da definição da ação ou ações que os interactantes realizam por meio da linguagem (Thompson; Couper-Kuhlen, 2005). Ainda que adotando enfoques, soluções e métodos distintos, as abordagens pragmáticas, textuais/discursivas ou conversacionais compartilham uma visão acional ou praxiológica da linguagem segundo a qual dizer é fazer (Austin, 1962). Nessa perspectiva, abandona-se qualquer tentativa de se estabelecer uma relação fixa e biunívoca entre forma e sentido no trato da língua e admitem-se como objetos legítimos de estudo todos os recursos que os interlocutores utilizam na tarefa complexa que é a intercompreensão, recursos que abarcam desde fenômenos tradicionalmente estudados pela semântica, como ambiguidades lexicais e a pressuposição, até o gênero a que a interação pertence ou os papéis sociais endossados (Kerbrat-Orecchioni, 1992; Marcuschi, 2007). Nesse sentido, a definição da ação ou ações que os interactantes realizam por meio da linguagem, condição básica para que a intercompreensão ocorra, é uma problemática comum às abordagens que contemplam a natureza indexical ou contextual da linguagem (Deppermann; Haugh, 2022; Labov; Fanshel, 1977; Roulet; Filliettaz; Grobet, 2001).
Nesse vasto leque de abordagens, os enfoques, as soluções e os métodos são, como exposto, distintos, além de numerosos, não sendo, portanto, nossa intenção inventariá-los. Interessa-nos aqui, mais especificamente, mencionar aquelas cujas proposições sobre projeção e reconhecimento de ações podem ser úteis no estudo do papel das relações textuais na atribuição de ações: de um lado, a Pragmática conversacional (Roulet, 2002; 2006; Roulet; Filliettaz; Grobet, 2001; Roulet et al., 1985) e, de outro, a Análise da Conversa etnometodológica (Heritage, 2012; 2013b; Levinson, 2013; Schegloff, 2007; Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023).
Nos anos 70 e 80, diferentes abordagens linguísticas se ocuparam do uso dos atos de fala em interações efetivas (ou não fabricadas para fins teóricos), a partir da teoria dos atos de fala de Austin e Searle (cf. Searle et al., 1992). Nesse movimento, a Pragmática conversacional, proposta por Roulet a partir dos anos 80, desenvolveu uma articulação consistente e original entre essa teoria, a teoria das implicaturas de Grice (1975), a pragmática integrada de Anscombre e Ducrot (1983), a teoria da polidez de Brown e Levinson (1983) e a Análise da Conversa (Sacks; Schegloff; Jefferson, 1974).
Nessa abordagem, são propostos dois tipos de relações textuais (ilocucionárias e interativas) que correspondem a uma lista de categorias de relações. As relações ilocucionárias, que permitem analisar a função das intervenções componentes da troca, podem ser iniciativas ou reativas, dependendo do lugar ocupado pela intervenção na estrutura da troca. São propostas três categorias genéricas de relações ilocucionárias iniciativas (pergunta, pedido e informação) e duas categorias genéricas de relações ilocucionárias reativas (resposta e ratificação) (Cunha, 2021a; 2021b; Roulet, 2002; 2006). Diferentemente da teoria dos atos de fala e em razão da influência da Análise da Conversa, o valor ilocucionário, nessa perspectiva, não caracteriza atos isolados, mas sim a função de uma intervenção em relação às demais intervenções constitutivas da troca (Cunha, 2020a). Dessa forma, é a posição sequencial da intervenção que auxilia na atribuição da ação, uma sentença podendo ser definida como resposta por ser proferida após uma pergunta.
As relações ilocucionárias podem ser explicitadas e especificadas por marcadores discursivos, como construções sintáticas, expressões adverbiais e verbos performativos. Assim, se a relação que liga uma intervenção à seguinte é a de pergunta, a descrição dos marcadores permite identificar, de forma mais precisa, se essa relação é de convite, ameaça, conselho, etc. Com base em Grice (1975), Roulet (1980) propõe três tipos de marcadores de ato ilocucionário, que correspondem a três modos de comunicação do valor ilocucionário1:
-
marcadores denominativos de ato ilocucionário (verbos performativos: “Eu declaro a sessão aberta”) – o modo de comunicação do ato é explícito;
-
marcadores indicativos de ato ilocucionário (sintagmas adverbiais, interjeições, etc.: “Feche a porta, por favor”) – o modo de comunicação do ato é por implicatura convencional;
-
marcadores potenciais de ato ilocucionário (em particular, verbos modais: dever, poder, querer, crer, etc.: “Você pode fechar a porta?”) – o modo de comunicação do ato é por implicatura conversacional generalizada2.
Roulet propõe ainda um quarto tipo de marcadores, os marcadores de orientação ilocucionária, que correspondem às três construções sintáticas fundamentais: imperativa, declarativa, interrogativa3.
Já as relações interativas permitem analisar a função dos constituintes (atos e intervenções) que compõem a intervenção. Mais precisamente, elas definem os elos de ordem pragmática (argumentar, contra-argumentar, comentar, etc.) que os interlocutores estabelecem entre uma porção do texto (ato ou intervenção) e informações com origem em porções anteriores do texto ou mesmo em inferências (Roulet, 2022, 2006). No quadro 1, apresentamos as categorias de relações propostas no âmbito da Pragmática conversacional e os marcadores (conectores e estruturas sintáticas) que tipicamente as sinalizam em português.
Essas categorias de relações textuais interativas, diferentemente de grande parte das categorizações de relações (cf. Mann; Thompson, 1988), foram propostas com base no estudo de interações orais (Roulet et al., 1985). Conforme Roulet (2002, p. 149), “Essas categorias [de relações interativas] se definem ainda por ‘traços cognitivos de base de natureza interacionista’, como preparar, narrar, apoiar/sustentar, completar e reformular/revisar”. Trata-se, portanto, de uma abordagem interacionista para o estudo dessas relações.
Como informado, a Pragmática conversacional, aqui brevemente apresentada, tem como fim analisar a atuação efetiva dos recursos textuais e linguísticos em situações reais de uso da língua, sistematizando e inventariando os recursos (marcadores de relações ilocucionárias e interativas) que permitem ao estudioso atribuir as funções que, na troca, uma intervenção exerce em relação a outra (relações ilocucionárias) e que, na intervenção, um ato exerce em relação a outro (relações interativas). Fortemente centrada na descrição do processo de negociação desenvolvido pelos interactantes, essa abordagem visa, assim, fornecer ao estudioso categorias com que analisar como, em contexto, os interactantes participam desse processo.
No âmbito da Análise da Conversa etnometodológica, privilegiam-se o ponto de vista dos interactantes (e não o do estudioso) sobre o desenvolvimento da interação e os métodos de que se valem para interagir, o que corresponde à assunção de uma postura radicalmente êmica (Heritage, 1984; Pike, 1967). Por isso, o interesse dessa perspectiva pela formação e atribuição da ação se deve ao entendimento de que projetar e reconhecer ações são procedimentos constitutivos da interação, enquanto ação social, e perceptíveis no modo como cada interactante reage ao turno previamente produzido, interpretando-o. Essa abordagem interessa-se, assim, pelo modo como cada interactante, ao (re)agir às ações dos demais interactantes, expressa reflexivamente o reconhecimento dessas ações (Heritage, 1984; Drew, 2005; Schegloff, 2007).
O problema da formação da ação (action formation) ou identificação/atribuição da ação (action recognition/ascription) é definido nestes termos por Schegloff (2007, p. XIV),
[...] o problema da “formação da ação”: como os recursos da linguagem, o corpo, o ambiente da interação e a posição na interação são moldados em configurações projetadas para serem – e serem reconhecidas pelos receptores como – ações particulares – ações como solicitar, convidar, conceder, reclamar, concordar, dizer, notar, rejeitar, e assim por diante – em uma classe de tamanho desconhecido?
A atribuição de ações pelos interactantes consiste, portanto, não em uma identificação precisa e estática da ação realizada, mas em um processo “falível, negociado e mesmo potencialmente inefável” (Levinson, 2013, p. 104) por meio do qual os interactantes negociam essa atribuição. Trata-se, assim, de uma “realização interacional” (Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023, p. 1555). Na análise desse processo, um conjunto de recursos tem sido considerado pelos estudiosos como métodos de que os interlocutores se valem para projetar e reconhecer uma ação (Deppermann; Haugh, 2022; Heritage, 2012; 2013b; Levinson, 2013; Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023), como por exemplo:
-
a seleção das unidades linguísticas (lexicais e sintáticas) de composição dos turnos;
-
aspectos multimodais como a prosódia, mas também gestos, olhares, uso de objetos, etc.;
-
a posição sequencial do turno e a organização de preferências;
-
aspectos institucionais, como o tipo (gênero) de interação e os papéis sociais assumidos;
-
a negociação de direitos e deveres sobre domínios de conhecimento (epistêmicos).
Nesse sentido, o reconhecimento da ação pelos interactantes se baseia em uma série de fatores que abarcam não só as unidades linguísticas de composição do turno e sua posição sequencial, mas também elementos epistêmicos (de quanto conhecimento sobre o assunto os interlocutores dispõem?), proxêmicos (como os interactantes se comportam no ambiente e a que recursos “cênicos” têm acesso?), institucionais (quais papéis sociais os interlocutores endossam na interação?), etc. É essa multiplicidade de fatores que faz com que, por exemplo, numa consulta médica ou psiquiátrica, uma sentença declarativa produzida pelo profissional possa ser entendida pelo paciente não como uma asserção, mas como um pedido de informação (Heritage, 2012; 2013b; Labov; Fanshel, 1977) ou, numa entrevista midiática, a sentença interrogativa produzida pelo jornalista possa ser entendida por uma figura política não como um pedido de informação, mas como uma crítica ou provocação (Clayman; Heritage, 2022; Cunha, 2023a; Heritage, 2002; Heritage; Roth, 1995).
Neste trabalho, sustentamos que um dos recursos de que os interlocutores se valem para projetar e reconhecer ações são as relações textuais interativas, como as de argumento, preparação, reformulação, comentário, etc. (quadro 1). Ainda que essas relações tenham sido extensamente estudadas no âmbito da Pragmática conversacional (Roulet, 2002; 2006; Roulet et al., 1995; Roulet; Fillietaz; Grobet, 2001), nada se disse sobre seu possível papel na projeção e no reconhecimento de ações como criticar, convidar, elogiar, ordenar, aconselhar, etc., em razão, talvez, do entendimento de que apenas os marcadores ilocucionários e a posição da intervenção na troca teriam esse papel. E em que pese o interesse da Análise da Conversa pelos procedimentos de formação e atribuição de ações, pouca atenção foi concedida ao papel que, no processo de formação ou atribuição da ações, podem exercer fenômenos que se identificam com as relações textuais, como explicações em reações não-preferidas (Heritage, 1984), o uso de sentenças adverbiais (Ford, 1993), a construção conjunta de turnos formados por sentenças complexas (the compound TCU format) (Lerner, 1996), a ligação de sentenças com because (Couper-Kuhlen, 1996), os incrementos de turnos com extensões de natureza preposicional ou adverbial e com sintagmas nominais destacados (ou desgarrados (Decat, 2011)) (Ford; Fox; Thompson, 2002b) ou a composição de turnos multi-unidades formados por prefácio e pergunta (Heritage, 2002; Heritage; Roth, 1995).
Combinando proposições de ambas as perspectivas, nossa hipótese é a de que, assim como um turno pode realizar diferentes ações, dependendo da posição que ocupa na sequência (Levinson, 2013), uma sentença pode realizar diferentes ações, dependendo da ou das unidades de construção do turno a que se articula. É o que ocorre no excerto (1), que foi extraído de um dos debates do nosso corpus e que será analisado mais detidamente no item de análise.
Considerada em si mesma, a sentença “por que que você pagou tão pouco aos beneficiários do bolsa família/” poderia ser interpretada pelo adversário como uma pergunta (um pedido de informação), em virtude da construção interrogativa e da entonação ascendente. Contudo, articulada a “já que você se julga o pai dos pobres e a tua economia +tão+ bem/”, a mesma sentença dificilmente deixará de ser interpretada como uma provocação e uma reação irônica às afirmações feitas por Lula no turno anterior, não reproduzido aqui, sobre o aumento de salário-mínimo em sua gestão, quando presidente da República (2003-2010). E essa é a interpretação do adversário, como revela sua reação no segundo turno, ao desqualificar o turno previamente produzido.
Esse exemplo evidencia bem que as relações textuais interativas, longe de constituírem um rol abstrato de categorias teórica e artificialmente construídas (perspectiva ética), têm validade para os interlocutores, são procedimentos que eles efetivamente empregam para projetar e reconhecer ações e têm consequências para o desenvolvimento da interação. Afinal, estabelecendo a relação sinalizada pela expressão conectiva “já que”, o produtor do primeiro turno sinaliza que quer provocar o adversário, que revela, em sua reação, ter compreendido essa intenção. Nesse sentido, a relação textual participa diretamente do processo negociado e emergente de atribuição de ação. Antes de passarmos ao estudo detido da atribuição de ações nos debates selecionados, apresentamos a seguir informações sobre os procedimentos que adotamos na coleta do corpus e em sua análise.
Procedimentos metodológicos
O corpus desta pesquisa se compõe de dois debates eleitorais presidenciais brasileiros. Um deles ocorreu em 04/10/2018, no primeiro turno da campanha à presidência da República, e foi o último debate dessa campanha, já que, no segundo turno, não houve debates. Desse debate participaram os seguintes candidatos: Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). Esse debate teve a duração de 151 minutos e 33 segundos4. O segundo debate selecionado ocorreu em 28/10/2022, no segundo turno da campanha à presidência da República, e também foi o último debate dessa campanha. Os candidatos que dele participaram foram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A duração desse debate foi de 118 minutos e 32 segundos. Os eventos selecionados foram promovidos pela mesma emissora de televisão, Rede Globo, e em ambos o mesmo jornalista, William Bonner, exerceu o papel de mediador. Apenas no debate de 2018 havia plateia. Formado pelos dois debates, o corpus desta pesquisa tem a duração total de 270 minutos e 5 segundos (ou 4 horas, 30 minutos e 5 segundos).
Selecionado o corpus, seguimos algumas etapas na realização de sua análise. A primeira delas consistiu na revisão da transcrição disponibilizada no site G1, para o debate de 2018, e no site UOL, para o debate de 2022. Essa revisão, feita com base na visualização dos debates completos, teve como fim obter uma transcrição que fosse a mais próxima possível da interação efetivamente desenvolvida pelos participantes dos debates5.
Feita a revisão da transcrição, as demais etapas consistiram na análise propriamente dita do papel das relações textuais na atribuição de ações pelos participantes dos debates. Na análise, valemo-nos das categorias de relações textuais interativas propostas por Roulet (2002; 2006, Roulet; Fillietaz; Grobet, 2001) (quadro 1).
Para verificar o papel das relações textuais na atribuição de ações, analisamos as relações que os participantes (candidatos e mediador) estabeleceram em cada turno. Identificou-se um total de 241 turnos no debate de 2018 e de 206 turnos no debate de 20226. Na análise de cada turno, consideramos as relações que ocorreram tanto no nível microlinguístico, em que os termos da relação são as informações expressas por dois atos (por exemplo, a articulação de atos materializados por uma sentença principal e uma apositiva ou um sintagma adverbial), quanto no nível macrolinguístico, em que os termos da relação são as informações expressas por um ato e uma intervenção (unidade formada por um conjunto de atos) ou por duas intervenções (por exemplo, a articulação de um segmento preparatório formado por várias asserções e uma pergunta).
Nessa análise, interessavam-nos, em razão dos objetivos desta pesquisa, apenas as relações que efetivamente participaram da projeção da ação pelo produtor do turno e do reconhecimento da ação pelo locutor seguinte. Por isso, enquanto relações como as ilustradas no excerto (1) do item anterior e no excerto (2) abaixo foram consideradas, as relações em que essa participação, a nosso ver, não ocorre, como no excerto (3), não foram consideradas nesta pesquisa.
Em cada excerto, há dois atos ligados por uma relação de condição ou argumento potencial (Roulet, 2006) sinalizada pelo conector “se”. Porém, enquanto no excerto (2) o ato introduzido pelo conector (“se você parte da turma do temer do partido do temer/”) pode levar o adversário a identificar a sentença interrogativa não como uma pergunta (pedido de informação), mas como um desafio ou uma provocação, no excerto (3) o ato introduzido pelo “se” (“se esse pedido [de direito de resposta] for considerado procedente”) não afeta a natureza instrucional do ato a que se liga, natureza que se mantém mesmo com a supressão da condição (“o candidato ofendido vai ter um minuto pra se defender\”).
Para validar ou, ao menos, melhor sustentar nossa análise acerca do efetivo papel de uma relação textual na atribuição de ações, valemo-nos de dois parâmetros. O primeiro deles – e o mais importante – foi a reação do interlocutor. Assim, a maior parte das ocorrências que consideramos compõe turnos seguidos de reação com que o interlocutor evidencia seu reconhecimento da ação projetada no turno anterior (ou em parte dele). Como exemplo, logo após a pergunta/provocação de Boulos (excerto 2), a resposta de Meirelles (excerto 4) revela seu reconhecimento de que Boulos não lhe pediu uma informação, mas o desafiou.
Contudo, em algumas ocorrências, o locutor estabelece a relação ao final de uma sequência (por exemplo, ao final de um dos blocos do debate), não recebendo, portanto, uma reação do interlocutor, ou este, embora produza um turno em seguida, não reage à ação projetada por meio da relação e aborda tópico expresso em outra parte do turno. Nesses casos, valemo-nos do segundo parâmetro, que foi a supressão de um dos termos da relação, a fim de constatar se, sem o termo suprimido, a ação se modifica ou se mantém. É o que ilustramos com o excerto (5).
No trecho em itálico do turno produzido por Ciro Gomes (l. 05-07), o ato “e é bom que a gente lembre que pode ser a nossa filha, a nossa mãe” se liga ao ato “sessenta mil mulheres brasileiras foram estupradas” por uma relação de comentário. O comentário “e é bom que a gente lembre que pode ser a nossa filha a nossa mãe\” permite analisar “sessenta mil mulheres brasileiras foram estupradas\” não como uma simples asserção, mas como um alerta. Sem o comentário, ou sem a relação de comentário que liga os dois atos, o ato “sessenta mil mulheres brasileiras foram estupradas\” poderia ser interpretado como uma asserção. Contudo, Meirelles, no turno seguinte, trata de segurança pública de modo geral e não se refere ao tópico específico do estupro contra as mulheres. Em casos como esse, valemo-nos, portanto, do critério da supressão.
Aplicando esses critérios, identificamos no corpus um total de 73 relações textuais que parecem atuar efetivamente na projeção e no reconhecimento de ações: 39 no debate de 2018 e 34 no debate de 2022. A seguir, apresentamos uma análise mais detida das ocorrências que identificamos. Não sendo possível analisar todas as ocorrências, abordaremos as ações em cuja projeção e reconhecimento as relações textuais mais atuaram.
Projeção e reconhecimento de ações no debate eleitoral
Ao longo dos dois debates, verificou-se que o estabelecimento de relações textuais é um procedimento com que os interlocutores projetam e reconhecem as seguintes ações: desafiar (provocar), criticar, reclamar, acusar, ameaçar, prometer (assumir compromissos de campanha), autoelogiar, denunciar, alertar. Dessas ações as mais recorrentes são as de desafiar, criticar e prometer, ações cujos processos de projeção e reconhecimento serão analisados a seguir.
Fazendo desafios (provocações)
Nos debates analisados, é comum um candidato produzir sentenças interrogativas não para perguntar (pedir informações), mas para desafiar (provocar) o adversário7. Nas ocorrências identificadas no corpus, o reconhecimento pelo adversário (e pelo analista) de que a sentença interrogativa constitui um desafio raramente se baseia na própria sentença, mas sobretudo nas relações textuais que o locutor estabelece entre o ato que ela materializa e outros atos. A relação mais recorrentemente usada para atribuir a ação de desafiar é a de preparação8, como no excerto (6).
Nesse excerto, a sentença interrogativa de Boulos “eu queria saber de você/ saneamento é um negócio ou é um direito/” (l. 06-07) não traz elementos, como marcadores ilocucionários, que permitam interpretá-la como um desafio. Contudo, o segmento que a antecede, sobretudo o trecho “vocês têm uma receita que é a da privatização\”, associa o uso de recursos privados para resolver o problema do saneamento básico à ideia de “negócio”, o que, na perspectiva do candidato, filiado a um partido de esquerda (PSOL), e da parcela do eleitorado que representa, é um problema. O reconhecimento pelo adversário de que a sentença, em razão da preparação, constitui um desafio se revela em sua opção por evitar o termo “privatização” e em sua demora para mencionar o investimento privado. Essa menção ocorre somente após criticar o predomínio de estatais na oferta de saneamento básico (l. 16-18) e ao final do turno, quando diz “você pode trazer investimento privado para poder investir mais” (l. 25-26). No excerto (7), a relação de preparação também permite atribuir a ação de desafiar a uma sentença interrogativa.
No primeiro turno, a sentença “por que que cê não concluiu a transposição do são Francisco/” (l. 07-08) também não traz elementos que permitam ao adversário compreendê-la como um desafio ou uma provocação. Essa compreensão, que se torna visível na resposta de Lula, ocorre em razão da preparação, em que o adversário o acusa de roubo (“você levou foi gra:na pro teu bolso”, l. 04-05). Nesse turno, a ordem metadiscursiva, “responde pra gente aqui\” (l. 08), que segue a sentença interrogativa como um comentário, também contribui para o reconhecimento de que a ação que o locutor realiza na sentença é a de desafiar ou provocar o adversário. E vale destacar que esse comentário agrava a provocação, porque, embora identifique a ação prévia como uma pergunta e não como uma provocação (afinal, responde-se a perguntas), permite ao locutor endossar uma postura deôntica de maior poder e autoridade sobre o adversário (Couper-Kuhlen; Thompson, 2022; Stevanovic, 2018), a quem poderia impor o dever de responder, dever já implicado pela própria sentença interrogativa que materializa o ato anterior (Roulet, 1980).
Há casos em que, além da relação de preparação, outra relação, mais local, contribui para atribuir à sentença interrogativa a ação de desafiar, como mostra o excerto (8), brevemente analisado no item anterior.
Na fala de Boulos, a sentença “como o povo pode acreditar que você vai combater a corrupção” (l. 06-07) poderia ser identificada como um desafio, em razão da construção “como o povo pode acreditar que você vai X”, identificação que, a nosso ver, desapareceria, se a sentença se limitasse a “como você vai combater a corrupção”9. Porém, essa identificação é favorecida sobretudo pelas relações de preparação e argumento potencial (condição) com que Boulos expande o turno. Com a preparação, o candidato antecede a sentença de acusações ao então presidente Michel Temer; com o argumento potencial, ele a sucede de uma condicional cujo pressuposto é “você faz parte da turma do Temer, do partido do Temer [PMDB]”. Com ambas as relações, Boulos busca associar Michel Temer a práticas de corrupção (segmento preparatório) e o interlocutor, Henrique Meirelles, ao partido de Michel Temer (segmento condicional). O desafio se assenta, portanto, no raciocínio causal “se x, logo y”, segundo o qual, se Meirelles é do partido de Temer, logo não pode combater a corrupção.
Ao reagir, o adversário evidencia ter analisado a sentença interrogativa de Boulos como um desafio e não uma pergunta, tanto que o início de sua reação é composto, ao mesmo tempo, de uma defesa (“eu sou um candidato que faço parte da minha história\ e a minha história é um com- é uma história de quem trabalha em primeiro lugar\”, l. 09-11) e de um ataque (“eu sei que pode parecer estranho pra você. essa história de trabalhar\”, l. 11-12).
Procedimento semelhante ocorre no excerto (9), em que Dias prepara o desafio materializado em uma sentença interrogativa com críticas ao adversário e estabelece uma relação de argumento mais local entre o ato que a sentença que materializa e outro ato.
No turno produzido por Dias, o segmento “com +tantos+ escândalos de corrupção no governo do pt o senhor diz que vai combater a corrupção sendo presidente/” (l. 11-13) é preparado por asserções que levam à identificação da sentença “o senhor diz que vai combater a corrupção sendo presidente/” não como uma pergunta, mas como um desafio. Contudo, além dessa relação de preparação, o segmento em que ocorre o desafio é formado por dois atos materializados pelo sintagma adverbial “com +tantos+ escândalos de corrupção no governo do pt” e pela sentença interrogativa (pergunta polar) “o senhor diz que vai combater a corrupção sendo presidente/”. Entre esses atos, o locutor estabelece uma relação de argumento, o primeiro ato sendo parafraseável por “já que houve tantos escândalos de corrupção no governo do pt”. Essa relação também contribui para identificar a sentença interrogativa como um desafio, em razão da natureza ameaçadora da informação expressa no sintagma adverbial para a face do adversário (Brown; Levinson, 1987). A identificação da sentença interrogativa como um desafio é privilegiada pelo adversário, que, ao tomar a palavra, rebate as informações expressas por Dias e não oferece a resposta negativa, preferida no caso de desafio feito com pergunta polar (sim/não) (Clayman; Loeb, 2018).
Assim como nos dois excertos anteriores, são comuns turnos em que o locutor estabelece uma relação de argumento entre o ato materializado por sentença interrogativa e outro ato, relação que favorece a atribuição da ação de desafiar (provocar) à sentença. Nos excertos (10) e (11), o mesmo candidato se vale desse recurso, e em ambos os casos o adversário identifica a sentença como uma provocação.
No primeiro turno do excerto (10), brevemente analisado em item anterior, dois atos se ligam por uma relação de argumento sinalizada pelo conector “já que”. Por ser da natureza do debate a disputa por domínios epistêmicos (Cunha, 2023b), a sentença “por que que você pagou tão pouco aos beneficiários do bolsa família/” (l. 02-03) pode ser identificada pelo interlocutor não como um pedido sincero de informação, em que pese a construção interrogativa, mas como um desafio ou provocação. Nesse caso, o tipo (gênero) de atividade teria ascendência sobre o tipo gramatical da sentença na atribuição da ação (Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023). Porém, a asserção “já que você se julga o pai dos pobres e a tua economia tão bem/” também contribui para a identificação da sentença interrogativa como uma provocação, identificação privilegiada pelo adversário, que, em sua reação, desqualifica o turno produzido anteriormente.
Da mesma forma, no excerto (11), produzido no mesmo bloco do debate, algum tempo depois do excerto (10), o candidato refaz o desafio, alegando que o adversário não teria respondido à pergunta feita no excerto (10) (“você não respondeu”). Dessa vez, o ato que atua como argumento, introduzido pelo conector “se”, expressa uma dúvida sobre o desempenho econômico do governo do adversário, sendo parafraseável por “se é verdade que o teu governo era tão bom na parte econômica” (cf. Cunha, 2010). Assim produzido o turno, o interlocutor atribui à sentença interrogativa a ação de desafiar ou provocar, como revela sua resposta, que, fazendo uma sugestão (“eu sugiro que X”) à direção da emissora responsável pelo debate, desqualifica o comportamento do adversário.
Fazendo promessas
Sobretudo no debate de 2018, foi comum o procedimento de apresentar problemas e, em seguida, informar que (e como) esses problemas serão resolvidos/atacados, se o locutor for eleito. Com esse procedimento, o candidato estabelece uma relação de argumento por meio da qual as afirmações iniciais podem ser reinterpretadas não como meras asserções ou constatações da existência de problemas, mas como promessas ou compromissos de campanha. De modo geral, essa relação é sinalizada por algum conector argumentativo, como “portanto” e “então”, que sinaliza que a informação introduzida é uma conclusão derivada do segmento anterior, as afirmações. É o que ocorre no excerto (12).
No primeiro turno, a sentença declarativa “isso impede o governo de sobretaxar a terra improdutiva ou mesmo de desapropriar a partir da concessão de títulos da dívida agrária\” (l. 04-06) poderia ser identificada como uma asserção. Porém, seguida de “portanto nós vamos ter que enfrentar esse desafio\” (l. 07), ela pode ser reinterpretada como uma promessa ou um compromisso do candidato, segundo o qual, se eleito, vai sobretaxar ou desapropriar a terra improdutiva. Essa parece ser a interpretação do interlocutor, que, ao tomar a palavra, critica governos do partido do adversário, sugerindo que as promessas podem não se cumprir.
O mesmo procedimento de reatribuição de ações, ou seja, de reinterpretar asserções como promessas ocorre no excerto (13). No primeiro turno, todas as ocorrências do conector “então”, em negrito, sinalizam relações de argumento por meio das quais o locutor leva o interlocutor a compreender as asserções que antecedem cada ocorrência de “então” como promessas ou compromissos de campanha.
Tomemos a segunda ocorrência do conector “então” (l. 08) como exemplo. Com esse conector, o locutor articula estes segmentos:
-
1) hoje como nós sabemos bem muitas vezes a polícia militar não troca informação com a polícia civil que não troca informações com a polícia federal e um estado não troca a informação com outro\
-
2) então nós temos que ter antes de mais nada um sistema de informação unificada controlado e administrado pela polícia federal\
No primeiro segmento, o candidato apresenta informações que, em sua visão, representam um problema relativo à segurança pública. Já no segundo, ele traz uma proposta (a criação de um “sistema de informação unificada”) com que, se eleito, resolverá o problema apresentado no primeiro segmento. A resposta do adversário, acusando ironicamente o candidato de copiar suas propostas de campanha, evidencia que ele identificou as informações que antecedem os conectores não como asserções, mas como promessas de campanha copiadas de seu próprio programa de governo.
Ainda que raro, o mesmo procedimento também foi feito no debate de 2022. O excerto (14) é a única ocorrência que identificamos do procedimento nesse debate.
No primeiro turno, o segmento que vai de “na casa civil tinha uma sala de prefeito” até “era só apresentar o projeto a gente atendia” (l. 06-10) pode ser identificado como um conjunto de asserções com que Lula compara o modo como os prefeitos eram tratados por ele e por Bolsonaro. Porém, o trecho “e isso vamos voltar a fazer com governadores e com prefeitos” (l. 10-11) permite reinterpretar como promessas o modo como ele tratava prefeitos (l. 06-10). Ao tomar a palavra, o adversário dirige-se não ao adversário, mas a uma parte do eleitorado (“você de cidade pequena em especial”) para atacar implicitamente as promessas, ao sugerir que concedia um melhor tratamento aos prefeitos do que Lula, quando este foi presidente.
Fazendo críticas
Nos dois debates, o estabelecimento de relações textuais é um procedimento de que os candidatos se valem recorrentemente para projetar e reconhecer a ação de criticar. Nesse caso, atos que, sem as relações, poderiam ser identificados como asserções, conselhos, explicações e ordens são identificados como críticas, em razão das relações. É o que ocorre no excerto (15).
O locutor constrói o primeiro turno desse excerto tomando como base a construção “Eu se fosse você, pediria X”, que pode ser entendido como um marcador indicativo de conselho (Cunha, 2021b) ou um formato gramatical com que o locutor propõe ao interlocutor realizar uma ação em benefício deste (Couper-Kuhlen; Thompson, 2022). Contudo, o ato “que você deve ter acabado” (l. 02), ligando-se ao termo Ministério do Planejamento por uma relação de comentário, e o ato “pra você pelo menos copiar um pouco e aprender o que é investimento em infraestrutura\” (l. 03-05), ligando-se ao ato anterior por uma relação de argumento (finalidade), permitem ao adversário identificar o primeiro turno não como um conselho, mas como uma crítica. Na reação do adversário, o uso do marcador “bem”, sinalizando a realização de um turno despreferido (Heritage, 2015; Risso, 2006), e a abordagem de um assunto não diretamente relacionado ao tópico do primeiro turno revelam que ele não identificou esse turno como um conselho.
Também foi comum no debate de 2018 o procedimento de expandir o turno por meio do estabelecimento de relações de comentário e de argumento com que o locutor projeta uma crítica, ação diferente da que projetaria, se não tivesse estabelecido as relações. Os excertos (16) e (17) foram extraídos desse debate.
No excerto (16), há uma pré-sequência de escolha do adversário a quem endereçar a pergunta, pré-sequência da qual participam o mediador (William Bonner) e dois candidatos (Marina Silva e Fernando Haddad). Em seguida, a candidata precede a pergunta (“e a pergunta é. nós temos um país/”, l. 09) de uma explicação metadiscursiva acerca do adversário a quem ela gostaria de fazer a pergunta (candidato Jair Bolsonaro), se este estive presente no debate. No segmento preparatório, a candidata articula os atos “eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro” (l. 07) e “que mais uma vez amarelou” (l. 08) por uma relação de comentário. Logo após, a candidata é interrompida pelos aplausos da plateia, que, em razão da relativa “que mais uma vez amarelou”, analisou todo o segmento não como uma explicação, mas como uma crítica ao candidato ausente. Nesse momento, o mediador solicita à plateia que não se manifeste e pede à candidata que refaça a pergunta.
Na reformulação da pergunta (l. 16-18), a candidata inicia novamente o turno explicando a quem ela endereçaria a pergunta. No trecho, ela volta a estabelecer uma relação textual, agora de argumento e sinalizada pelo conector “como” (“como ele mais uma vez amarelou”, l. 17), que também permite aos demais interactantes (adversários e integrantes da plateia) analisarem a sentença “deu uma entrevista para a Record e não veio aqui debater conosco” (l. 17-18) não como uma explicação, mas como uma crítica.
Adotando procedimento semelhante, Gomes, no primeiro turno do excerto (17), estabelece um conjunto de relações textuais que permitem identificar tanto as sentenças declarativas quanto a sentença interrogativa final como críticas endereçadas ao candidato ausente (Jair Bolsonaro) e a integrantes de sua equipe e não àquele com quem dialoga (Henrique Meirelles).
No primeiro turno, o aposto “tosco como é” se articula por uma relação de comentário ao item “o general mourão”, então vice de Bolsonaro, enquanto o ato “sem ter as habilidades políticas de um mentiroso que fala a mesma coisa” se articula por uma relação de argumento (parafraseável como “porque não tem as habilidades políticas de um mentiroso”) a todo o ato anterior. Essas relações projetam as sentenças sobre Mourão não como asserções, mas como críticas a ele.
Ainda nesse turno, após asserção sobre uma briga entre membros da equipe de Bolsonaro, o locutor produz a sentença interrogativa (pergunta polar) “cê imagina que isso vai dar certo no brasil/” (l. 06-07). As informações expressas antes dessa sentença funcionam como uma preparação para o ato que ela materializa. Em razão dessas informações, fazendo da resposta negativa a reação preferida à pergunta polar (Clayman; Loeb, 2018), dificilmente se pode identificar a sentença como um pedido de informação. Ao dar a resposta esperada (“não não vai dar certo”, l. 09), o adversário se afilia ao locutor (Ostermann; Andrade; Frezza, 2016; Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023) e evidencia, assim, ter entendido o turno anterior como uma crítica (ou um conjunto de críticas) ao adversário ausente e não como um simples pedido de informação.
Considerações finais
Neste trabalho, procuramos evidenciar a importância das relações textuais (preparação, argumento, comentário, etc.) na atribuição (projeção e reconhecimento) de ações pelos participantes de dois debates eleitorais presidenciais. Procuramos mostrar que, assim como recursos microlinguísticos (os marcadores ilocucionários), a prosódia, a dimensão epistêmica, o tipo (gênero) da interação, etc., a articulação de porções textuais de extensões variadas no interior de um turno auxilia na atribuição de ações na interação.
As análises dos dois debates revelaram que, de fato, o estabelecimento das relações textuais é um procedimento que permite aos interlocutores projetarem e reconhecerem as ações de desafiar (provocar), criticar, reclamar, acusar, ameaçar, prometer (assumir compromissos de campanha), autoelogiar, denunciar, alertar. Por motivo de espaço, apresentamos aqui de forma mais detida como o processo ocorre na projeção e no reconhecimento apenas das ações de desafiar (provocar), criticar e prometer (assumir compromissos de campanha). O que se verificou foi que as relações textuais, expandindo o turno, fazem com que atos que, sem as relações, poderiam ser identificados como asserções, pedidos de informação e conselhos sejam reconhecidos, em virtude das relações, como desafios (provocações), críticas, acusações, ameaças, promessas, etc.
Atestado o fenômeno da projeção e reconhecimento de ações por meio de relações textuais em debate eleitoral, surge a questão: o que explica um candidato optar pelo procedimento complexo de projetar uma ação articulando constituintes textuais, se esse procedimento implica maior dispêndio de tempo (bem precioso onde o tempo de fala é cronometrado) e a possibilidade de ser incompreendido pelo adversário e, pior, pelo eleitorado? Como no debate grande parte das ações é ameaçadora para as faces dos interactantes (Cunha; Braga; Brito, 2019), realizar procedimentos que tornem essas ações negáveis e menos diretas é uma estratégia (Roulet, 1980; Stivers; Rossi; Chalfoun, 2023). E é o que o procedimento estudado neste trabalho permite fazer. Afinal, sempre se pode alegar que um ato, apesar dos atos a que se liga, é apenas uma informação ou pergunta e não uma ameaça ou acusação10.
Acreditamos que o foco deste trabalho no papel das relações textuais poderá contribuir tanto com abordagens pragmáticas, para as quais no estudo da atribuição de ações ganha importância a investigação sistemática dos recursos verbais em que essa atribuição se baseia, quanto com as abordagens conversacionais, para as quais importa identificar os procedimentos efetivamente considerados pelos interactantes para projetar e reconhecer ações. Com este trabalho, buscamos, assim, contribuir com os estudos que, inseridos na perspectiva interacionista dos estudos da linguagem, como a Pragmática conversacional e a Análise da Conversa etnometodológica, se ocupam dos procedimentos que os interlocutores realizam para negociar, com apoio na linguagem (verbal e não-verbal), a interação de que participam e o tipo de relação que os associa uns aos outros. Acreditamos que estudos sistemáticos desses procedimentos, como o que aqui procuramos realizar, possam oferecer subsídios mais seguros para uma análise detida de como os interlocutores atribuem (projetam e reconhecem) ações e enquadram a interação de que participam.
Agradecimentos
Este trabalho foi desenvolvido no período de residência do autor no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), da UFMG. Agradeço ao IEAT as condições favoráveis à sua realização. Agradeço ainda ao CNPq a concessão da bolsa de produtividade em pesquisa (processo no 304805/2022-0).
REFERÊNCIAS
- ANSCOMBRE, J. C.; DUCROT, O. L'argumentation dans la langue. Liège: Pierre Mardaga, 1983.
- AUSTIN, J. L. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- BRAGA, P. B. O papel do comentário metadiscursivo em debate eleitoral polilogal: estratégia discursiva no jogo de faces. 2021. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
- BROWN, P.; Levinson, S. Politeness: some universals in language use. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- CLAYMAN, S. E. Turn-constructional units and the transition-relevance place. In: SIDNELL, J.; STIVERS, T. (ed.). The Handbook of Conversation Analysis. Chichester: Blackwell Publishing, 2013. p. 370-394.
- CLAYMAN, S. E.; LOEB, L. Polar questions, response preference, and the tasks of political positioning in journalism. Research on language and social interaction, Londres, v. 51, n. 2, p. 127-144, 2018.
- CLAYMAN, S. E.; HERITAGE, J. Question design and press-state relations: the case of U.S. presidential news conferences. In: PORSCHE, Y.; SCHOLZ, R.; SINGH, J. (ed.). Institutionality: studies of discursive and material (re)ordering. Basingstone: Palgrave Macmillan, 2022. p. 301-332.
- COUPER-KUHLEN, E. Intonation and clause combining in discourse: the case of because. Pragmatics, Amsterdam, v. 6, p. 389-426, 1996.
- COUPER-KUHLEN, E.; THOMPSON, S. A. Action ascription and deonticity in everyday advice-giving sequences. In: DEPPERMANN, A.; HAUGH, M. (ed.). Action ascription in interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 183-207.
- CULPEPER, J. Impoliteness: using language to cause offense. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- CULPEPER, J. Impoliteness strategies. In: CAPONE, A.; MEY, J. L. (ed.). Interdisciplinary studies in pragmatics, culture and society. New York: Springer, 2016. p. 421-445.
- CUNHA, G. X. As relações textuais como recursos para a episteme-em-ação: estudo da dimensão epistêmica de uma entrevista com presidenciável. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 69-85, 2023a.
- CUNHA, G. X. Relações de discurso, organização tópica e dimensão epistêmica: recursos para a análise da "episteme em ação". In: TOMAZI, M. M. T. (org.). Estudos do discurso e compromisso social. Serra: Editora Milfontes, 2023b. p. 321-343.
- CUNHA, G. X. A reformulação em uma perspectiva interacionista para o estudo das relações de discurso. Cadernos de Estudos Linguisticos, Campinas, v. 64, p. 01-18, 2022a.
- CUNHA, G. X. Os conectores e seu papel na construção de imagens identitárias: uma perspectiva pragmática. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 51, p. 122-146, 2022b.
- CUNHA, G. X. O papel do conector aliás na articulação de argumentos e na construção de imagens identitárias. Confluência, Rio de Janeiro, v. 62, p. 122-149, 2022c.
- CUNHA, G. X. Competência interacional e co-construção de sentidos: uma análise dos comportamentos verbais e não-verbais de participantes de um debate eleitoral. Calidoscópio, São Leopoldo, v. 20, p. 303-321, 2022d.
- CUNHA, G. X. Relações de discurso e completude monológica: o impacto da restrição ritual sobre o estabelecimento das relações interativas. Forma y Funcion, Bogotá, v. 34, p. 1-24, 2021a.
- CUNHA, G. X. Tipologia de marcadores ilocucionários e seu papel no estudo das relações de discurso. Revista do GEL, São Paulo, v. 18, p. 10-34, 2021b.
- CUNHA, G. X. Elementos para uma abordagem interacionista das relações de discurso. Linguística, Montevideo, v. 36, p. 107-129, 2020a.
- CUNHA, G. X. Uma abordagem interacionista para o estudo do papel das relações de discurso na construção conjunta de imagens identitárias. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, v. 22, p. 151-170, 2020b.
- CUNHA, G. X. A função de conectores argumentativos no texto da proposta curricular de Minas Gerais. ALFA, Assis, v. 54, p. 203-222, 2010.
- CUNHA, G. X.; BRAGA, P. B. Definindo o comentário metadiscursivo em uma perspectiva interacionista da Análise do Discurso. SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 22, p. 171-188, 2018.
- CUNHA, G. X.; BRAGA, P. B.; BRITO, D. M. As funções figurativas do comentário metadiscursivo em debates eleitorais. Cadernos de linguagem e sociedade, Brasília, v. 20, n. 2, p. 168-187, 2019.
- CUNHA, G. X.; OLIVEIRA, A. L. A. M. As relações de causalidade sinalizadas pelo conector porque: articulando perspectivas cognitivo-funcionais e discursivo-interacionais. Linguagem em (dis)curso, Tubarão, v. 22, p. 297-317, 2022.
- DECAT, M. B. N. Estruturas desgarradas em língua portuguesa Campinas: Pontes, 2011.
- DEPPERMANN, A.; HAUGH, M. Action ascription in social interaction. In: DEPPERMANN, A.; HAUGH, M. (ed.). Action ascription in interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. p. 03-27.
- DREW, P. Conversation analysis. In: FITCH, K. L.; SANDERS, R. E. (ed.). Handbook of language and social interaction. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. p. 71-102.
- FILLIETTAZ, L. Interactions verbales et recherche en éducation: principes, méthodes et outils d'analyse. Genebra: Université de Genève, Section des sciences de l'éducation, 2020.
- FORD, C. E. Grammar in interaction: adverbial clauses in American English conversations. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- FORD, C. E.; FOX, B. A.; THOMPSON, S. A. (ed.). The language of turn and sequence Oxford: Oxford University Press, 2002a.
- FORD, C. E.; FOX, B. A.; THOMPSON, S. A. Constituency and the grammar of turn increments. In: FORD, C. E.; FOX, B. A.; THOMPSON, S. A. (ed.). The language of turn and sequence. Oxford: Oxford University Press, 2002b. p. 14-38.
- GOFFMAN, E. Os quadros da experiência social. Tradução Gentil A. Titton. Petrópolis: Vozes, 2012 [1974].
- GRICE, H. P. Logic and conversation. In: COLE, P.; MORGAN, J. L. (ed.). Sintax and semantics: Speech Acts, v. 3. New York: Academic Press, 1975. p. 41-58.
- HERITAGE, J. Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
- HERITAGE, J. The limits of questioning: negative interrogatives and hostile question content. Journal of Pragmatics, Amsterdam, v. 34, p. 1427-1446, 2002.
- HERITAGE, J. Epistemics in action: action formation and territories ok knowledge. Research on language and social interaction, Londres, v. 45, n. 1, p. 1-29, 2012.
- HERITAGE, J. Epistemics in conversation. In: SIDNELL, J.; STIVERS, T. (ed.). The Handbook of Conversation Analysis. Chichester: Blackwell Publishing, 2013a. p. 370-394.
- HERITAGE, J. Action formation and its epistemic (and other) backgrounds. Discourse studies, Thousand Oaks, v. 15, n. 5, p. 551-578, 2013b.
- HERITAGE, J. Well-Prefaced Turns in English Conversation: A Conversation Analytic Perspective. Journal of pragmatics, Amsterdam, v. 88, p. 88-104, 2015.
- HERITAGE, J. Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
- HERITAGE, J.; ROTH, A. L. Grammar and institution: questions and questioning in the broadcast News interview. Research on language and social interaction, Londres, v. 28, n. 1, p. 1-60, 1995.
- KERBRAT-ORECCHIONI, C. Les interactions verbales Paris: Colin, 1992.
- JUBRAN, C. C. A. S.; KOCH, I. G.V. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: construção do texto falado. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2006.
- LABOV, W.; FANSHEL, D. Therapeutic discourse. New York: Academic Press; 1977.
- LERNER, G. H. On the "semi-permeable" character of grammatical units in conversation: conditional entry into the turn space of another speaker. In: OCHS, E.; SCHEGLOFF, E. A.; THOMPSON, S. A. (ed.). Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. p. 238-276.
- LEVINSON, S. C. Action formation and ascription. In: SIDNELL, J.; STIVERS, T. (ed.). The Handbook of Conversation Analysis. Chichester: Blackwell Publishing, 2013. p. 103-130.
- MANN, W. C.; THOMPSON, S. A. Rhetorical Structure Theory: toward a functional theory of text organization. Text, Indianapolis, v. 8, n. 3, p. 243-281, 1988.
- MARCUSCHI, L. A. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
- MARINHO, J. H. C.; CUNHA, G. X. O papel das expressões com efeito e seja como for na conexão textual. Mal-Estar e Sociedade, Barbacena, v. 5, p. 139-166, 2012.
- OCHS, E.; SCHEGLOFF, E. A.; THOMPSON, S. A. (ed.). Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- OSTERMANN, A. C.; ANDRADE, D. N. P.; FREZZA, M A prosódia como componente de formação e de atribuição de sentido a ações na fala-em-interação: o caso de formulações no tribunal. DELTA, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 481-513, 2016.
- PIKE, K. L. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. The Hague: Mouton & Co, 1967.
- RISSO, M. S. Marcadores discursivos basicamente seqüenciadores. In: JUBRAN, C. C. A. S.; KOCH, I. G. V. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: construção do texto falado. Campinas: Editora Unicamp; 2006. p. 427-496.
- ROULET, E. Stratégies d'interaction, modes d'implication et marqueurs illocutoires. Cahiers de linguistique française, Genebra, v. 1, p. 80-103, 1980.
- ROULET, E. De la necessite de distinguer des relations de discours semantiques, textuelles et praxéologiques. In: ANDERSEN, H. L.; NOLKE, H. (éd.). Macro-syntaxe et macro-sémantique. Berne: Peter Lang, 2002. p. 141-165.
- ROULET, E. The description of text relation markers in the Geneva model of discourse organization. In: FISCHER, K. (ed.). Approaches to Discourse Particles. Nova York: Elsevier, 2006. p. 115-131.
- ROULET, E.; FILLIETTAZ, L.; GROBET, A. Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du discours Berne: Peter Lang, 2001.
- ROULET, E.; AUCHLIN, A.; MOESCHLER, J.; RUBATTEL, C.; SCHELLING, M. L'articulation du discours en français contemporain Berne: Peter Lang, 1985.
- SACKS, H.; SCHEGLOFF, E. A.; JEFFERSON, G. A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, Washington, v. 50, p. 696-735, 1974.
- SCHEGLOFF, E. Sequence organization in interaction: a primer in Conversation Analysis I. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- SEARLE, J. R. et al. (On) Searle on conversation. Amsterdam: John Benjamins, 1992.
- STEVANOVIC, M. Social deontics: a nano-level approach to human power play. Theory of social behavior, Hoboken, v. 1, p. 1-21, 2018.
- STIVERS, T.; ROSSI, G.; CHALFOUN, A. Ambiguities in Action Ascription. Social Forces, Oxford, v. 101, n. 3, p. 1552-1579, 2023.
- THOMPSON, S. A.; COUPER-KUHLEN, E. The clause as a locus of grammar and interaction. Discourse studies, Londres, v. 7, p. 481-504, 2005.
-
1
Uma descrição aprofundada da proposta dos marcadores ilocucionários, na perspectiva da Pragmática conversacional, encontra-se em Cunha (2021b).
-
2
A implicatura conversacional particular de Grice (1975) não corresponde a nenhum marcador, dada sua dependência total do contexto (Cunha, 2021b; Roulet, 1980).
-
3
Essas construções constituem marcadores de orientação ilocucionária e não de ato ilocucionário, porque, como esclarece Cunha (2021b, p. 15), “Opondo-se a abordagens que, a partir da hipótese performativa de Ross (1970), associam cada construção sintática fundamental da sentença (declarativa, interrogativa, imperativa) a um ato específico (respectivamente, asserção, pergunta – demanda de informação – e ordem), Roulet (1980) observa que cada uma dessas construções pode expressar diferentes valores ilocucionários e não apenas um.”
-
4
Com objetivos distintos dos do presente trabalho, analisamos o debate de 2018 ou excertos dele em Cunha (2022c, 2022d, 2023b) e Cunha e Oliveira (2022).
-
5
Os links para acesso às transcrições e aos vídeos dos debates encontram-se no Anexo Anexo Debate de 2018 Link para acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=epDDSEVnLmI Link para acesso à transcrição (site de notícias G1): https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/05/veja-a-integra-do-debate-na-globo.ghtml Debate de 2022 Links para acesso aos vídeos de cada bloco do debate: 1º bloco: https://www.youtube.com/watch?v=EK_hxsxWF4I 2º bloco: https://www.youtube.com/watch?v=-woWv61-Urk&t=32s 3º bloco: https://www.youtube.com/watch?v=MVeRuwkig18&t=35s 4º bloco: https://www.youtube.com/watch?v=ay1QAn1rYjw Considerações finais de Lula: https://www.youtube.com/watch?v=DunBALbcNmQ Considerações finais de Bolsonaro: https://www.youtube.com/watch?v=0PjhouB28gI Links para acesso às transcrições de cada bloco do debate (site de notícias UOL): https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-primeiro-bloco.htm https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-segundo-bloco.htm https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-terceira-bloco.htm https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/29/integra-debate-na-globo-quarto-bloco.htm . As convenções de transcrição utilizadas na revisão foram: segmento acentuado = MAIÚSCULA; entonação ascendente = /; entonação descendente = \; aumento do volume da fala = +segmento+; diminuição do volume da fala =segmento; (segmento) = segmento cuja transcrição é incerta; alongamento silábico = :; truncamento = segmen-; pausas de duração variável = . .. ...; tomadas de fala em recobrimento = sublinhado; ((comentário)) = comentário do transcritor relativos a deslocamentos corporais, condutas gestuais ou ações não-verbais (Filliettaz, 2020, p. 49). A revisão da transcrição do debate de 2018 foi realizada por nós em parceria com Paloma Bernardino Braga, durante a realização de sua pesquisa de mestrado, de cujo corpus esse debate faz parte (Braga, 2021). Já a revisão da transcrição do debate de 2022 foi realizada sob nossa supervisão por Isabel Peixoto dos Santos, bolsista de iniciação científica do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) da UFMG, no período de residência do autor deste trabalho no referido instituto.
-
6
No debate de 2018, houve a seguinte distribuição de turnos por bloco: 1º bloco (58 turnos), 2º bloco (56), 3º bloco (57), 4º bloco (56), considerações finais (14). No debate de 2022, a distribuição de turnos por bloco foi a seguinte: 1º bloco (46 turnos), 2º bloco (51), 3º bloco (50), 4º bloco (54), considerações finais (5).
-
7
Ostermann, Andrade e Frezza (2016) registram fenômeno semelhante em contexto jurídico.
-
8
Em Heritage (2002), Heritage e Roth (1995), Clayman e Heritage (2022) e Cunha (2023a), encontram-se estudos sobre o papel da preparação ou prefácio em turnos de pergunta, em contexto midiático (entrevistas televisivas e conferências de imprensa).
-
9
A construção “como o povo pode acreditar que você vai X?”, parafraseável por “como é possível acreditar que você vai fazer X?”, parece indicar um desafio ao interlocutor, independente do contexto do debate. Nesse sentido, essa construção poderia ser interpretada como um marcador indicativo de desafio/provocação (Cunha, 2021b; Roulet, 1980).
-
10
Foi o que ocorreu no debate de 2022, em que um dos candidatos, após fazer reiteradas acusações contra o adversário por seu desprezo por programas sociais, repete a acusação, alegando, porém, que se trata só de “uma simples pergunta”: [Lula] “é só uma simples pergunta de sim ou não\ por que que você cortou praticamente toda verba dos programas que protege as mulheres/” (debate de 2022, 3 bloco, 24min.25seg.-24min.32seg.).
Anexo
Debate de 2018
Link para acesso ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=epDDSEVnLmI
Link para acesso à transcrição (site de notícias G1):
Debate de 2022
Links para acesso aos vídeos de cada bloco do debate:
1º bloco:
https://www.youtube.com/watch?v=EK_hxsxWF4I
2º bloco:
https://www.youtube.com/watch?v=-woWv61-Urk&t=32s
3º bloco:
https://www.youtube.com/watch?v=MVeRuwkig18&t=35s
4º bloco:
https://www.youtube.com/watch?v=ay1QAn1rYjw
Considerações finais de Lula:
https://www.youtube.com/watch?v=DunBALbcNmQ
Considerações finais de Bolsonaro:
https://www.youtube.com/watch?v=0PjhouB28gI
Links para acesso às transcrições de cada bloco do debate (site de notícias UOL):
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-primeiro-bloco.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-segundo-bloco.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/28/integra-debate-na-globo-terceira-bloco.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/29/integra-debate-na-globo-quarto-bloco.htm
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Dez 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
30 Set 2023 -
Aceito
22 Fev 2024
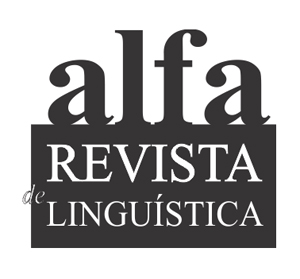
 AS RELAÇÕES TEXTUAIS COMO PROCEDIMENTOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES NA INTERAÇÃO
AS RELAÇÕES TEXTUAIS COMO PROCEDIMENTOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES NA INTERAÇÃO

































