RESUMO
Ancorado na defesa de que, a partir da Escola de Port Royal, teria existido uma circularidade pendular entre a Lógica e a Retórica, pautadas, respectivamente, numa teoria universal das ideias ou no subjetivismo individualista, Michel Pêcheux (1995) se vale das orações relativas como fenômeno linguístico para sustentar o desenvolvimento de uma teoria materialista do discurso amparada, sobretudo, na Linguística e no Materialismo Histórico. Para o autor, nem sempre é possível definir se uma relativa é apositiva ou determinativa, uma vez que elas seriam portadoras de uma ambiguidade que se equaciona apenas à luz das condições históricas de seu aparecimento. É sobre o caráter ambíguo de certas relativas que este estudo se desenvolve, tendo como dados casos recolhidos por alunos de pós-graduação na disciplina de Teoria do Discurso e que tocam em questões sociais polêmicas, porque, no limite, por meio delas, pretender-se-ia estabelecer as “melhores” formas de atuação pessoal.
Sintaxe; Semântica; Discurso; Relativas; Ideologia; Ambiguidade
ABSTRACT
Anchored in the argument that, since the School of Port Royal, there has been a pendular circularity between Logic and Rhetoric, based respectively on a universal theory of ideas or on individualistic subjectivism, Michel Pêcheux (1982) uses relative clauses as a linguistic phenomenon to support the development of a materialist theory of discourse based on Linguistics and Historical Materialism above all. For the author, it is not always possible to define whether a relative clause is appositive or determinative, since they carry an ambiguity that can only be equated in the light of the historical conditions related to their appearance. This study focuses on the ambiguous nature of certain relative clauses, using as data cases collected by postgraduate students attending a course on ‘Discourse Theory’ and which touch on controversial social issues, because, at the very limit, they are intended to establish the “best” forms of personal action.
“Não pode haver discurso sem língua, o que equivale, de certa forma, a dizer que não pode haver Análise do Discurso sem uma teoria sintática” (Possenti, 1999, p. 211).
Introdução
Na obra Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1995), sobretudo na Parte 1, “Linguística, Lógica e Filosofia da Linguagem”, na Seção 1, “Apreciação sobre o desenvolvimento histórico da relação entre ‘teoria do conhecimento’ e retórica face ao problema determinação”, e na Seção 2, “Realismo metafísico e empirismo lógico: duas formas de exploração regressiva das ciências pelo idealismo”, Pêcheux (1995, p. 63) problematiza o fato de, da filosofia aristotélica à Semântica, haver uma circularidade recorrente que cruza o “fio da analítica (as regras do raciocínio demonstrativo que permitem aceder ao conhecimento) e a retórica (a arte que permite convencer pela utilização do verossimilhante)”.
De um lado, estariam a teoria do conhecimento, a lógica e o realismo metafísico, cuja meta seria a descoberta das verdades essenciais (teoria universal das ideias), desencarnadas de história e contingências temporais e ideológicas. De outro, apareceriam a retórica e o empirismo lógico, que, por meio da deriva entre as “verdades de fato” de Leibniz, os “juízos analíticos” de Kant, o “inessencial” de Frege, o “vivido psicológico” de Husserl, a “fala” de Saussure e a “performance” de Chomsky, teriam conduzido à tese da subjetividade criadora, liberando o sujeito das amarras que o coagem. Se, no primeiro caso, haveria um imobilismo cristalizado e a linguagem seria o revestimento da verdade, no segundo, o sujeito, consciente, possuiria o controle sobre a linguagem e a faria se dobrar às suas intenções.
Ao longo da obra, Pêcheux se vale do caso das relativas (apositivas e determinativas) para sustentar a tese do estranho bailado que tende, de modo polarizado, para a lógica e para a abstração ou para o empirismo e para a subjetividade, obliterando as disciplinas científicas e o fato de que “o mundo ‘exterior’ material existe (objeto real, concreto-real)” (p. 74) e que “o conhecimento objetivo é independente do sujeito” (p. 74). No entremeio destas duas hipóteses, para o autor, há casos de relativas que não permitem decidir de forma positiva a que polo pertencem, dada a ambiguidade que as constitui.
O filósofo trata detalhadamente dessa ambiguidade no estudo “Língua, ‘linguagens’, discurso: efeitos discursivos ligados ao funcionamento das relativas em francês” (2001 [1981]), em que, a partir dos casos de “Os círculos que são figuras fechadas têm uma superfície calculável” e “Os números que são divisíveis por outro número não são primos”, ele defende que nem sempre é possível discernir se a propriedade é atribuída ao todo ou à parte, isto é: se o que se tem é a “evocação de uma propriedade característica” ou “uma divisão no conjunto [...] uma fronteira” (2011 [1981], p. 132). Segundo o autor, “essas coisas muito simples se complicam, no entanto, a partir do momento em que se faz variar o domínio dos exemplos” (p. 133). É sobre a observação do domínio em que há uma flutuação ambígua sobre a inserção num polo ou outro (ou nenhum) que este estudo se articula, entendendo, com Possenti (1999, p. 214), que não há “semântica neutra, isto é, a imposição de que todos os falantes da mesma língua estão submetidos às mesmas restrições semânticas”.
Sobre os enunciados selecionados para este estudo, cabe alertar que foram colhidos por alunos de pós-graduação, quando, na disciplina de “Teoria do Discurso”, foi solicitado que, após a leitura das partes referidas da obra de Pêcheux, encontrassem ou produzissem relativas que seriam utilizadas para a verificação dos postulados do autor. Entre as aulas semanais, um corpus significativo foi obtido, sendo coletado de terceiros ou de casos que os alunos produziram. Neste estudo, os casos foram escolhidos, porque, em face da ambiguidade (apositiva/determinativa) apontada por Pêcheux, é possível verificar que as relativas não são só um fenômeno linguístico que, por vezes, foge à lógica abstrata ou ao empirismo subjetivo, mas possuem suas raízes em contingências históricas, veiculando ditames políticos, morais e religiosos que se entrelaçam para reforçar grilhões ideológicos, o que significa, para Possenti (1999, p. 214) que, sobre a sintaxe, pesam “restrições discursivas”.
Casos ilustrativos: família completa x crianças inocentes...
A título de aproximação com o objeto de estudo, a saber: a determinação de discursos político, moral e religioso sobre as relativas, retoma-se o evento em que, na comemoração do “Dia da Família”, o padre, para desenvolver a homilia, convidou membros da comunidade e suas famílias para a missa dominical; há que se considerar que os convidados pertenciam a composições familiares distintas. Após situar os presentes sobre o que celebrava, o pregador pediu que as famílias ficassem em pé e as apresentou, destacando os seus constituintes: pai e filha, mãe e filhos, avós e netos e assim por diante. Algo inusitado ocorria, dado a resistência da igreja a determinadas mudanças: um efeito de novidade e surpresa pairava no ar.
Contudo, o discurso pautado no politicamente correto que dava abrigo à diversidade se desvaneceu, quando o padre afirmou sobre uma família: “E aqui temos uma família completa, que tem pai, mãe e filhos”. O discurso que pretendia um efeito de abertura para constituições familiares diferentes desandou sob a alegação de que, num caso (e não nos outros), a família seria “completa”, implicando que as outras não seriam; e, pois, não-famílias. Embora, para a maioria dos presentes tudo parecesse normal, era visível a inquietude de uns, a troca de olhares polêmicos de outros e os sussurros de outros tantos. A pregação que começou com a premissa de abertura para a ruptura com o modelo cristalizado ruiu, considerando o nexo de causalidade criado entre a família ser “completa” por possuir “pai, mãe e filhos” e implicando o descompasso das demais frente aos preceitos difundidos e defendidos por uma premissa, sobretudo, religiosa, neste caso; mas também moral e política.
Há que se considerar, ainda, duas questões: a) a família “completa” era formada pelo casal e um casal de filhos, o mais velho um menino, o que atende ao modelo preconizado por certo discurso; b) a enumeração efetuada pelo pregador, em termos hierárquicos, estabelece, via enunciado, uma gradação valorativa que dá primazia ao homem e coloca em segundo plano a mulher, restando aos filhos a dependência e a tutela em relação aos pais. Não se trata, deve-se frisar, de reprovar a falha na boa vontade do padre de se colocar sob uma ótica de aceitação e aconchego, mas de perceber que o discurso determina o sujeito e, no limite, impede que se distancie da prática discursiva que o determina, via adjetivação apositiva neste caso, imbricando preceitos religiosos, ditames morais e modos de relação entre os homens sob hierarquias e geometrias conservadoras.
Noutra ocasião, o mesmo pároco, abordando a educação em casa, proferiu o enunciado “as crianças nos divertem, porque são ingênuas e inocentes”, que pode ser parafraseado por “as crianças, que são ingênuas e inocentes, nos divertem”, transformando-o em adjetiva apositiva, que, em tese, abordaria algo intrínseco às crianças, dado que seriam portadoras de ingenuidade e inocência e o divertimento produzido seria devido a uma singeleza imatura. Há, pois, neste caso, uma mescla heterogênea entre religião, moral e política, uma vez que o evento, para além das relações do homem com o divino, estabelece uma forma de os pais lidarem com os filhos, agindo da maneira supostamente adequada de tratá-los.
Em conversa posterior com uma psicóloga, questionando se as crianças são ingênuas e inocentes, a resposta foi lacônica: “algumas sim”, cuja interpretação restritiva se superpõe à explicativa, dado que aquele enunciado, se proferido por esta profissional, ocorreria na forma “as crianças que são ingênuas e inocentes nos divertem”, com a leitura tomando “as crianças que são ingênuas e inocentes” (apenas elas) como um bloco composto por um sintagma único, seccionando o mundo infantil em crianças de duas categorias: ingênuas e inocentes e espertas e manipuladoras, com outras diretrizes para o mundo moral e político. A hipótese que se quer estabelecer é que os discursos não se pautam nas mesmas premissas e seccionam o mundo de formas diferentes de acordo com os seus ditames; eis a ambiguidade de que fala Pêcheux e que dá acesso em definitivo ao objeto de estudo deste trabalho.
Relativas explicativas/apositivas: apontamentos
No que se refere às relativas apositivas, assume-se que remontam a ideias universais, que, à revelia de contingências históricas e ideológicas, tocam a essência do ser, alcançando propriedades intrínsecas que devem estar presentes, sob pena de o ser evanescer. De acordo com Pêcheux (1995, p. 29), em termos aristotélicos, no caso das explicativas/apositivas, se “um certo acidente está preso por uma ligação a uma substância, essa substância não pode subsistir se o acidente em questão vem a faltar”. Em outros termos, uma adjetiva explicativa atribui ao ser (à substância) uma propriedade ou acidente intrínseco que lhe pertence por meio de uma relação constitutiva e de natureza.
Em “o tigre, que é um felino, tem o corpo coberto de pelos”, “o Sol, que é uma estrela, ilumina a Terra”, “o quadrado, que possui ângulos e vértices, é uma figura geométrica” e “o pavão, que é uma ave, possui penas e bico”, as relativas introduzidas pelo relativo “que” são apositivas, pois tocam na essência do ser, recuperando uma propriedade ou acidente sem o que a própria substância desapareceria ou se tornaria outra. Está-se, assim, em presença do que é universal e a-histórico, já que todo tigre é um felino, o Sol é uma estrela, o quadrado possui ângulos e vértices e o pavão é uma ave, propriedades que não podem ser retiradas, sob pena de os seres em questão desaparecerem; ou seja: elas remetem a atributos que não podem faltar sem que o ser seja destruído: o tigre, o sol, o pavão e o quadrado não podem não ser um felino, uma estrela, uma ave e não ter ângulos e vértices, respectivamente, dado que elas são características que os constituem e pertencem a sua natureza.
Pautada na lógica, que transcende o tempo, o espaço e a pessoa, isto é, nos ditames conjunturais, uma relativa apositiva toca no que é o real do ser, nos “pontos de impossível, determinando aquilo que não pode não ser ‘assim’ (o real é o impossível... que seja de outro modo)” (Pêcheux, 1997, p. 29), e, estruturalmente, pode ser comutada por uma relação de causalidade frente à oração principal em que se encaixa; isso é: é por ser um felino que o tigre tem o corpo coberto de pelos; é porque é uma estrela (tem luz própria) que o Sol ilumina a Terra; é por ter ângulos e vértices que o quadrado é uma figura geométrica; e é porque é uma ave que o pavão possui penas e bico. Por meio dos relativos, os sujeitos entram nos conjuntos que os abrigam, fazendo parte de um todo lógico e dedutivo.
Ancorada na lógica como método de trabalho, a teoria do conhecimento que sustenta este modo de previsão postula a tese de que a cognição, ou seja, a compreensão (a detecção do “conjunto de atributos essenciais” (Pêcheux, 1995, p.41)), é alcançada na medida em que se superam os enviesamentos históricos e/ou ideológicos, alcançando-se a essência dos seres e o real que os constitui e que os submete a leis inexoráveis. Talvez, esta seja uma das razões para Pêcheux dar como subtítulo, para a obra Semântica e Discurso, “uma crítica à afirmação do óbvio”, pois afirmar que o tigre é um felino, o sol é uma estrela, o quadrado tem ângulos e vértices e o pavão é uma ave é dizer o óbvio; mas, seria possível contrapor que o óbvio nem sempre o é (o negacionismo está na ordem do dia e as fake news são corriqueiras).
Considere-se, porém, o caso comentado por Pêcheux: a relativa, em “Os homens que são racionais são livres”, parece induzir uma leitura apositiva/explicativa, pois a racionalidade seria intrínseca a todo aquele de quem se diz ser “homem”. Ou: dado o conjunto dos homens, seria verdadeiro que eles possuem razão e, por consequência, liberdade. Ou ainda: a liberdade de cada homem seria devida ao fato de ele ser racional. Em termos de língua escrita padrão, a relativa “que são racionais” deveria ser posta entre vírgulas, porque recuperaria, como retorno do impensado no pensamento, um saber evidente que sustenta a articulação de causalidade entre a propriedade e seu corolário: os homens são (é óbvio) racionais (como todos sabem) e, portanto, são livres, ou seja, a liberdade tem a ver com a racionalidade, que os acompanha e não pode ser negada sob pena de mutilação/destruição da natureza do ser.
Contudo, por ora, basta rememorar os tempos em que determinados grupos de homens foram perseguidos, mortos, escravizados e dizimados, dada concepção de que, distintos dos demais, não seriam homens e, portanto, poderiam não ser livres e pertencerem a outros, estes mais livres porque trariam a marca da racionalidade. Alguns homens seriam dotados de razão e, em outros, ela não estaria presente, o que explicaria uns serem homens (ou mais homens) e outros não e, portanto, não poderem usufruir da liberdade garantida aos demais. Tem-se, neste caso, a deriva de uma leitura espontaneamente explicativa para outra determinativa/restritiva, uma vez que apenas alguns seriam dotados de razão e gozariam do direito à liberdade. O caso embaralha a decisão sobre a inserção numa das classificações, mostrando que, “para cada sujeito, em princípio, na medida em que ele ocupa uma ou outra posição (agora, ideológica, discursiva) (uma determinada) possibilidade não se realiza” (Possenti, 1999, p. 213).
Relativas restritivas/determinativas: apontamentos
As relativas restritivas ou determinativas, por sua vez, dizem respeito ao encaixe de uma propriedade que não se refere ao todo, mas isola um determinado indivíduo ou grupo frente a uma coletividade, pelo fato de, sem perderem os traços gerais que os inserem num todo, apresentarem propriedades que os diferenciam dos demais. O encaixe da relativa, ao invés de retomar o todo por meio de atributos essenciais, aborda o que é contingente e a ausência do atributo não destrói o ser por deixar de ter um traço ou característica. Nas determinativas, o ser é “designado pela união de uma substância com uma propriedade característica, o ser (ou a classe de seres) encontrando-se assim determinado como uma espécie no interior de um gênero” (Pêcheux, 1995, p. 43).
Em “Leão é um felino que possui juba”, “Planeta é um astro que não tem luz própria”, “Triângulo é uma figura geométrica que contém três ângulos, três vértices e três arestas” e “Urubu é uma ave que se alimenta de restos mortais em decomposição”, as relativas encaixadas pelo relativo “que” são determinativas, já que o ser a quem se atribui determinada propriedade constitui um grupo à parte, que não partilha com o seu gênero os traços que lhe são atribuídos, o que permite afirmar que nem todo felino possui juba, nem todo astro tem luz própria, nem toda figura geométrica contém três ângulos, três vértices e três arestas e nem toda ave se alimenta de restos em decomposição. Sem deixarem de ser felino, astro, figura geométrica ou ave, leão, planeta, triângulo e urubu contam com propriedades que os particularizam, embora partilhem os atributos que os inserem na coletividade maior.
Nas determinativas, o que se observa não é a essência, a natureza ou a constituição, mas a particularidade, a contingência e a especificidade, pois só o felino leão, o astro planeta, a figura geométrica triângulo e a ave urubu, respectivamente, possui juba, não tem luz própria, contém três ângulos, três vértices e três arestas e come restos em decomposição e os outros felinos, astros (ou alguns deles), figuras geométricas e aves não possuem juba, luz própria, três ângulos, três vértices e três arestas ou comem restos mortais. No caso das apositivas, a observação remete ao todo universal e essencial, enquanto as restritivas seccionam o mundo em elementos diferenciais, por meio da construção de grades classificatórias que alocam cada um e a todos no grupo ou no subgrupo que os define, dissecando a realidade, criando uma “biologização” dos gêneros e das espécies e construindo uma taxonomia ampla.
Com este modo de observar a realidade e criar grades classificatórias e categorizações do que é dado a conhecer, o homem estaria fadado a captar as leis do universo e organizá-las em tábuas descritivas, como o geógrafo produz mapas e o químico constitui uma tábua de elementos, detectando todos, partes e subpartes distintas, que se submetem a determinações gerais. No limite, entre a criação de apositivas e determinativas, “a lógica é o fundamento primeiro e a ‘arte de falar’ não tem outra finalidade se não a de se conformar às regras que a constituem, enquanto regras imanentes à própria ordem das essências”, restando ao homem a submissão a uma “pedagogia da verdade” e “a subordinação do campo da gramática e da retórica ao do conhecimento” (Pêcheux, 1995, p. 45), que expulsa a imaginação, o desejo, o sonho, a história e a ideologia; isenção, neutralidade e imparcialidade deveriam comandar, então, o olhar que investiga e observa.
Porém, às vezes, a decisão não é tão categórica. A relativa encaixada em “Os homens que fogem são covardes” parece conduzir tendencialmente para a interpretação determinativa, uma vez que a atitude de fugir não seria inerente a todos os homens, mas apenas àqueles de quem se afirma serem covardes. Ou seja: dado o conjunto dos homens, não é verdadeiro que a covardia se aplique a todos, sendo inessencial com relação ao ser. Ou, ainda: a fuga mostraria a covardia de alguns e a não-fuga ou enfrentamento mostraria a coragem de outros. Em termos de escrita, a relativa restritiva “que fogem” deveria vir sem vírgulas, pois constituiria um sintagma único com o núcleo “os homens”.
Neste caso, contrariamente à interpretação de que o medo e a fuga são características inseparáveis dos homens, haveria uma cisão entre os que são covardes e, por serem covardes, fogem e os que, por não serem, não fogem. Enquanto na apositiva, a causa estaria na adjetiva, na restritiva, a causa estaria fora dela, explicando o encaixe da relativa. Se for considerado, porém, que, diante de perigos diferentes, todos podem sentir medo e fugir, pode-se concluir que todos são covardes e fogem diante de uma ameaça maior ou menor, ocorrendo a troca da leitura restritiva pela explicativa. Assim, parece possível supor que a leitura explicativa ou restritiva espontânea para a racionalidade e a covardia dos homens admite os contrários, fazendo variar o contexto, a situação ou as condições de produção, o que leva a concluir que a sintaxe é relativamente indeterminada e atende, em última instância a “relações de restrição” (Possenti, 1999, p. 212) impostas pelo discurso.
Os enunciados sobre a racionalidade e a covardia são discutidos por Pêcheux em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1995) para questionar possíveis interpretações explicativas e restritivas espontâneas. Busca-se levar adiante a problematização levantada sobre as relativas “a respeito das quais os linguistas afirmam serem ‘ambíguas’” (p. 28) em face da oposição entre explicação e restrição. Trata-se de problematizar que, no caso das relativas, que parecem apontar para um fenômeno linguístico puro, vem se articular uma “problemática filosófica” (p. 29), em face do debate sobre “necessidade e contingência” (p. 29) e “uma questão política” (p. 30), que busca impor modos de relações sociais, mostrando que “os frios espaços da semântica exalam um sujeito ardente” (p. 30). É sobre relativas portadoras de “ambiguidade” que este estudo ocorre, tendo como corpus dados recolhidos por alunos de pós-graduação na disciplina “Teoria do Discurso” e que remetem a questões sociais sensíveis, embaralhando ditames de ordem moral, religiosa e política.
Sobre o corpus de dados
Com o quadro esboçado, é possível enfrentar a problemática relativa ao objetivo deste estudo (reitera-se, o atravessamento entre os discursos político, moral e religioso), com a interdeterminação e o reforço de um pelo outro, o que é apresentado por meio da observação do uso de relativas ambíguas, justamente em casos em que flutuam, de forma insegura, entre o todo e a parte, entre o gênero e a espécie, e cuja saída entre uma escolha e outra só pode ser mais ou menos obtida sob a luz das condições de produção. Além disso, a heterogeneidade, com o discurso religioso, às vezes, subsumindo ou sustentando os demais, alcança o discurso político formal e institucional, por decorrência, ferindo o princípio da laicidade do Estado e propondo uma perspectiva fundamentalista e reacionária de sociedade.
O homem que não consegue sustentar a sua família...
E1: O homem (?) que não consegue sustentar a sua família (?) é fracassado e um incompetente.
E1 foi produzido por um deputado durante a discussão da lei da equiparação salarial entre homens e mulheres para a mesma função, a partir do questionamento da parlamentar que se amparava no fato de nem sempre o homem ter uma atividade remunerada por estar desempregado, sendo a mulher a única fonte de renda e, por isso, a falta de renda se tornar uma problemática pungente, ou então ele trabalhar, mas não possuir a remuneração adequada para fazer frente às despesas familiares. A deputada argumentava que, diante da situação atual, tem sido necessário que homens e mulheres providenciem as condições econômicas de sobrevivência da família, recebendo o enunciado acima como resposta.
À primeira vista, a relativa “que não consegue sustentar a sua família”, encabeçada pelo relativo “que”, que atribui a incapacidade de provisão da família ao “homem”, poderia, com boa vontade, ser considerada apositiva, dado que o fracasso e a incompetência seriam a consequência da causa da incapacidade de “sustentar a sua família”. Seria, pois, “aceitável” concluir que todo homem não consegue dar à família aquilo que está disponível e poderia ser considerado como tendo tido insucesso na obrigação natural de provisão. Na tentativa de considerá-la como explicativa, dever-se-ia isolar a relativa do nome a que se refere, tornando-a causa do que é alegado na oração principal que a circunda. Desse modo, poder-se-ia afirmar que homem algum consegue “sustentar a família”, todos eles sendo, por isso, fracassados e incompetentes. Mesmo que, com algum esforço, a leitura possa parecer apetecível, não é o caso. E mais: a relativa atribui apenas ao homem (e somente a ele) o dever da provisão, o que não se sustenta à luz do que é o cotidiano familiar.
Contra o fio de interpretação que consideraria a relativa como apositiva, atribuindo a propriedade em pauta ao conjunto dos homens, o efeito pretendido era, no discurso proferido, restritivo, pois o deputado não se colocaria como fracassado e incompetente, dado que, como parlamentar, proveria a família, mesmo que por meio de recursos públicos. Nesse sentido, haveria, dentre os homens, os competentes e de sucesso e os que não partilhariam de tais atributos, estando a causa para o evento em discussão não na relativa (como acontece nas explicativas), mas na oração principal que a circunda. Ao invés, portanto, de se pautar num diapasão que considera a referência construída como devendo ser atribuída a todos os homens, ela remete tão somente àqueles homens que [...]; e não aos demais.
Questionado sobre a visão redutora da afirmação, dada a generalização apressada e o raciocínio superficial, sem densidade reflexiva e com um apagamento das conjunturas que afetam a vida econômica familiar, a resposta lacônica foi “eles (os homens) que se esforcem mais” (clichê cristalizado da ideologia burguesa defensora da meritocracia), que escancara a operação restritiva do parlamentar, dividindo o mundo entre o bem e o mal e entre o certo e o errado, ao sabor de uma ideologia maniqueísta, conservadora e reacionária.
Dado o objetivo deste estudo, importa observar: a) o viés moralizante do discurso, que estabelece, de modo categórico, uma cisão entre os que estariam certos, porque trabalham e sustentam a família (mais uma reedição da “Cigarra e a Formiga”) e os que estariam errados (porque são “vagabundos” e não se esforçam o bastante), porque não conseguem fazê-lo, sem uma reflexão mais abrangente sobre as condicionantes econômicas de um tempo que não tem espaço para todos; b) o viés político (em sentido amplo) do discurso, que, sendo hegemônico, imporia formas de relações sociais, lançando ao opróbrio os deslocados, à revelia das causas da diversidade; c) e o viés religioso do discurso (por que não dizer?), uma vez que, ancorado num padrão heteronormativo, definiria, se tivesse a oportunidade, o espaço “próprio” de cada um, cabendo o cuidado da casa e da família à mulher e a provisão ao homem, ao sabor da família modelar preconizada por diferentes linhas de pensamento religioso. Percebe-se, pois, que “os critérios de enunciabilidade não coincidem com os de gramaticalidade” (Possenti, 1999, p. 213); e, acrescente-se, nem com os de aceitabilidade
A mulher que se recusa a ser mãe...
E2: A mulher (?) que se recusa a ser mãe (?) é egoísta e perversa.
Este enunciado é relevante, considerando que ele foi apresentado por uma aluna com graduação em Psicologia e que pretendia que a interpretação fosse apositiva, sem, no entanto, aceitar que se possa atribuir à recusa de ser mãe as qualificações de “egoísta e perversa”. A argumentação consistia na tese de que, se não fossem as constrições sociais produzidas pela educação e pelo mundo do trabalho, mulher alguma desejaria ser mãe, dado o sofrimento do tempo de gestação e do parto e das atividades posteriores ao nascimento, que significam cansaço e renúncia. Amparando-se nos casos tratados na sua clínica, a aluna procurava fazer valer o ponto de vista de que, dado que todas que a procuravam estavam insatisfeitas com ser mãe, esta seria a tendência de todas, só evitável pelas coerções sociais.
Considerando a tese, a relativa, defendida como apositiva, “que se recusa a ser mãe”, iniciada pelo relativo “que”, que retoma “mulher”, deveria caracterizar uma atitude essencial, tomando a recusa à maternidade como natural e intrínseca. Neste caso, a mulher (consciente ou inconscientemente) não quer ser mãe e a realização pessoal com a maternidade aconteceria por causa da injunção sofrida na infância/juventude. Seria preciso supor que a mulher não está convicta da maternidade, o que a tornaria egoísta e perversa (pecha recusada pela aluna), já que teria como meta o próprio prazer, o que não seria atendido com a procriação, tese, aliás, pautada pela aluna na Psicanálise. O ensinamento, aqui, emerge da celeuma (da ambiguidade, para Pêcheux) criada em torno da argumentação.
Contra a perspectiva apositiva defendida, o enunciado permite a leitura determinativa, que não atribui o que é afirmado a todas as mulheres, mas a parte delas. Então, a relativa encaixada “que se recusa a ser mãe” seria imputável só às mulheres que não aceitam a maternidade, estas, “egoístas e perversas”, já que se diferenciariam das demais, alinhadas com o que seria a tendência natural para a procriação, o cuidado e o amor incondicional. Neste caso, a causalidade da recusa residiria no egoísmo e na perversão e não, como antes, na recusa a ser mãe, que demonstraria a constituição egocêntrica da mulher. Como dito, a polêmica é relevante e, apesar do aceite de uma leitura apositiva ou determinativa pelos alunos, a recusa foi unânime quanto aos qualificativos.
Importa neste estudo a flutuação polêmica que circunda o enunciado, dado que indicia pontos de vista contraditórios que tocam na constituição ideológica do discurso, qualificando as mulheres ou parte delas de forma demeritória em face da recusa a ser mãe; sendo todas ou parte delas, a rejeição as tornaria irremediavelmente desajustadas e a saída seria a submissão aos ditames sociais que estabelecem a forma “natural” de destinação do corpo e a aceitação de previsões anteriores e exteriores, que mostram que, sobre a mulher, em relação à maternidade, pesam injunções morais, que definem deveres e obrigações, políticas, que estabelecem as relações sociais tidas como adequadas, e religiosas, já que, sobretudo a ela, competiria a multiplicação e o crescimento da humanidade. É dizer: a saída para a derrisão que assombra o enunciado, ou se faz pela aceitação dos ditames pré-definidos, ou pela resistência (tarefa sempre incômoda). Em geral, a salvação e a redenção vêm pela primeira via, uma vez que toda aquela que rejeita o estatuído será dada, a priori, como tendo algum tipo de distúrbio e podendo representar algum risco para o equilíbrio do tecido social.
As garotas de programa que vendem seus corpos...
E3: As garotas de programa são maus exemplos para as meninas e um desserviço para a sociedade, porque vendem seus corpos.
E31: As garotas de programa (?) que vendem seus corpos (?) são maus exemplos para as meninas e um desserviço para a sociedade.
O enunciado, tido como possuindo uma causal em “porque vendem seus corpos”, provocou celeuma, equacionada pela defesa de que, se a apositiva contém uma causalidade, uma causal pode ser convertida em uma explicativa, hipótese convincente que levou à transformação do enunciado. Embora não pareça ser o caso que uma explicativa e uma causal sejam exatamente equivalentes, pois, discursivamente, o intradiscurso é determinante para o efeito de sentido (uma causa não é um adjetivo e vice-versa), ainda assim, a conversão foi aceita em face da plausibilidade da argumentação e da demonstração apresentada.
Na relativa obtida por meio da conversão “que vendem seus corpos”, encabeçada pelo relativo “que” que retoma “garotas de programa”, a interpretação, pela origem da conversão, foi assumida como apositiva, pois se poderia afirmar que todas as garotas de programa vendem o corpo, sendo esta atitude uma característica essencial que as constitui; é dizer: se não vendem o corpo, não são garotas de programa; se vendem, é do comércio do corpo que vêm o mau exemplo para as meninas e o desserviço para a sociedade. O fio de leitura de caráter generalizante sobre as garotas de programa pareceu ajustado até a polêmica surgir.
Uma contradição foi criada em relação à venda do corpo, cuja defesa se pautava no argumento de que o que ocorre é um trabalho destinado a produzir uma renda que, muitas vezes, provê a família da garota; em paralelo, comentava-se ainda o cinismo de quem se ampara na compra e venda de produtos querer barrar/julgar uma forma de comércio. Uma segunda contradição atacava a tese de a garota de programa ser tida como mau exemplo “para as meninas”, já que a atividade que exerce ocorre em lugares discretos, sem que qualquer um possa contemplar o que acontece; menos ainda, meninas que, se não buscarem conhecer, não têm contato com elas; e, por fim, elas seriam mau exemplo “para as meninas” e não para os meninos, o que demonstra o machismo do julgamento. Uma terceira contradição fazia frente ao “desserviço à sociedade”, com a defesa ancorada na premissa de que as “profissionais do sexo” (outro discurso) não agridem/roubam/exploram ninguém, pois quem as procura o faz por iniciativa própria. E, por fim, a contradição final se amparava no argumento de que não é raro acontecer de haver quem faça sexo por dinheiro sem ser taxada como garota de programa por isso; jantares, viagens, presentes, dentre outras vantagens, apontariam, neste sentido, para uma forma de comercialização do corpo para auferir dividendos.
Este enunciado foi marcante pela celeuma que provocou, havendo entre os alunos os que condenaram de modo veemente a atividade e os que pareciam ter um olhar empático, sustentando-se na necessidade de sobrevivência, carência de empregos, falta de formação, renda inadequada do trabalhador, dentre outros suportes. A presença da psicóloga, de uma aluna de Direito e de um historiador provocou uma polêmica acalorada, reforçando a defesa da ambiguidade em muitas relativas, que não podem ser subsumidas pelo realismo metafísico transcendental, intemporal e a-histórico ou pelo empirismo lógico que pretende tudo abarcar em leis ou que, no limite, busca uma subjetividade individualizante como solução. Este caso, de modo emblemático, mostra como as relativas podem se transmutar de um discurso para o outro à luz de contingências históricas e ideológicas, que fazem cambiar os princípios morais, políticos e religiosos, sendo estes mais resistentes do que os anteriores, já que enunciados como o do caso seriam rejeitados a priori e indignos de maior discussão por remeterem a uma atividade tida como pecaminosa. Neste sentido, há que se concordar com Possenti (1999, p. 219), para quem “não se pode esperar que a sintaxe garanta, por si só, determinados efeitos de sentido, embora fixe restrições para a interpretação”.
Os homens homossexuais...
E4: Os homens homossexuais são vítimas de doença e precisam ser tratados.
E41: Os homens (que são) homossexuais são vítimas de doença e precisam ser tratados.
O enunciado é relevante, porque, diferentemente dos demais, a relativa é construída com a omissão do relativo e do verbo de ligação, trazendo a propriedade “homossexuais”, sem os demais componentes, que podem ser recuperados, dada a elipse que os omite, o que parece acontecer nos casos em que a adjetivação ocorre por meio de adjetivo e não de outra forma. Ter-se-ia, desse modo, a relativa “(que são) homossexuais” que retomaria o termo anterior “homens”, atribuindo-lhe a característica referida. Parece difícil, neste caso, postular a ambiguidade de que fala Pêcheux, já que o acidente referido isola o grupo de homens de quem se diz serem homossexuais do dos que seriam heterossexuais. Parece que esta relativa não suporta uma leitura apositiva que sustente que todo homem é homossexual e que somente sob o peso dos ditames sociais seja conduzido à heterossexualidade, apesar da defesa de uma sexualidade difusa na infância por parte da Psicanálise.
Aceitando-se a interpretação determinativa do enunciado, a ambiguidade, então, não aconteceria em torno da classificação da relativa, mas no discurso que a circunda e constrói uma referência não acatada sem polêmica. Seccionando o mundo em dois grupos, um deles, o dos homossexuais, seria “vítima de doença” e o outro, o dos heterossexuais, seria constituído por homens cuja sexualidade teria sido bem construída na infância, sendo vivida sem maiores percalços nas fases seguintes. Nem uma nem outra parecem portar a melhor compreensão, haja vista a suposta “doença” da homossexualidade não ser comprovada e nem existir uma boa explicação de por que determinada sexualidade acaba se impondo sobre cada um (o que se sabe é que a sexualidade é plural e uma ou várias formas podem se impor) e haja vista os que se tornaram heterossexuais não raras vezes se dizerem insatisfeitos com a orientação que os capturou e o entendimento da homossexualidade como doença nem de longe equacionar a questão, não deixando de ser uma forma incerta de concebê-la.
E há outras polêmicas sobre o enunciado. Se a concepção da homossexualidade como doença não se sustenta em evidência demonstrativa, por consequência, também não se pode pressupor que haja um tratamento para ela ou que ela deva ser submetida a uma “cura”, da qual, aliás, não se tem a menor ideia de qual seja, mesmo que se postule que não se trata de ministrar tratamento medicamentoso, mas de acompanhamento por profissional especializado em distúrbios psicológicos, o que é outra forma de se amparar em preconceitos sobre o que não se compreende, se é que se faz necessário compreender. E aqui também, como no caso anterior, percebe-se que a preocupação com o controle e o direcionamento se exercem sobre um corpo preferencial (o masculino) e não sobre o da mulher. A homossexualidade masculina parece incomodar mais do que a feminina, o que torna explícito o machismo latente que, aliás, convive bem com a ideia de “duas mulheres se pegando”.
Apesar das análises sumárias deste enunciado (e dos demais), um funcionamento se mostra recorrente: contra uma lógica que pretenda detectar relações apositivas universais, atingindo conceitos, ou deseje buscar leis que governam conjuntos de fenômenos empíricos, desenhando noções determinadas, em ambos os casos com efeitos de cientificidade, há, em ruptura com estes encaminhamentos, percepções e concepções que, materializando discursos, definem visões de mundo que infundem ditames morais, com deveres e obrigações, políticos, com formas de prescrever as relações entre os homens, e religiosos, com modos de conceber o trânsito entre o homem e o divino. Em E4, estes ditames parecem se impor por meio da prescrição da sexualidade, do uso do corpo e da conduta espiritual, enviesados por olhares específicos e não ilesos à polêmica e à ambiguidade.
A mulher que é submissa...
E5: A mulher deve se resignar a ter um salário inferior ao homem, mesmo que tenha a mesma atividade, porque é submissa ao homem; está na Bíblia.
E51: A mulher (?) que é submissa ao homem (?) deve se resignar a ter um salário inferior a ele, mesmo que tenha a mesma atividade, está na Bíblia.
Este enunciado, diferente dos demais, remete ao discurso político em sentido estrito: formal e institucional. Ele foi proferido na tribuna da Câmara dos Deputados, quando se discutia o projeto de lei de equiparação do salário de homens e mulheres para o desempenho da mesma atividade profissional. O Projeto de Lei nº 1085/2023, que foi aprovado pelo Senado Federal em 01/06/2023, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre a equidade mencionada, considerando-a recomendável. Em discussão na Câmara, um deputado defendeu que homem e mulher deveriam ter salários diferentes, mesmo realizando o mesmo trabalho, alegando, como forma de fechar o discurso, que, dada a submissão da mulher ao homem preconizada pela Bíblia, a diferenciação seria justificada e ideologicamente bem ancorada.
Em face do objetivo deste estudo, interessa, sobremaneira, a relativa “que é submissa ao homem”, encabeçada pelo relativo “que”, que retoma o sintagma “a mulher”, fazendo-a entrar/pertencer à adjetivação que relaciona a submissão à “mulher” (às mulheres). À primeira vista, uma leitura restritiva pareceria adequada, pois o enunciado parece encaminhar para um nome complexo único (“a mulher que é submissa ao homem”), apartando as portadoras de submissão das demais, havendo, portanto, dois grupos: as que seriam submissas e as que não possuiriam tal traço; as submissas deveriam ter salários inferiores, o que não se aplicaria às demais. Questionado por uma parlamentar sobre a tese, foi mesmo na tentativa baldada de estabelecer uma leitura determinativa que o deputado tentou se refugiar.
Embora, porém, a interpretação restritiva que serviria como refúgio para o parlamentar pareça possível, o fio de leitura apositiva se impõe, dado que a restrição, se aprovada pela Câmara, teria um empecilho de aplicação em face de não haver um critério de diferenciação entre mulheres submissas ou não. A resolução da celeuma vem da percepção de que, como se trataria de uma lei, ela é genérica e se aplica a todas as mulheres, no caso, e não apenas a parte delas, ficando indiscernível a que grupo aplicar o postulado, se a hipótese saísse vitoriosa; e não faltaram boas almas, até de mulheres, que defendessem o postulado. O enunciado parece não suportar outra leitura que não a explicativa, que tocaria a todas as mulheres, tangidas por um discurso religioso e moralizante, implicando em ditames políticos e legais.
Afora o preconceito (“a mulher é inferior ao homem”), o machismo (“a mulher deve ganhar menos porque engravida”) e a falta de lucidez do parlamentar, que se ancoram em pré-construídos cristalizados e desumanizadores, há que se ter em conta, ainda, o fato de a base da aposição ter como sustentação o discurso cristão (e não outro) relativo ao Antigo Testamento, de caráter punitivo, conservador, moralizante e infenso ao progresso e à atualização, arraigado em ditames que transcendem, inclusive, o texto bíblico usado como argumento de autoridade pelo deputado. No limite, o que se verifica é o uso de um discurso religioso, que, vingando, imporia ditames de uma crença/fé sobre a política, constituindo uma sociedade caracterizada pela unicidade de concepções de um Estado teocrático pautado numa visão tendenciosa, ao gosto do deputado/ideologia. Com isso, ter-se-ia a negação de outro ponto de vista que não o definido (supostamente) pela religião e pelo parlamentar, ignorando as leis aprovadas pelo Parlamento, pelas instâncias jurídicas e a Constituição Federal, que preconizam a laicidade do Estado e o respeito à pluralidade e à diversidade de credos.
Para criar um efeito de completude
Os dados deste estudo, constituintes de um corpus de dados/enunciados significativo quantitativamente, foram selecionados por mostrarem a ambiguidade de que trata Pêcheux e permitirem observar como, nas relativas (apositiva e restritiva), confluem questões de ordem moral, política e religiosa e, por que não, também jurídica, já que as “leis” definidas por elas não deixam de ter repercussão sobre os tribunais. O que o fenômeno das relativas revela é que, ao lado das apositivas, que se comportam como que tratando de entidades lógico-matemáticas (o sol que é uma estrela, a terra que é um planeta, o tigre que é um felino, o pavão que é uma ave, o triângulo que é uma figura geométrica), há outras que, assemelhando-se, pautam-se em juízos ancorados em ditames ideológicos (a garota de programa que vende seu corpo, o homem que não consegue sustentar a família, a mulher que não quer ser mãe, o homem que é racional, as crianças que são inocentes).
Esta constatação conduz ao postulado de Pêcheux (1995, p .91) de que “os processos ideológicos simulam os processos científicos”, uma vez que se sustentam em procedimentos que criam efeitos de evidência que amparariam pleitos fundamentados em parâmetros lógicos, quando, no limite, ancoram-se em injunções ideológicas circunstanciadas por um eixo dêitico de tempo, lugar e grupo. No sentido de construção lógica por meio de silogismo, afirmar “o triângulo que é uma figura geométrica” ou “as crianças que são inocentes” é enunciar, em aparência, premissas de validade geral, uma vez que, enquanto construção, todo triângulo é uma figura geométrica, assim como toda criança é inocente; porém, há que se pesar o fato de que só o primeiro caso é irrefutável, enquanto o segundo não, sendo, por isso, ambíguo e podendo flutuar com diferentes efeitos em diferentes discursos.
À luz desta constatação, uma outra tese de Pêcheux pode ser recuperada; trata-se de, nas relativas (mas não só nelas), às vezes, haver uma equiparação entre a ciência e as instituições; é dizer: em face da movimentação dos mesmos ingredientes linguísticos e da aparência de uso dos mesmos raciocínios, enunciados fixos e unívocos, que tratam de seres lógico-matemáticos e remetem a procedimentos conceituais, são emparelhados a outros, cujo efeito de cientificidade e sistematização tão somente se pauta nos mesmos recursos, estando ancorados, porém, em ditames de determinada visão de mundo. As relativas são apenas mais um lugar dentre outros em que a simulação de univocidade e transparência pela ideologia e o encavalamento entre a ciência e as instituições (moral, política, religião, direito, pedagogia) ocorrem, merecendo-se, portanto, dar a elas a atenção devida para não cair na tentação da lógica apressada que sedimenta crenças e valores nem sempre os mais humanos.
REFERÊNCIAS
- PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução Eni Pulcinelli Orlandi et al. 2.ed. Campinas: Editora da Unicamp: 1995.
- PÊCHEUX, M. O Discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução Eni Puccinelli Orlandi. 2. ed. Campinas: Pontes, 1997.
- PÊCHEUX, M. Língua, "Linguagens", Discurso: efeitos discursivos ligados ao funcionamento das relativas em francês. In: PÊCHEUX, M. Análise do Discurso: Michel Pêcheux. Textos Selecionados por Eni Puccinelli Orlandi. 2. ed. Campinas: Pontes Editores, 2011 [1981].
- POSSENTI, S. Notas sobre as relações entre discurso e sintaxe. In: MARI, H. (org.). Fundamentos e dimensões da análise do discurso. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 1999. p. 211-224.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
06 Dez 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
17 Out 2023 -
Aceito
14 Maio 2024
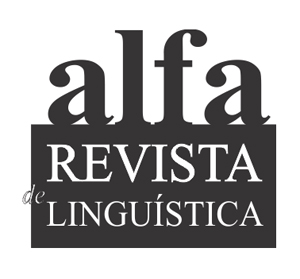
 SINTAXE, DISCURSO E RELATIVAS: E A “SEMÂNTICA” EXALA PAIXÕES
SINTAXE, DISCURSO E RELATIVAS: E A “SEMÂNTICA” EXALA PAIXÕES