RESUMO
Neste artigo, procuramos oferecer contribuições metodológicas para a análise textual desenvolvida na Gramática Textual-Interativa (GTI), tipo de análise fundamentada essencialmente na categoria do tópico discursivo. Especificamente, nosso objetivo é discutir: (i) a instauração, na construção textual, de tópicos metadiscursivos; (ii) a metodologia de nomeação dos referentes que, no texto, funcionam como tópicos. Analisando descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião do Banco de Dados IBORUNA e motivados pelo interesse em contribuir para o desenvolvimento da GTI, argumentamos que a construção de textos, por vezes, envolve um tipo de tópico que pode ser analisado como metadiscursivo, caracterizado por uma centração voltada para a negociação entre os interlocutores e indicação de um tópico a ser instalado no texto. Ademais, discutimos que referentes com estatuto de tópico podem ser descritos pela identificação de expressões referenciais que os explicitam na materialidade textual, pela nominalização de predicações dos interlocutores ou ainda por inferências do analista. Concluímos que os tópicos metadiscursivos estampam a formulação textual intrinsecamente interativa assumida pela GTI, por serem voltados para a própria construção textual, e que apontar métodos de identificação dos referentes que são tópicos é reforçar o estatuto de referente de todo tópico discursivo.
Gramática Textual-Interativa; Tópico discursivo; Referente; Análise tópica; Metodologia
ABSTRACT
This paper provides methodological contributions to the text analysis that is developed in Textual-Interactive Grammar (TIG), a type of analysis based on the analytical category of discourse topic. Specifically, the purpose of the paper is to discuss: (i) the elaboration of meta-discourse topics during the construction of texts; (ii) a methodology for naming the referents that work as topics in a text. The corpus comprises descriptions, experience narratives, and opinion reports, material selected from IBORUNA database. Aiming to contribute to the development of TIG, the article argues that textual construction sometimes deals with meta-discourse topics in which interlocutors are concentrated on negotiating the topic of the text. In addition, the paper discusses that a referent with topic status can be described by means of: (i) the identification of a referential expression that makes it explicit on the text surface; (ii) the nominalization of a predication that is present in the text; or (iii) the inference of that referent. The article concludes that discourse topics make evident the existence of an intrinsic relationship between text formulation and interaction, and that the different possibilities of describing topics corroborate the referent nature of each topic in a text.
Introdução
No âmbito do Projeto de Gramática do Português Falado (Castilho, 1990), criou-se um grupo de pesquisadores responsável por estudos sobre a construção do texto, liderado por Ingedore Grünfeld Villaça Koch. Tal grupo enfrentou o desafio de definir fundamentos teórico-metodológicos para a análise textual sob uma perspectiva textual-interativa, culminando na elaboração de uma proposta teórica de análise textual, conhecida como Perspectiva Textual-Interativa ou Gramática Textual-Interativa. Nesse trabalho desafiador de delimitar princípios particulares à análise de textos e pertinentes ao nível de organização textual da língua, uma tarefa fundamental foi a definição de uma unidade de análise textual, condizente com os fundamentos teóricos propostos.
Nesse sentido, ao estudar a macroestrutura do texto, o grupo constatou que um processo básico de construção textual é a topicalidade, ou seja, a organização do texto em tópicos discursivos, já que, “ao longo de um evento comunicativo, os interlocutores centram sua atenção em determinados temas, que se constituem como foco da interação verbal” (Jubran, 2015a, p. 28). Guiado por essa constatação, tal grupo estabeleceu uma categoria analítica do texto, o tópico discursivo, entendido, de forma geral, como “‘acerca de’ que se fala” (Jubran, 2006a, p. 35), categoria que permite a divisão do texto nos chamados segmentos tópicos. Cada segmento tópico (SegT) é uma porção textual que materializa a categoria abstrata do tópico discursivo e constitui, enfim, a unidade de análise da teoria.
Sendo assim, um princípio metodológico definido no interior da Gramática Textual-Interativa (GTI) é o de que fenômenos textuais devem ser analisados em relação à topicalidade, o que faz com que a distinção dos SegTs de um texto seja um procedimento elementar na análise textual-interativa. Uma evidência da necessidade de se operar com SegTs na descrição de fenômenos textuais é o estudo da parentetização, um dos processos de construção do texto reconhecidos pela GTI. Conforme pontua Jubran (2015b), a parentetização ocorre no contexto do SegT, correspondendo a um breve desvio do tópico discursivo, que não chega a provocar a instauração de um novo tópico dentro do que estava em curso, não permitindo, portanto, a delimitação de um novo SegT. Outro exemplo da importância metodológica de se reconhecerem os SegTs de um texto para estudar um fenômeno textual-interativo é o trabalho com marcadores discursivos (MDs), um conjunto de recursos linguísticos responsáveis por sequenciar porções textuais e marcar a presença da instância da enunciação no enunciado (Risso, 2015; Urbano, 2015). Na análise do funcionamento de expressões linguísticas enquanto MDs, uma etapa essencial consiste em delimitar o texto em SegTs, uma vez que essa delimitação é crucial para uma apuração precisa do comportamento das expressões em relação aos traços de sequenciador tópico, sequenciador frasal e não sequenciador, traços que são elementares para a caracterização de uma expressão em termos de sua atuação como MD.
Nesse contexto de delimitação de procedimentos metodológicos para o estudo textual vinculado à categoria do tópico discursivo conforme seu tratamento na GTI, temos como objetivo, neste artigo,3 oferecer contribuições de caráter metodológico para a análise do texto fundada em tal categoria, o que implicará em contribuições para a própria GTI. Mais especificamente, nosso trabalho compreende os seguintes objetivos: (i) argumentar que, na construção de textos, pode ocorrer a instauração de tópicos metadiscursivos centrados na definição entre os interlocutores e na indicação dos tópicos discursivos a serem desenvolvidos no texto; (ii) discutir e propor uma metodologia de nomeação dos referentes que, em um texto, assumem estatuto de tópicos discursivos. O material explorado em nossas discussões provém de descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião coletados da Amostra Censo do Banco de Dados IBORUNA (Gonçalves, 2007), o qual reúne amostras linguísticas do português brasileiro falado no interior noroeste do estado de São Paulo.
O artigo segue organizado da seguinte maneira: após esta introdução, na próxima seção apresentamos a GTI e a sua concepção de tópico discursivo; em seguida, caracterizamos o metadiscurso e a sua atuação na construção tópica, o que nos ajudará a compreender como um tópico pode ser reconhecido como metadiscursivo; depois, abordamos o processo de referenciação e as formas de ativação de referentes textuais, buscando embasamento teórico para a discussão sobre formas de identificação dos referentes que são tópicos; chegando à nossa discussão de dados; na seção seguinte, discutimos as duas questões envolvidas em nosso objetivo, oferecendo contribuições metodológicas para a análise textual-interativa; por fim, apresentamos as conclusões e as referências, nessa ordem.
A Gramática Textual-Interativa (GTI) e a noção de tópico discursivo
A Gramática Textual-Interativa (GTI) é uma vertente da Linguística Textual, sendo, portanto, uma abordagem que toma o texto como objeto de estudo, recortando-o na sua dimensão interacional. Conforme explica Jubran (2007), a GTI compreende o texto como uma unidade sociocomunicativa dinâmica que mobiliza, além de fatores propriamente linguístico-textuais, conhecimentos interacionais que se dão no jogo de atuação comunicativa realizado pela linguagem e que se inscrevem na própria materialidade textual. Em uma abordagem gramatical do texto, como a GTI, cumpre também destacar, como postulado pela GTI, que as regras de construção textual não se equivalem àquelas que vigoram no nível da frase, apresentando o texto propriedades fundadas numa ordem constitutiva própria. Em consonância com a concepção de texto em questão, está a noção de linguagem da GTI, entendida como forma de ação verbal, pela qual pelo menos dois interlocutores realizam tarefas comunicativas de troca de representações, metas e interesses, no contexto de um espaço discursivo sempre direcionado para os parceiros da comunicação (Jubran, 2007).
Dessas concepções de linguagem e de texto, que ressaltam a importância dada a fatores interacionais na construção textual, surge um conjunto de princípios norteadores da GTI (Jubran, 2015a, 2007). O primeiro deles é o de que os fenômenos nela considerados têm suas propriedades e funções definidas no uso, nas situações concretas de interlocução, coenvolvendo as circunstâncias de enunciação. Um segundo princípio essencial para a GTI é o de que os fatores interacionais são constitutivos do texto e inerentes à expressão linguística, havendo uma presença natural de dados pragmáticos no processamento textual, os quais se mostram na superfície textual. Princípio esse que retoma em grande medida a noção de texto como unidade sociocomunicativa fundada em conhecimentos interacionais inscritos na materialidade do texto.
Assumindo a presença intrínseca dos fatores pragmáticos na construção do texto, a GTI, na análise dos fenômenos envolvidos na construção textual, não dicotomiza as funções textual e interativa, mas as conjuga, conforme a dominância de uma ou outra, o que já demonstra um terceiro princípio teórico da abordagem, o princípio de gradiência. Conforme esse princípio, um determinado procedimento de construção textual ora atua preponderantemente na organização informacional do texto, ora dominantemente na atividade enunciativa, sinalizando o domínio da função interacional, ora em classes intermediárias, ao longo das quais há progressiva projeção da função textual sobre a interacional e, em sentido inverso, desta sobre a textual.
Como mencionamos na seção de introdução, a GTI estabelece como categoria analítica o tópico discursivo, compreendido como acerca de que se fala (Jubran, 2006a, Pinheiro, 2005), como o conteúdo informativo semântico básico do texto (Bernárdez, 1982; Brown; Yule, 1983; Van Dijk, 1980). Mais especificamente, considera-se que o tópico se manifesta no texto mediante enunciados formulados pelos interlocutores a respeito de um conjunto de referentes, concernentes entre si e em relevância em determinado ponto da mensagem (Jubran, 2006b, 2015c; Pinheiro, 2005).
A partir da observação da convergência de um grupo de enunciados para um mesmo conjunto de objetos de discurso, são definidas duas propriedades particularizadoras do tópico discursivo – centração e organicidade. A propriedade da centração abrange os traços de concernência, relevância e pontualização. De acordo com Jubran (2015c), a concernência compreende a relação de interdependência entre elementos textuais, firmada por mecanismos coesivos de sequenciação e referenciação, que promovem a integração desses elementos em um conjunto específico de objetos de discurso, explícitos ou inferíveis, instaurado como alvo da interação. A relevância, por sua vez, relaciona-se com a proeminência de elementos textuais na constituição desse conjunto referencial, que são projetados como focais na interação. Por último, o traço da pontualização diz respeito à localização concreta desse conjunto de objetos de discurso em determinado ponto do texto, fundamentada na concernência e na relevância de seus elementos.
O exemplo em (1), emprestado de Jubran (2015c), permite observar os traços da centração, bem como a noção de tópico discursivo como categoria abstrata e a concepção de SegT.
Segundo Jubran (2015c), em (1), a concernência é certificada na construção de um conjunto referencial relativo às profissões do marido de L1. A integração dos elementos constitutivos desse conjunto de objetos de discurso é instaurada, por exemplo, pela associação semântica entre lexemas como “escritório”, “carreira”, “advogar”, “lecionar”, “procurador”, “professor”, que circunscrevem o tema “profissão”. Já a relevância tópica decorre da posição focal assumida por referentes tópicos, passível de ser verificada nesse caso pela observação dos temas e dos remas sentenciais. Os temas, muitas vezes, referenciam o elemento “marido”, colocando esse objeto de discurso em proeminência, e, ligados a esses temas, estão remas que expressam a dominância do tópico “profissões”, como no trecho “ele se dedica muitíssimo a ... tanto à carreira de procurador como de professor”. Tendo sido construído um conjunto de enunciados concernente e relevante acerca das profissões do marido de L1, podemos identificar, na materialidade do texto, uma unidade textual que concretiza o tópico discursivo apontado, o que já demonstra o terceiro traço da centração, a pontualização. É desse modo, portanto, que se diz que o tópico discursivo está relacionado a acerca de que se fala, como em (1), em que se tematizam as profissões do marido de L1.4 Também é dessa maneira que se assume que a categoria abstrata do tópico discursivo é concretizada por um SegT, unidade textual que corresponde, em (1), a todo o trecho do exemplo, que materializa o tópico “Atividades profissionais da marido de L1”, desde o começo da fala do documentador até o fim da fala de L1.
Quanto à segunda propriedade particularizadora do tópico discursivo, a organicidade, esta se manifesta, segundo Jubran (2015c), por relações de interdependência tópica que se estabelecem em dois planos – o linear e o hierárquico. No plano hierárquico, ocorrem as dependências de superordenação e subordinação entre tópicos que se implicam pelo grau de abrangência do assunto tratado no texto, ao passo que, no linear, verificam-se as articulações intertópicas em termos de adjacência ou interposições de tópicos na linearidade textual. A Figura 1 exemplifica o plano hierárquico da organicidade tópica, o qual nos ajudará a compreender, nas próximas seções, o funcionamento do tópico metadiscursivo. Dispensamos exemplos que demonstram a linearidade tópica porque não abordaremos, em nossas análises, as relações intertópicas quanto à sua distribuição na linearidade textual.
Ainda sobre a concepção de tópico discursivo, além da noção de tópico proposta por Jubran (2006a, 2006b, 2015c), também cumpre reconhecer, como fazemos em Garcia (2022), que todo tópico discursivo pode ser assumido como um referente.
Com relação à noção de referente, Lyons (1977b) aponta que é comum dizer que palavras ou expressões, mas não conceitos, referem-se a coisas. Nesse contexto, tratando da referência, o autor afirma que, quando utilizamos uma sentença descritiva simples, é frequentemente apropriado dizer que o que estamos fazendo envolve dizer algo sobre alguém ou alguma coisa, sobre uma entidade particular (ou entidades), ou grupo(s) de entidade(s) do mundo. Por exemplo, em uma situação em que uma expressão como “Napoleão é um corso” é usada para fazer uma declaração, diz-se que o falante se referiu a um certo indivíduo (Napoleão) pelo emprego de expressão referencial. Se a referência for bem-sucedida, a expressão referencial permitirá que o ouvinte identifique corretamente o indivíduo em questão, que é o referente.5 Ainda para Lyons (1977b), em sentenças com apenas uma expressão referencial, a expressão usada para referir aquilo sobre o qual estamos falando (o referente) é tipicamente o sujeito da sentença (Lyons, 1977b).6 A respeito dessa noção de que o referente está relacionado àquilo acerca do que se fala, Brown e Yule (1983, p. 205, tradução nossa),7 a partir da leitura de Lyons (1977b), dizem o seguinte: “O termo referência pode [...] ser [...] reservado àquela função pela qual os falantes (escritores) indicam, pelo uso de uma expressão linguística, as entidades sobre as quais estão falando (escrevendo)”.
Com base nessa concepção de referente, é admissível reconhecer o tópico discursivo como um referente porque o tópico, na condição de tema do texto – “tema” concebido como aquilo sobre o que se fala em um discurso (Brown; Yule, 1983) –, pode também ser assumido como algo sobre o mundo, (re)construído no texto e tido como alvo do processo textual-interativo. Essa visão referencial do tópico discursivo, pressuposta em trabalhos elementares para a definição da categoria (Jubran et al., 2002; Jubran, 2006a, 2006b, 2015c), pode ser atestada a partir do exemplo em (2).
O SegT em (2) compõe um texto em que o falante descreve diferentes partes do seu rancho, como os quartos, tópico focalizado no exemplo em pauta. A centração em torno desse tópico pode ser verificada pela concernência estabelecida a partir da relação semântica firmada entre sintagmas como “quarto”, “cama de casal”, “[cama] de solteiro”, “guarda-roupa” e “quartinho”, delimitando a temática “quartos do rancho”. Já a relevância tópica pode ser atestada pela ativação explícita do objeto de discurso “quartos” logo no início do SegT (“aí nos quarto”, L. 1),8 indiciando a parte do rancho a ser focalizada naquele ponto do texto, bem como pela recategorização desse referente ao longo de todo o SegT, principalmente por sintagmas como “um quarto” (L. 1, 4, 6), “o outro” (L. 2), “o quarto” (L. 2), “o único quarto” (L. 5), “o outro quarto” (L. 5-6) e “o quartinho” (L. 7). Tendo sido identificado um conjunto referencial concernente entre si e relevante em determinado ponto do texto acerca dos quartos do rancho, reconhece-se esse objeto de discurso como um tópico discursivo.
Partindo dessa análise tópica, o caso em (2) atesta que o tópico discursivo pode ser visto como um referente porque é sobre a entidade do mundo “Quartos do rancho do informante”, reconstruída no processamento textual, que se fala no SegT. Em outros termos, é acerca de uma entidade (isto é, de um referente) – “Quartos do rancho do informante” – que se constitui centração (ou seja, que se estabelece um tópico); daí o entendimento de que um tópico é sempre um referente. Como um referente, o tópico, então, pode ser identificado por três procedimentos básicos, conforme discutimos na seção de discussão de dados.
O metadiscurso na construção tópica
De acordo com Risso (1999), os recursos de expressão de metadiscursividade estão entre os múltiplos procedimentos verbais sinalizadores da instância da enunciação na estrutura textual, estampando, na superfície dos enunciados, um movimento autorreflexivo que faz com que o discurso se desdobre sobre si mesmo, em um processo em que referencia o próprio “fazer” discursivo. Dessa forma, a autora discute que a propriedade básica particularizadora do metadiscurso está na autorreflexividade, como atesta o exemplo em (3), retirado por Risso (1999) de uma entrevista com o então líder do MST, promovida pela TV Cultura, em 1997, no programa Roda Viva.
(3)(...) então aí o senhor poderia enumerar algumas mudanças sociais, mesmo que seja em termos genéricos, que aí nós vamos ter uma ideia de pra onde o MST (......) realmente quer ir.
(Risso, 1999, p. 204).
Como explica Risso (1999), em (3), os segmentos metadiscursivos em itálico destacam o ato verbal solicitado ao entrevistado (enumerar), rotulando-o como um ato especificador do tópico proposto (mudanças sociais) e definindo o formato, não necessariamente detalhista (em termos genéricos), das declarações requeridas. Assim, ao reportar-se ao que vai ser dito, o discurso, simultaneamente, estabelece-se como evento e como objeto de menção, o que permite dizer, conforme mencionamos, que o metadiscurso faz referência ao próprio processo discursivo.
Quanto a marcas dos segmentos metadiscursivos, Risso (1999) destaca que o estatuto do metadiscurso costuma ser assinalado, no interior do texto, por expressões verbais, como “dizer”, “perguntar” e “responder”, ou nominais, como “declaração”, “afirmação” e “resposta”, referenciadoras do ato verbal. Além disso, ainda segundo a autora, é possível que haja elipse de termos metalinguísticos, os quais podem ser recuperados com o apoio de dados do evento comunicativo. Dessa forma, excertos como “Segunda coisa: o governo precisa priorizar a reforma agrária” ou “Senhor líder do MST, o seguinte...” podem ser decodificados como “Segunda coisa a ser dita” e “quero perguntar o seguinte”.
Caracterizando diferentes modalidades de metadiscurso, entre elas, a que envolve o esquema de construção do texto, Risso e Jubran (1998) mostram que prefaciadores metadiscursivos podem indicar a proposição de tópicos discursivos a serem abordados pelos locutores, como vemos no exemplo em (4), no qual o trecho em itálico, dito pelo documentador de um diálogo entre dois informantes do Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta (NURC), sugere que seu segmento subsequente adquira estatuto tópico.
(4)então... então agora nós... vamos mexer aqui num assunto que parece ser um pouco mais amplo... o problema da imprensa... [D2-SP/255].
(Risso; Jubran, 1998, p. 234).
Nesse mesmo viés, Jubran (2022) reconhece a referência à estruturação tópica do texto, em termos de montagem e progressão textual, como um tipo de metadiscurso, que pode: (i) indicar o tópico discursivo a ser abordado; (ii) marcar o esquema de composição do texto; (iii) sinalizar a introdução e a finalização de um tópico discursivo; (iv) sinalizar interrupção, inserção de parênteses e retomada tópica; (v) indicar o estatuto discursivo de um fragmento do texto, como resumo, tese e definição. Um exemplar dessa modalidade de metadiscurso é o caso em (5), no qual é possível observar não apenas a nomeação do tópico a ser desenvolvido (o problema da seca), mas também a indicação da estrutura do desenvolvimento tópico, organizada em duas partes (duas linhas).
(5)MI – eu acho que têm duas linhas pelas quais tem que se enfrentar o problema éh ... da seca (...) o primeiro é fortalecer as ações de cidadania ... que nada tem a ver com o governo, que são redes de ... de ... da cidadania brasileira (...) que hoje voltam a se organizar para responder à situação éh ... de ... éh ... fome naquela região do país ... o segundo são ações governamentais ... as ações governamentais ... éh ... Matinas ... basicamente são ações de investimento ... que lá deve ser feito ... para respostas a curto prazo [TV Cultura, Roda Viva, 11 maio 1998].
(Jubran, 2022, p. 223).
Mesmo com essa relação entre metadiscurso e construção de tópicos discursivos, sendo a referência à estruturação tópica do texto uma modalidade de metadiscurso, Risso (1999) explica que, enquanto discurso autorreferente, o metadiscurso não participa diretamente do conjunto de objetos de discurso envolvidos nas proposições tópicas, sendo um importante fator de ancoragem pragmática do conteúdo informacional, marcando, portanto, a instância da enunciação na construção textual, como dissemos, com base na autora, no início desta seção. Esse caráter do metadiscurso também pode ser notado no trabalho de Jubran (2022, p. 229), que afirma que, “no processo de rotulações metalinguísticas ou metadiscursivas, os objetos-de-discurso não dizem respeito à elaboração tópica”, porque consistem em: (i) atividades linguageiras, designadas por palavras como “descrição”, “explicação”, “relato”, “comentário” etc.; (ii) processos mentais, designados por “análise”, “avaliação”, “opinião” etc.; (iii) atributos do âmbito da língua ou do texto, designados metalinguisticamente por “frase”, “pergunta”, “palavra” etc.; (iv) atos ilocucionários, designados por lexemas como “ordem”, “promessa”, “conselho” e “afirmação”, conforme vemos em (6).
(6)O presidente Carlos Menen visitou o Brasil no auge da crise, mas também nos dias em que, em Washington, o Congresso determinava a sorte do fast track, legislação essencial para que o presidente Bill Clinton pudesse acelerar o processo de criação da Alca [...]: “A consolidação e o aperfeiçoamento do Mercosul constituem a prioridade número um da política externa da República Argentina”. A afirmação foi feita no Senado, em Brasília [...]. [“Editorial”, em O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 nov. 1997].
(Jubran, 2022, p. 229-230).
Segundo Jubran (2022), em (6), a expressão “a afirmação” remete anaforicamente à fala de Carlos Menen sem que haja referência a seu conteúdo proposicional, pois a toma como um ato de fala, categorizando-o pela sua força ilocucionária de asserção. Sendo assim, a autora explica que a expressão anafórica destacada foca o plano da enunciação, deixando em segundo plano sua funcionalidade no fluxo informacional, tendo em vista que denomina a ação verbal praticada pelo enunciador do discurso citado e, ao mesmo tempo, a predica pelo seu teor asseverativo. De forma análoga a essas considerações de Risso (1999) e de Jubran (2022) sobre o fato de o metadiscurso não atuar diretamente na construção tópica, discutiremos, na seção de discussão de dados, os tópicos que chamamos de “metadiscursivos”, buscando mostrar que, nesses tópicos, decresce o desenvolvimento informacional do texto, aumentando relativamente a função interacional, o que corrobora o princípio de gradiência da GTI.
Referenciação e formas de ativação de referentes textuais
De acordo com Koch (2015, 2018), a referenciação é uma atividade discursiva por meio da qual se constroem e reconstroem objetos de discurso, pressuposto que implica uma visão não referencial da língua e da linguagem, que se afasta da ideia de correspondência direta entre as palavras e o mundo exterior. A autora aborda a questão nos seguintes termos:
[...] não se entende aqui a referência no sentido que lhe é mais tradicionalmente atribuído, como simples representação extensional de referentes do mundo extramental, mas, sim, como aquilo que designamos, representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa finalidade: as entidades designadas são vistas como objetos de discurso, e não como objetos do mundo (Koch, 2018, p. 64).
A partir dessa concepção, que indica um deslocamento da noção de “referência” para a de “referenciação” nos estudos em Linguística Textual (Mondada; Dubois, 2003), Koch (2018) explica que nosso cérebro não fotografa nem espelha o mundo extralinguístico, de maneira que nosso modo de ver e dizer o real não coincide com o real. Conforme a autora atesta, na verdade, nossa mente reelabora os dados sensoriais para fins de apreensão e compreensão e essa reelaboração se dá essencialmente no discurso, em um processo que não é subjetivo e individual, devendo a reelaboração obedecer a restrições impostas pelas condições culturais, sociais, históricas e, ainda, pelas condições de processamento do uso da língua. Nesse sentido, Koch (2018) defende que o discurso constrói aquilo a que faz remissão, ao mesmo tempo em que é tributário dessa construção.
No contexto em que a referenciação é vista como um processo de construção e reconstrução de objetos de discurso, que não estão em relação especular com o mundo extralinguístico, Mondada (2001) entende que os objetos de discurso são entidades interativa e discursivamente produzidas pelos interlocutores ao longo da enunciação, sendo no e pelo discurso que são colocados, delimitados, desenvolvidos e transformados. Seguindo essa concepção, a autora ainda acrescenta que os objetos de discurso não preexistem, tampouco são fixos, mas emergem e se desenvolvem gradativamente na dinâmica discursiva.
Conforme Koch (2018), todo discurso constrói uma representação que funciona como uma memória discursiva, a qual é alimentada pelo próprio discurso, sendo os sucessivos estágios dessa representação os responsáveis, pelo menos em parte, pelas seleções feitas pelos interlocutores, especialmente no que diz respeito a expressões referenciais. Assim, na constituição da memória discursiva, a autora identifica o envolvimento de três operações básicas, que se estabelecem como estratégias de referenciação: a construção/ativação de objetos de discurso, por meio da qual um “objeto” textual até então não mencionado é introduzido no texto, ficando tal objeto saliente na construção textual; a reconstrução/reativação de objetos de discurso, pela qual um nódulo já presente na memória discursiva é reintroduzido na memória operacional, permanecendo o objeto de discurso em foco no texto; a desfocalização/desativação de objetos de discurso, em que um novo objeto de discurso é introduzido, passando a ocupar posição focal, podendo, contudo, o objeto retirado de foco voltar à posição focal a qualquer momento da construção textual.
Tendo em vista o segundo propósito deste artigo, que é discutir a metodologia de nomeação tópica, mostrando como os referentes que são tópicos são identificados no texto, apresentamos, na continuação desta seção, algumas formas de ativação de objetos de discurso, o que vai subsidiar a discussão de dados pertinente a esse segundo objetivo do trabalho (por esse motivo, as demais estratégias de referenciação não são aqui focalizadas).
A esse respeito, de acordo com Silva e Cortez (2020), o modo mais clássico de introdução referencial é mediante o emprego de uma expressão referencial, entendida, segundo Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), como uma estrutura linguística utilizada na superfície do texto para representar formalmente um referente, a qual, em geral, é de natureza substantiva, sendo formada por um substantivo ou por um nome em função substantiva. No exemplo em (7), extraído de Cavalcante (2003), os sintagmas “um homem”, “na mesa” e “uma mulher” funcionam como expressões referenciais, ativando, segundo a autora, referentes sem nenhum tipo de associação com elementos do contexto discursivo ou da situação imediata de comunicação.
(7)Se um homem bate na mesa e grita, está impondo controle. Se uma mulher faz o mesmo, está perdendo o controle. [Piadas da Internet].
(Cavalcante, 2003, p. 106).
Além de o referente poder ser representado formalmente por uma expressão referencial, sendo introduzido sem associação com o contexto discursivo ou com a situação de comunicação, ele também pode emergir e ser ativado a partir de um processo de referenciação implícita, com base em uma relação indireta com o cotexto, construída inferencialmente, como Koch (2018) aponta ser o caso das anáforas indiretas.
Segundo Marcuschi (2022), as anáforas indiretas geralmente são constituídas por expressões nominais definidas, indefinidas e pronomes que são interpretados referencialmente sem nenhum tipo de antecedente (ou subsequente) explícito no texto. Ainda para o autor, esse fenômeno constitui-se como uma estratégia endofórica de ativação de referentes novos, motivada ou ancorada, portanto, no universo textual, e não de reativação de referentes já conhecidos, o que reafirma sua operação como um processo de referenciação implícita e demonstra seu funcionamento na continuação da relação referencial global. O exemplo em (8) ilustra uma ocorrência de referenciação implícita por anáfora indireta, ativando o pronome “eles” como um novo referente, com base no elemento prévio “pescando”.
(8)Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles simplesmente não mordem a isca.
(Marcuschi, 2022, p. 67).
Nesse âmbito de construção implícita de referentes, é possível também que a atividade referencial ocorra sem que haja um sintagma nominal que represente explicitamente o objeto de discurso instaurado, como ocorre no caso em (9), analisado por Cavalcante (2011).
(9)– Antes de começarmos, por favor, me diga uma coisa, o que o senhor fazia no emprego anterior?
– Eu era funcionário público!
– OK! O senhor pode contar até dez?
– É claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei e ás. [50 piadas, de Donald Buchweitz.]
(Cavalcante, 2011, p. 120).
Conforme Cavalcante (2011), em (9), há objetos de discurso que são construídos sem nenhuma menção explícita a eles, como o objeto “entrevista de emprego”. Nesse caso, são outros elementos que denunciam a instauração do referente, tais como a fórmula de início da entrevista – “antes de começarmos” –, a alusão a um emprego anterior, a dêixis social “o senhor”, indicando a forma de tratamento respeitosa e também formal. Esses indícios somam-se ao conhecimento comum do que constitui o ritual comunicativo de entrevista de emprego, favorecendo a instauração do objeto de discurso identificado.
Um outro tipo de ativação de objetos de discurso é por meio do processo de nominalização, o qual, de acordo com Koch (2018), é realizado, assim como as anáforas indiretas, a partir de uma relação com elementos do cotexto. Consiste em referir, por intermédio de um sintagma nominal, um processo ou estado significado por uma proposição que, anteriormente, não tinha o estatuto de entidade. Assim, a introdução desse novo referente encapsula e rotula a informação presente no cotexto precedente ou subsequente, saindo do nível da sentença para o do sintagma nominal (Koch, 2008). O excerto em (10) demonstra um caso em que a nominalização é prospectiva, sumarizando e rotulando toda uma informação subsequente.
(10)Depois de longas horas de debate, os congressistas conseguiram chegar a uma decisão: adiar, por algum tempo, a reforma, até que se conseguisse algum consenso quanto aos aspectos mais relevantes.
(Koch, 2018, p. 72).
Tratando da nominalização sob a ótica funcionalista, Dik (1997b) compreende-a como um tipo de construção encaixada que tem uma ou mais propriedades em comum com um termo nominal primário. A partir de (11a) e (11b), recortados de Camacho (2011), mostramos um caso de nominalização, salientando que esse processo ocorre por meio de ajustes formais e semânticos da predicação verbal encaixada ao termo nominal.9
(11a)O presidente demitiu o ministro tardiamente.
(Camacho, 2011, p. 128, destaque próprio).
(11b)A demissão tardia do ministro pelo presidente.
(Camacho, 2011, p. 128, destaque próprio).
De acordo com Camacho (2011), ocorrem em (11a) e (11b) os seguintes ajustes formais e semânticos, muito comuns no processo de nominalização:
(i)o operador de predicado em (11a) (tempo pretérito) passa a zero em (11b), que recebe o acréscimo de um operador de termo, o determinante “a”;
(ii)o predicado verbal de (11a), com a representação subjacente demitir (verbo) – presidente (agente) – ministro (meta), passa a predicado nominal em (11b), com a representação subjacente demissão (nome) – presidente (agente) – ministro (meta);
(iii)o segundo argumento de (11a) assume a forma de um sintagma de possuidor em (11b);
(iv)o advérbio de tempo “tardiamente” assume a forma de um adjetivo atributivo.
Para a discussão que nos propomos a fazer neste trabalho, importa ressaltar que, apesar dos ajustes formais e semânticos do predicado verbal à nominalização, a nominalização preserva, por herança, traços sintático-semânticos do termo verbal, a exemplo da categoria semântica representada por (11a), estado-de-coisas,10 que é a mesma designada por (11b),11 o que é uma evidência de que a transformação de uma predicação em uma expressão referencial, por meio de uma nominalização – transformação que permite reconhecer um referente –, pode representar o conteúdo semântico fundamental dessa predicação,12 sendo, pois, um procedimento eficaz para dar nomes aos tópicos discursivos, como discutiremos na seção seguinte.
Contribuições metodológicas para a análise tópica
Conforme estabelecido na seção de introdução, neste artigo procuramos oferecer contribuições de cunho metodológico para a análise textual praticada na GTI, uma modalidade de análise baseada na categoria do tópico discursivo. Para tanto, discutiremos duas questões específicas, que são: (i) a presença, em certos textos, de um tópico metadiscursivo centrado na definição entre os interlocutores do tópico discursivo a ser instaurado no texto; (ii) a metodologia de nomeação dos referentes que são tópicos discursivos, a qual envolve, conforme mostraremos, três procedimentos básicos.
Também como dissemos na introdução, em nossas discussões, serão analisados dados extraídos de descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião provenientes da Amostra Censo do Banco de Dados IBORUNA (Gonçalves, 2007),13 que reúne amostras linguísticas da variedade do português brasileiro falado na região noroeste do estado de São Paulo, coletadas entre os anos de 2004 e 2007. No IBORUNA, descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião são textos de caráter predominantemente monológico, mas há alguns momentos de interação explícita entre documentador e informante, o que evidencia o processamento textual-interativo desses textos, como se poderá notar durante nossa discussão de dados. Do Banco de Dados, selecionamos, então, 10 descrições, 10 narrativas de experiência e 10 relatos de opinião,14 escolhidos de modo a recobrir a diversidade de tipos de informante representada no IBORUNA,15 e decidimos pelo exame de descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião porque esses textos podem ser considerados representativos de gêneros textuais predominantemente descritivos, narrativos e argumentativos, respectivamente, o que nos habilita a fazer reflexões a partir da investigação de textos de uma tipologia variada.
Essa diversidade tipológica contempla parte considerável dos tipos textuais tradicionalmente reconhecidos (narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo – cf. Koch e Fávero, 1987) e, assim, pode demonstrar diferentes formas de manifestação no texto do referente com estatuto tópico, subsidiando, de modo mais completo, nossa tarefa de identificar um rol de procedimentos de nomeação de tópicos e cooperando, dessa forma, para que essa lista seja capaz de dar conta de situações diversificadas de construção textual.
Com relação à nossa metodologia de análise, utilizamos o método de análise tópica (Jubran, 2006b, 2015c), o qual, com base nas propriedades particularizadoras do tópico discursivo – centração e organicidade –, explicadas anteriormente, possibilita a identificação dos tópicos discursivos de um determinado texto. Assim, a propriedade da centração, caracterizada pelos traços de concernência, relevância e pontualização, dá suporte ao analista para identificar os SegTs de um texto e os seus tópicos discursivos. Já a propriedade tópica da organicidade orienta a verificação das relações de interdependência entre os tópicos discursivos de um determinado texto. Os exemplos apresentados em (1) e (2) já permitem vislumbrar como aplicamos o método de análise tópica em nosso estudo.
Feitas essas breves explanações acerca de nossos procedimentos analíticos, discutimos, a partir da descrição em (12), o reconhecimento de tópicos metadiscursivos.
Como vemos em (12), as linhas 1-4 constituem um trecho autorreflexivo. Nesse segmento, a centração particular volta-se justamente para a definição, entre documentador e informante, do tópico discursivo central a ser instaurado no texto, o tópico “Casa da informante”, o que é uma evidência de que, nesse ponto da descrição, o discurso se desdobra sobre si mesmo, sendo referência de si próprio, fato que sinaliza a autorreflexividade, propriedade fundamental do metadiscurso, como aponta Risso (1999). Em outras palavras, o trecho em 1-4 é um SegT metadiscursivo não só porque indica o tópico discursivo central a ser abordado, o que é explicitamente anunciado em “eu vô(u) falá(r) da minha casa” (L. 4), mas também porque, ao indicar o tópico central, fornece pistas sobre a estrutura tópica do texto e, assim, sobre a própria construção textual, considerando que a organização do texto em tópicos é vista na GTI, conforme afirmamos, como um processo básico de construção textual.16
O estatuto metadiscursivo do SegT nas linhas 1-4 pode ser atestado também pela relevância que, nesse fragmento, assumem as expressões “descrevesse” (L. 1), “descrevê(r)” (L. 3) e “falá(r) (L. 4), as quais podem ser entendidas, a partir de Risso (1999), como sinalizadoras do metadiscurso, por referenciarem o ato verbal. Além disso, nesse primeiro SegT da descrição, o tópico central “Casa da informante” ainda não é propriamente desenvolvido, o que começa a ser feito, com enfoque, na linha 5, momento em que a informante passa a construir centração sobre o piso inferior da casa (L. 5-10) e, na sequência, quando ela se centra no piso superior da residência (L. 11-15). O fato de o SegT nas linhas 1-4 não enfocar o desenvolvimento do tópico que perpassa todo o texto pode evidenciar o caráter metadiscursivo desse SegT, haja vista que, como se pode depreender a partir de Risso (1999) e Jubran (2022), no metadiscurso os referentes não atuam diretamente na construção tópica.
Acerca dessa não participação direta do tópico metadiscursivo na construção tópica, recorde-se que Risso (1999), como tratado na seção sobre o metadiscurso na construção tópica, destaca que a metadiscursividade é um dos diferentes procedimentos verbais que sinalizam a instância da enunciação na estrutura textual, sendo um importante fator de ancoragem pragmática do conteúdo informacional. Nessa mesma direção, Jubran (2022) salienta que expressões metadiscursivas como a anáfora “a afirmação”, em (6), deixam em segundo plano sua funcionalidade no fluxo informacional do texto, deslocando o foco para o plano da enunciação. Portanto, como o princípio de gradiência da GTI prevê que sempre um procedimento de construção textual opera simultaneamente na organização informacional do texto e na atividade enunciativa, podendo, muitas vezes, um desses planos ser dominante, entendemos que o tópico metadiscursivo em (12) pode ser visto como um tópico em que decresce a função textual e aumenta a função interacional.17 É com base nesse aumento da função interativa no tópico metadiscursivo que interpretamos, pois, que tópicos dessa natureza não atuam de forma direta (embora não deixem de atuar) na construção tópica, interpretação que reforça o caráter intrinsecamente textual-interativo da construção textual, como postula a GTI.
Em (12), essa presença um tanto potencializada da instância interativa na formulação textual ainda pode ser constatada pela observação da definição conjunta, entre documentador e informante, do referente que assumirá estatuto de tópico discursivo. Como notamos, a fala do documentador, nas linhas 1-3, sugere à informante o tópico a ser desenvolvido na descrição, por meio da ativação do referente “algum lugar em que a informante já foi”, especificado logo em seguida pelo próprio entrevistador com o emprego de “sua casa”. Atendendo a essa sugestão, a falante anuncia, na linha 4, que, de fato, focalizará sua casa, como lemos em “bom... eu vô(u) falá(r) da minha casa”. Essa definição colaborativa do tópico central abordado é tão marcada textualmente que, depois desse SegT inicial, em que o documentador direciona o tópico e a informante o aceita, esta desenvolve seu texto e, para finalizá-lo, formula um enunciado que praticamente repete a passagem da linha 4, como vemos em “bom eu falei um po(u)co da minha casa” (L. 15), explicitamente interagindo com a proposta do documentador sobre a descrição focalizar a casa da informante.
O SegT nas linhas 1-4, em (13), é mais um caso que concretiza um tópico metadiscursivo, dessa vez em uma narrativa de experiência.
É admissível dizer que, em (13), o tópico materializado nas linhas 1-4 é metadiscursivo porque, nesse SegT, temos um conjunto centrado de enunciados que define e indica, num processo interativo entre documentador e informante, um tópico, hierarquicamente abrangente, a ser abordado na narrativa de experiência. Logo, nesse SegT, há um foco na atividade de construção textual, desdobrando-se o discurso sobre si próprio (autorreflexibilidade), mesmo não exibindo, nesse caso, marcas explícitas de metadiscurso na superfície textual, as quais podem, como lembra Risso (1999), sofrer elipse e ser preenchidas pela recuperação dos termos declarativos omitidos. É o que se nota na fala do documentador “C. tem algum fa::to que aconteceu [...] que você tenha vivenciado?” (L. 1-3), que pode ser interpretada como “C. eu gostaria de perguntar se tem algum fa::to que aconteceu [...] que você tenha vivenciado”.
Também entendemos que tal tópico é metadiscursivo porque, assim como ocorre em (12), o tópico que perpassa todo o fragmento em (13), nesse caso o tópico “Separação dos pais”, ainda não é diretamente desenvolvido nas linhas 1-4, sendo focalizada a sua definição, de maneira que esse desenvolvimento se efetiva a partir da linha 5, o que corrobora as considerações de Risso (1999) e Jubran (2022) de que o metadiscurso não funciona diretamente na elaboração tópica.
Uma vez assumida a não atuação direta do tópico “Definição do tema ‘separação dos pais’” na construção tópica, podemos, orientados pelo princípio de gradiência, considerar que há crescimento da função interacional nesse tópico, diminuindo sua atuação no plano da organização informacional do texto. Dessa maneira, é construído na narrativa de experiência um ponto em que a função interacional é intensificada, fato que, aliás, pode ser constatado pela verificação da interação explícita entre documentador e informante, os quais definem, conjuntamente, o tópico a ser abordado.
A nosso ver, para aprimoramento do instrumental metodológico da GTI, é, de fato, relevante o reconhecimento, aqui proposto, de que a construção de textos envolve, por vezes, a instauração de tópicos metadiscursivos, particularmente de tópicos centrados na própria elaboração tópica do texto. Primeiramente, trata-se de constatação que ainda não havia sido atestada e discutida no conjunto de trabalhos realizados pela abordagem até o momento. Além disso, a constatação parece-nos significativa, sobretudo, porque propicia à GTI um empreendimento analítico mais completo e preciso.
Numa análise textual/tópica, quando não se considera a possibilidade de a construção textual envolver tais tópicos metadiscursivos, tende-se a incorrer em uma de duas limitações descritivas, que, aliás, podem ser observadas em trabalhos já executados na GTI, a exemplo de Penhavel (2010, 2020): ou a análise não inclui a descrição de fragmentos como aqueles nas linhas 1-4 em (12) e (13) acima, ou fragmentos como esses são tomados como partes dos SegTs textualmente adjacentes. A primeira opção significa certa incompletude descritiva, já que a estrutura tópica de um texto recobre o texto inteiro, da primeira à última palavra, formando uma rede de relações, uma unidade, na qual todos os enunciados estão interligados estruturalmente entre si, compondo o todo do texto – desse modo, na análise de um texto, não se completa uma descrição que deixe de recobrir o texto inteiro. A segunda alternativa, por sua vez, não chega a reconhecer que fragmentos como aqueles em questão, como procuramos demonstrar, instauram, em si mesmos, uma centração própria, distinta da centração de fragmentos adjacentes, o que lhes confere o caráter de SegT autônomo, e não propriamente o caráter de parte de outro SegT. Daí a relevância da consideração dos referidos tópicos metadiscursivos na análise textual/tópica.
Igualmente decisiva para esse tipo de análise é a metodologia de nomeação dos referentes que assumem estatuto de tópico no texto (alvo do segundo objetivo deste trabalho). A importância da questão reside não só no fato de, novamente, tratar-se de matéria ainda não sistematizada na GTI, mas também na centralidade que essa identificação de tópicos ostenta no estudo textual de orientação tópica. Por exemplo, como se pode ver em Penhavel (2010, 2020), em diversos gêneros textuais a estruturação interna de SegTs mínimos (e, por extensão, de textos inteiros desses gêneros) funda-se na combinação de unidades (grupos de enunciados) que se diferenciam entre si por expressarem, de formas diferentes, o tópico do SegT. Ou seja, a identificação/nomeação dos tópicos é fundamental para a depreensão de toda a estruturação dos textos desses gêneros. Nesse mesmo sentido, a partir da identificação dos tópicos na análise textual, é possível observar as relações entre os tópicos discursivos de um texto todo, como aquelas ilustradas na Figura 1. O reconhecimento dos diferentes referentes que são tópicos, incluindo o referente que é tópico central do texto, permite verificar toda a relação de interdependência tópica porque possibilita a apuração, por exemplo, da forma como ocorre a ligação entre o tópico central e cada um dos tópicos hierarquicamente subordinados a ele, o que torna evidente, mais uma vez, a centralidade da identificação/nomeação dos tópicos na análise de toda a organização do texto no âmbito do estudo textual de orientação tópica.
A esse respeito, de acordo com nossa proposta, são três os procedimentos básicos que podem ser adotados no reconhecimento dos objetos de discurso que, no decorrer de um texto, assumem estatuto de tópico: (i) a identificação de uma expressão referencial que explicita, na materialidade do SegT, o referente com estatuto tópico; (ii) a nominalização; (iii) a inferência de um referente que é tópico, mas que não está explícito no SegT.
O exemplo em (14) ilustra um SegT em que a identificação e a nomeação do referente que é tópico podem ser realizadas a partir do procedimento (i).
O SegT em (14) integra uma descrição em que a informante descreve diferentes lugares de sua cidade, como o postinho de saúde do município, tópico acerca do qual se centra a interação no SegT em questão. Podemos observar, no interior desse SegT, a ativação e a manutenção explícitas do objeto de discurso “postinho de saúde”, por meio, por exemplo, das expressões referenciais “o Posto de Saúde” e “um postinho”, destacadas em negrito nas linhas 2, 3 e 4. É dessa forma que o exemplo em (14) demonstra o procedimento (i) de reconhecimento do referente que é tópico, visto que o objeto de discurso em torno do qual se centra o processo textual-interativo é representado formalmente no SegT, sendo explicitado por expressões referenciais que o denominam.
Em (15), a identificação do referente que é tópico também pode ser obtida pela observação da ativação explícita desse objeto de discurso no SegT.
O SegT em (15) foi recortado de uma descrição em que o informante descreve suas duas propriedades rurais, centrando-se, nesse SegT, nas mudanças que fez em uma dessas propriedades desde quando assumiu seu comando. Como é possível perceber, até a linha 7 o referente “mudanças”, núcleo do sintagma que nomeia o tópico, não é formalmente introduzido no texto por meio de uma expressão referencial, o que só ocorre na linha 8, sendo reativado na linha 9, conforme indicamos com os destaques em negrito no exemplo. Assim, nesse SegT, temos, de fato, um referente com estatuto tópico que aparece explícito no texto. No entanto, esse é um caso peculiar em relação àquele em (14). No exemplo em (15), a expressão “mudanças”, que formaliza tal referente, opera como uma anáfora encapsuladora, resumindo uma série de enunciados também constituintes do tópico os quais, contudo, não tinham sido apresentados como entidades, como o enunciado “eu a transformei... num:: num num... num plantio de laranja manga café” (L. 4).
O SegT em (16) permite discutir o segundo procedimento de identificação de referente que atua como tópico, o recurso da nominalização.
No SegT em (16), a centração recai sobre o registro paterno do filho pelos pais às escondidas da família da informante, que foi mãe na adolescência. Notamos que há duas passagens muito semelhantes que indicam diretamente o tópico discursivo – a primeira nas linhas 1-2 e a segunda, na linha 6, ambas destacadas em negrito. Esses enunciados, a princípio, poderiam ser usados para nomear o tópico discursivo, fazendo com que a nomeação do tópico retratasse de forma direta o próprio texto produzido pelo falante. Outra alternativa, porém, para nomear o tópico é a conversão das predicações expressas nessas passagens em um nome, por meio de uma nominalização, a partir dos tipos de ajustes formais e semânticos demonstrados com os exemplos em (11a) e (11b), o que resultaria em um nome como “registro paterno do filho pelos pais às escondidas da família da mãe” e transformaria essas predicações em referentes (expressões referenciais), partindo de uma relação com o cotexto.
Esses dois caminhos para nomear o tópico discursivo poderiam expressar o tema desse SegT. No entanto, sendo um trabalho do analista, a nomeação dos tópicos pode não empregar exatamente as próprias palavras do falante e mesmo assim representar o conteúdo semântico básico do SegT. Assumindo esse princípio, cabe admitir que nomear um tópico utilizando um sintagma nominal, conforme tem sido feito na GTI (Jubran et al., 2002; Jubran, 2006b, 2015c), configura uma forma mais técnica de representar o conteúdo do que o falante diz. Além de permitir padronizar a maneira de dar nome aos tópicos, a nomeação por sintagma nominal apresenta a vantagem teórico-metodológica de captar e evidenciar o estatuto de referente do tópico, como temos defendido (Garcia, 2022).
Caso o tópico de (16) fosse nomeado como O pai registrou o filho escondido da família da mãe, esse tópico discursivo representaria uma categoria semântica, a dos estados-de-coisas, e, sendo nomeado como Registro paterno do filho pelos pais às escondidas da família da mãe, representa essa mesma classe semântica. Portanto, do ponto de vista semântico, há correspondência entre as sentenças proferidas pela falante, como aquelas nas linhas 1-2 e 6, e o nome – na forma de sintagma nominal – que atribuímos ao tópico discursivo, uma comprovação de que o método de nomeação dos tópicos por meio de um sintagma nominal, resultado de uma nominalização, pode, com efeito, representar o conteúdo semântico básico do SegT, sendo um procedimento eficaz para dar nomes aos tópicos discursivos.
O emprego de nominalização para identificação de referente que é tópico pode ser ilustrado também a partir do SegT em (17).
Em (17), extraído de um relato de opinião em que o informante trata de política, a centração é voltada para a decepção que o informante afirma ter tido com Lula. A identificação desse referente com estatuto tópico se dá, em primeiro lugar, a partir da constatação de um enunciado na linha 6 que indica, mais diretamente, o tópico discursivo do SegT, e, em segundo lugar, a partir da conversão do conteúdo desse enunciado em uma entidade, considerando ajustes formais e semânticos envolvidos na transformação de predicação verbal a termo nominal, conforme discute Camacho (2011). É, então, porque referimos, pelo sintagma nominal nucleado por “decepção”, a experiência do informante codificada no trecho em negrito, a qual não tinha o estatuto de referente, que dizemos que a identificação do referente que é tópico se dá por nominalização.
O caso em (18), por sua vez, permite discutir como os objetos de discurso que são tópicos em um texto podem ser reconhecidos por uma inferência do analista.
O exemplo em (18) foi extraído de uma narrativa de experiência em que o informante narra a história da sua candidatura a prefeito na cidade de Ipiguá, focalizando, no SegT em questão, os compromissos que ele e o seu candidato a vice tinham durante o período de campanha. Ao longo da leitura do exemplo, verificamos que o referente com estatuto tópico não aparece explicitamente no interior do SegT por meio de uma expressão referencial, como em (14) e (15), tampouco pode ser apreendido pelo recurso da nominalização, como em (16) e (17). Porém, há outros elementos que indiciam o objeto de discurso acerca do qual se constrói centração, como a concernência, especialmente entre os trechos em negrito em (18). Passagens como “foram seis meses acompanhando amigos”, “visitando aqui visitando ali”, “montá(r)... duas horas por dia do teu rote(i)ro”, “marcá(r)... os comícios” não contêm referências textualmente explícitas a um mesmo objeto de discurso. Todavia, podem ser reconhecidas como concernentes entre si, já que todas podem ser interpretadas como formas particulares de “compromissos de campanha”, ideia que, mesmo implícita, vai conferindo unidade tópica ao SegT. Dessa forma, mesmo que não tenha havido menção explícita ao referente que é tópico, o analista pode inferi-lo, observando traços da propriedade tópica da centração, como a concernência – e assumindo, inclusive, que a emergência desse referente-tópico ocorre também no próprio processamento do texto pelos interlocutores, mediante um processo de referenciação implícita (ver seção anterior), já que os interlocutores precisam depreender um tópico comum ao SegT inteiro, mesmo não estando esse tópico expresso na materialidade textual.
O SegT em (19) igualmente ilustra a identificação, por inferência, de referente que é tópico.
Em (19), recortado de um relato de opinião em que o informante aborda o consumo de drogas, é instaurada centração sobre as reações de quem usa drogas, tópico do SegT. Semelhantemente ao que ocorre em (18), no exemplo em análise, o referente que também é tópico não está representado formalmente por uma expressão nominal no texto, além de não haver um enunciado que o indica mais diretamente e que poderia passar por um processo de nominalização. Assim, são outros elementos que vão se constituindo como pistas sobre o referente em torno do qual se constrói centração, como a interdependência semântica entre as passagens em negrito, que colaboram para circunscrever o objeto de discurso “reações de quem usa drogas”, o qual pode ser tomado como tópico do SegT, por uma atividade referencial implícita dos interlocutores e, no mesmo sentido, por uma inferência do analista.
Conclusões
Inserindo-nos em um contexto de estabelecimento de procedimentos metodológicos para a análise textual baseada na categoria do tópico discursivo, trouxemos para o centro da discussão duas questões envolvidas na metodologia de análise textual/tópica. A primeira delas diz respeito à elaboração de tópicos metadiscursivos na construção de textos, e a segunda compreende a metodologia de identificação de referentes com estatuto de tópico, envolvendo três procedimentos basilares.
Conforme procuramos frisar, o reconhecimento de tópicos metadiscursivos, particularmente voltados para a definição entre os interlocutores e para a indicação de um tópico abordado no texto, é uma marca do caráter textual-interativo do processamento textual defendido na GTI, considerando que os fatores interacionais são inerentes à expressão linguística e que os elementos textuais sempre correlacionam as funções textual e interativa, segundo uma gradiência de funções.
No que toca aos três procedimentos de identificação de referentes que são tópicos, lembramos que Jubran (2006b, 2015c), ao definir a propriedade tópica da centração, esclarece que o conjunto integrado de objetos de discurso que constitui a concernência pode ser composto por referentes explícitos ou inferíveis, alvos da interação. Em linha com essa visão, segundo a metodologia aqui proposta, um referente que, num texto, funciona como tópico pode estar representado explicitamente na superfície textual, pode ser capturado por nominalização ou ainda pode ser depreendido por inferência. Ainda sobre essa segunda questão discutida no trabalho, cabe salientar nosso entendimento de que sistematizar métodos de identificação de referentes que adquirem centração tópica vem corroborar uma propriedade fundamental do tópico, que temos defendido na GTI (Garcia, 2022), o seu estatuto de referente – os três procedimentos propostos são compatíveis com a depreensão de tópicos que se configuram justamente como referentes.
Enfim, sem deixar de reconhecer os limites deste trabalho, que são naturais em virtude do recorte exigido a toda pesquisa científica, importa ressaltar nossa proposta de contribuir para o desenvolvimento do aparato metodológico da GTI, uma teoria brasileira de análise textual. Juntamo-nos, assim, a outros trabalhos que também atuam na definição de procedimentos metodológicos no interior da teoria, como aqueles que demonstram a necessidade de se operar com SegTs na descrição textual-interativa, a exemplo dos estudos de Jubran (2015c) sobre o processo de parentetização e de Risso, Silva e Urbano (2015) sobre MDs.
Agradecimentos
A tradução deste artigo do português para o inglês foi financiada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), via recursos do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – (2023, auxílio n. 021/2021). Ao PPGEL/UNESP e ao PROEX/CAPES, agradecemos o financiamento.
REFERÊNCIAS
- BERNÁRDEZ, E. Introducción a la Lingüística del Texto Madrid: Espasa-Calpe, 1982.
- BROWN, G.; YULE, G. Discourse analysis Avon: Cambridge University Press, 1983.
-
CAMACHO, R. G. Um enfoque funcional da nominalização. In: CAMACHO, R. G. Classes de palavras na perspectiva da Gramática Discursivo-Funcional: o papel da nominalização no continuum categorial. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p. 121-157. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/113670 Acesso em: 24 jun. 2022.
» https://repositorio.unesp.br/handle/11449/113670 - CASTILHO, A. T. O português culto falado no Brasil - história do Projeto Nurc no Brasil. In: PRETI, D.; URBANO, H. (org.). A linguagem falada culta na cidade de São Paulo. v. IV, Estudos. São Paulo: T.A. Queiroz/Fapesp, 1990. p. 141-197.
-
CAVALCANTE, M. M. Expressões referenciais - uma proposta classificatória. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, v. 44, p. 105-118, 2003. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637068 Acesso em: 13 jul. 2023.
» https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637068 - CAVALCANTE, M. M. Referenciação - sobre coisas ditas e não ditas. Fortaleza: Edições UFC, 2011.
- CAVALCANTE, M. M.; CUSTÓDIO FILHO, V.; BRITO, M. A. P. Coerência, referenciação e ensino. São Paulo: Cortez, 2014.
- DIK, S. C. The Theory of Functional Grammar: The Structure of the Clause. 2. ed. rev. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997a. (Part I: The Structure of the Clause).
- DIK, S. The Theory of Functional Grammar. Edited by Kees Hengeveld. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997b. (Part II: Complex and Derived Constructions).
-
GARCIA, A. G. Uma abordagem textual-interativa da relação entre organização tópica e referenciação em descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião. 2022. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2022. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/items/3f751cfa-115d-4f52-9b51-3093307f601a Acesso em: 20 dez. 2023.
» https://repositorio.unesp.br/items/3f751cfa-115d-4f52-9b51-3093307f601a -
GONÇALVES, S. C. L. Banco de dados Iboruna: amostras eletrônicas do português falado no interior paulista. 2007. Disponível em: http://www.alip.ibilce.unesp.br/ Acesso em: 23 fev. 2020.
» http://www.alip.ibilce.unesp.br/ - JUBRAN, C. C. A. S. Especificidades da referenciação metadiscursiva. In: KOCH, I. G. V.; MORARO, E. M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2022. p. 219-241.
- JUBRAN, C. C. A. S. Funções textuais-interativas dos parênteses. In: NEVES, M. H. M. (org.). Gramática do Português Falado. 2. ed. São Paulo: Humanitas; Campinas: Editora da Unicamp, 1999. p. 131-158. v. 7. Novos estudos.
- JUBRAN, C. C. A. S. Introdução. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015a. p. 27-36.
- JUBRAN, C. C. A. S. Parentetização. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015b. p. 279-331.
-
JUBRAN, C. C. A. S. Revisitando a noção de tópico discursivo. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, v. 48, n. 1, p. 33-41, 2006a. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637253 Acesso em: 20 jan. 2021.
» https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637253 - JUBRAN, C. C. A. S. Tópico Discursivo. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015c. p. 85-126.
- JUBRAN, C. C. A. S. Tópico Discursivo. In: JUBRAN, C. C. A. S. J.; KOCH, I. G. V. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: construção do texto falado. Campinas: Editora da Unicamp, 2006b. p. 89-132.
- JUBRAN, C. C. A. S. Uma gramática textual de orientação interacional. In: CASTILHO, A. T.; MORAIS, M. A. T.; LOPES, R. V.; CYRINO, S. M. L. (org.). Descrição, história e aquisição do português brasileiro São Paulo: FAPESP; Campinas: Pontes Editores, 2007. p. 313-327.
- JUBRAN, C. C. A. S.; RISSO, M.; URBANO, H.; FÁVERO, L.; KOCH, I. G. V.; MARCUSCHI, L. A.; TRAVAGLIA, L. C.; SOUZA E SILVA, M. C. P.; ANDRADE, M. V.; AQUINO, Z.; SANTOS, M. C. Organização tópica da conversação. In: ILARI, R. (org.) Gramática do português falado: níveis de análise linguística. 4. ed. rev. Campinas: Editora da UNICAMP, 2002. p. 341-428.
- KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto 8. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
- KOCH, I. G. V. Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2018.
- KOCH, I. G. V.; FÁVERO, L. L. Contribuição a uma tipologia textual. Letras & Letras, Uberlândia, v. 3, p. 3-10, 1987.
-
KOCH. I. G. V. A referenciação como construção sociocognitiva: o caso dos rótulos. Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, p. 201-213, 2008. Disponível em: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2486 Acesso em: 17 jul. 2023.
» http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2486 - LYONS, J. Semantics. Great Britain: Cambridge University Press, 1977a. 2 v.
- LYONS, J. Semantics. New York: Cambridge University Press, 1977b. 1 v.
- MARCUSCHI. L. A. Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras. In: KOCH, I. G. V.; MORARO, E. M.; BENTES, A. C. (org.). Referenciação e discurso. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2022. p. 53-101.
-
MONDADA, L. Gestion du topic et organisation de la conversation. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, v. 41, p. 7-35, 2001. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8636999 Acesso em: 1 out. 2021.
» https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8636999 - MONDADA, L.; DUBOIS, D. Construção dos objetos de discurso e categorização: uma abordagem dos processos de referenciação. In: CAVALCANTE, M. M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (org.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. p. 17-52.
-
OLIVEIRA, G. A. Estudo do processo de estruturação interna de segmentos tópicos mínimos em cartas de leitores de jornais paulistas do século XXI. 2016. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) - Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2016. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144361 Acesso em: 24 jun. 2022.
» https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144361 -
PENHAVEL, E. Marcadores discursivos e articulação tópica. 2010. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_ ece1c0c40655 b1d18d29fc578a922483 Acesso em: 20 jan. 2021.
» https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CAMP_ ece1c0c40655 b1d18d29fc578a922483 -
PENHAVEL, E. O processo de organização intratópica em narrativas de experiência. Diálogo e Interação, Cornélio Procópio, v. 14, n. 1, p. 119-145, 2020. Disponível em: https://www.faccrei.edu.br/revista/index.php/revista-dialogo-e-interacao/article/view/77 xcesso em: 20 jan. 2021.
» https://www.faccrei.edu.br/revista/index.php/revista-dialogo-e-interacao/article/view/77 - PINHEIRO, C. L. Estratégias textuais-interativas: a articulação tópica. Maceió: EDUFAL, 2005.
- RISSO, M. S. A propriedade auto-reflexiva do metadiscurso. In: BARROS, K. S. M. (org.). Produção textual: interação, processamento, variação. Natal: EDUFRN, 1999. p. 203-214.
- RISSO, M. S. Marcadores discursivos basicamente sequenciadores. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015. p. 391-452.
-
RISSO, M. S.; JUBRAN, C. C. A. S. O discurso auto-reflexivo: processamento metadiscursivo do texto. DELTA, São Paulo, v. 14, n. especial, p, 227-242, 1998. Disponível em: https://www.scielo.br/j/delta/a/JkS8tmgL9s66YBxfGyBJwXh/abstract/? lang=pt Acesso em: 28 jul. 2023.
» https://www.scielo.br/j/delta/a/JkS8tmgL9s66YBxfGyBJwXh/abstract/? lang=pt - RISSO, M. S.; SILVA, G. M. O.; URBANO, H. Traços definidores dos marcadores discursivos. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015. p. 371-390.
-
SILVA, J. P. M.; CORTEZ, S. L. A (re)construção dos referentes em memes verbo-visuais. (Con)Textos Linguísticos, Vitória, v. 14, n. 29, p. 386-405, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos/article/view/32149 Acesso em: 19 jul. 2023.
» https://periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos/article/view/32149 -
SOUZA, A. D. Estudo da organização intratópica e das relações retóricas em minissagas. 2020. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2020. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/194468/souza_ad_dr_sjrp.pdf?sequeseq=3 Acesso em: 1 dez. 2021.
» https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/194468/souza_ad_dr_sjrp.pdf?sequeseq=3 - URBANO, H. Marcadores discursivos basicamente interacionais. In: JUBRAN, C. C. A. S. (org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2015. p. 453-481.
- VAN DIJK, T. A. Texto y contexto: Semántica y pragmática del discurso. Madrid: Cátedra, 1980.
-
1
O presente artigo expande discussões realizadas inicialmente no âmbito da pesquisa intitulada “Uma abordagem textual-interativa da relação entre organização tópica e referenciação em descrições, narrativas de experiência e relatos de opinião” (Garcia, 2022).
-
2
Como temos dito, na GTI, é perfeitamente condizente afirmar que o tópico discursivo se relaciona, de forma geral, a acerca de que se fala. Contudo, no interior do quadro teórico-metodológico, há critérios precisos para o recorte de unidades textuais que materializam tópicos, critérios esses que são as propriedades tópicas de centração e organicidade. Portanto, um tópico discursivo não é qualquer assunto tratado no texto, mas um assunto construído pelos interlocutores acerca de um conjunto referencial que realiza as características dessa categoria analítica.
-
3
Na Semântica, área em que o trabalho de Lyons (1977b) se insere, o referente é tido como uma entidade do mundo extralinguístico, um objeto de mundo. Já na Linguística Textual, como será apresentado mais adiante, o referente é uma entidade textual, um objeto de discurso.
-
4
Ao abordar a “referência” para Lyons (1977b), importa esclarecer a distinção feita pelo autor entre “referência” e “denotação”. Conforme Lyons (1977b) afirma, quando se fala em “referência”, deve-se compreender a relação entre uma expressão e o seu contexto de uso específico. Por outro lado, quando se fala em “denotação” de um lexema ou expressão, deve-se entender a relação entre esse lexema e as pessoas, os lugares, as propriedades e os processos que não compõem o sistema linguístico. Assim, segundo o autor, a denotação é válida independentemente das ocasiões de enunciação e pode ser compreendida como a classe de entidades a que uma expressão poderia se referir, como a expressão “vaca”, que denota uma classe particular de animais.
-
5
Original: “The term reference can […] be […] reserved for that function whereby speakers (writers) indicate, via the use of a linguistic expression, the entities they are talking (writing) about” (Brown; Yule, 1938, p. 205).
-
6
Como um método para facilitar o reconhecimento de um tópico discursivo, em nossos exemplos, destacamos em negrito trechos de cada SegT que mais diretamente indicam seu respectivo tópico.
-
7
Ao final de cada exemplo discutido, apresentaremos, entre colchetes, a indicação da fonte da qual eles foram extraídos, como recomendado pelo Banco de Dados IBORUNA, além da ordem em que o tópico discursivo aparece na linearidade do texto que compõe e da quantidade de tópicos hierarquicamente mais específicos identificada no texto. Por exemplo: [BDI-AC-019; DE: L. 60-67; 4/6] indica que o dado foi extraído do Banco de Dados IBORUNA (BDI); da entrevista 019 da Amostra Censo (AC-019); de uma descrição (DE, que pode variar com NE, para narrativa de experiência, e RO, para relato de opinião); das linhas 60 a 67 da transcrição da entrevista; e que o tópico materializado no SegT exemplificado é o quarto, na ordem linear da construção tópica, de um total de 6 tópicos discursivos daquela descrição.
-
8
A letra “L” seguida de ponto final dentro de parênteses é uma abreviação para a palavra “linha”.
-
9
Na Gramática Funcional de Dik (1997a), a predicação é vista como uma estrutura que envolve um predicado, que designa propriedades ou relações, e um conjunto de termos, que se referem a entidades, apropriados inseridos nesses predicados. Um exemplo de predicado é o verbo “escrever”, que requer dois argumentos, designando uma relação de dois lugares, sendo um ocupado por um escritor e o outro preenchido por algo escrito. Assim, esse predicado é necessariamente preenchido por dois termos, que podem ser, por exemplo, os termos “João” e “carta”.
-
10
De acordo com Lyons (1977a), estados-de-coisas dizem respeito a eventos, ações, processos, estados e posições que são localizados em algum ponto ou intervalo do tempo, são observáveis e ocorrem em algum lugar. Para o autor, “chegada”, “morte” e “manutenção” são exemplos de nomes que designam essa categoria semântica.
-
11
Com base na definição de Lyons (1977a), é plausível dizer que tanto (11a) quanto (11b) denotam um estado-de-coisas porque ambos codificam ações.
-
12
Como apresentado na seção sobre a GTI e a noção de tópico discursivo, o tópico discursivo pode ser compreendido, grosso modo, como o tema do texto, o seu conteúdo informativo semântico básico.
-
13
O seguinte endereço eletrônico dá acesso ao IBORUNA: https://alip.ibilce.unesp.br/bancos-de-dados/banco-de-dados-iboruna#.
-
14
Escolhemos o total de 10 exemplares de descrições, 10 de narrativas de experiência e 10 de relatos de opinião porque verificamos, com base em outros trabalhos que realizaram análise tópica no âmbito da GTI (Penhavel, 2010; Oliveira, 2016; Souza, 2020), que esse quantitativo já nos ofereceria material qualitativa e quantitativamente suficiente para a identificação de padrões de uso da organização tópica, ou seja, da topicalidade, o que se confirmou com o desenvolvimento das análises.
-
15
No IBORUNA, a Amostra Censo é organizada segundo perfis sociais, considerando 5 variáveis censitárias, a saber: (i) sexo/gênero (masculino/feminino); (ii) faixa etária (7 a 15 anos; 16 a 25; 26 a 35; 36 a 55; superior a 55 anos); (iii) escolaridade, conforme os anos de escolarização (até 4 anos, ou até 1º ciclo do ensino fundamental; de 5 a 8 anos, ou até o 2º ciclo do fundamental; de 9 a 11 anos, ou até o ensino médio; mais de 11 anos, ou ensino superior completo ou não); (iv) renda familiar (até 5 salários-mínimos; de 6 a 10 salários-mínimos; de 11 a 24 salários-mínimos; mais de 25 salários-mínimos); (v) origem geográfica do informante (São José do Rio Preto, Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Mirassol e Onda Verde). Como definimos que 10 descrições, 10 narrativas de experiência e 10 relatos de opinião seriam suficientes para as análises feitas em nossa pesquisa, selecionamos 2 descrições, 2 narrativas de experiência e 2 relatos de opinião de cada faixa etária, cruzando essa variável social com as demais na composição da Amostra, o que nos proporcionou exatamente 10 exemplares de cada tipo de amostra de fala investigado, dado que a variável faixa etária é justamente dividida em cinco grupos de idade.
-
16
Neste artigo, estamos classificando como tópicos metadiscursivos os tópicos em que se define um tópico discursivo hierarquicamente mais abrangente no texto, como o tópico central, exemplificado em (12). A construção desse tópico metadiscursivo, que nos indica um tópico hierarquicamente mais amplo, pode nos dar pistas importantes sobre a organização tópica do texto. Em (12), por exemplo, quando é anunciado que a informante abordará a sua casa, temos um indício de que a construção tópica poderá se centrar em diferentes partes do local, como, de fato, acontece. Em nosso entendimento, essa indicação de pistas da estruturação tópica por parte do tópico metadiscursivo pode ser uma manifestação da função interacional nesses tópicos, conforme prevê a GTI, já que tais pistas podem facilitar ao interlocutor a compreensão do texto, prenunciando a sua organização. Ainda nesta seção, discutiremos outros indícios da expressão da função interacional nos tópicos metadiscursivos.
-
17
Essa intensificação da função interacional nos tópicos metadiscursivos pode ser reafirmada quando lemos a seguinte afirmação de Jubran (1999, p. 142) sobre elementos parentéticos metadiscursivos relacionados com a construção textual: “a função textual de assinalar a estruturação do texto, que esses fragmentos metadiscursivos preenchem, tem sua contrapartida interacional: esclarecendo a organização do discurso, tais fragmentos facilitam o trabalho de formulação e apresentação do texto falado e, consequentemente, de recepção do mesmo.”
-
18
Neste exemplo, não chamamos o tópico “Separação dos pais” de tópico central porque, nessa narrativa de experiência, o tópico central é “Fatos vivenciados pela informante na família”. Diretamente subordinados a esse central, estão dois tópicos: (i) “Separação dos pais”; (ii) “Vida da informante a partir da maternidade”, este último suprimido em (13). Portanto, “Separação dos pais” é um tópico mais abrangente hierarquicamente em relação aos tópicos aqui definidos, mas não o central da narrativa de experiência.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Dez 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
23 Fev 2024 -
Aceito
10 Maio 2024
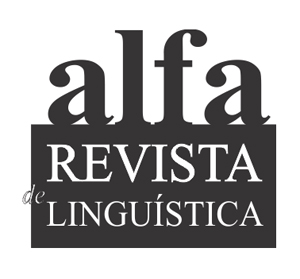
 CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS PARA A ANÁLISE TEXTUAL FUNDAMENTADA NA CATEGORIA DO TÓPICO DISCURSIVO
CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS PARA A ANÁLISE TEXTUAL FUNDAMENTADA NA CATEGORIA DO TÓPICO DISCURSIVO

 Fonte: Adaptada de Jubran (2015c, p. 90).
Fonte: Adaptada de Jubran (2015c, p. 90).